Ao observar uma família em um café de Nova York, o fotógrafo americano Eric Pickersgill teve a ideia para o incômodo ensaio que inclui os retratos acima. “Estavam distantes uns dos outros”, anotou Eric naquele momento. “Não conversavam. O pai e as duas filhas viam seus celulares. A mãe ou não tinha um, ou escolheu deixá-lo de lado. Olhava pela janela, triste.” A cena tem um quê de banalidade aos olhos de hoje, comuníssima. Basta olhar para o lado. A grande ideia do artista foi clicar indivíduos debruçados em smartphones ou tablets para depois apagar os aparelhos da imagem.
O resultado, inquietante, revela um mundo exageradamente colado a equipamentos eletrônicos plugados na internet, como se a realidade dependesse deles para existir — o que, naturalmente, é irreal. Não tardou, diante de tanta ansiedade, para surgir uma nova onda. Do inglês: JOMO, o acrônimo de “joy of missing out”, a alegria de perder algo. Na maioria das vezes, o abandono significa deixar para depois a avalanche de informações que brotam do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter. “JOMO é a satisfação de saber que não é necessário estar constantemente em busca de oportunidades e conhecimento on-line”, disse a VEJA o psicólogo dinamarquês Svend Brinkmann, professor na Universidade de Aalborg (Dinamarca) e autor do livro de título óbvio e inescapável, The Joy of Missing Out (2019).
O JOMO é a resposta ao FOMO, o “fear of missing out”, o medo de perder algo, que levou o cidadão do século XXI a andar de olhos firmemente grudados em telas. E, insista-se, o algo esteve sempre conectado. O vício — chamemos assim — do FOMO virou doença moderna, tratada como distúrbio em consultórios psiquiátricos. Era esperado, como acontece em momentos de exagero, que viesse o troco.

O nome do jogo, agora, é desplugar-se — mesmo que não seja a regra, longe disso. Uma pesquisa realizada na Inglaterra com mais de 2 200 millennials — os jovens nascidos entre o começo da década de 80 e os anos 1990 — mostrou que 78% deles já praticam o JOMO de forma regular, e conscientemente. Um dos efeitos desse comportamento é o resgate de hábitos antigos, e não há até agora postura saudosista. Trata-se de não jogar na lata de lixo da história o que ainda tem imenso valor, educativo e lúdico, simultaneamente. Como ouvir discos de vinil — as vendas dos bolachões aumentaram em 50% em 2017, em aparente contramão na estrada da era do streaming. Ou entreter-se com RPG de mesa, aquele jogo no qual se interpretam papéis variáveis, como magos, guerreiros, vampiros etc., enquanto um “mestre” imagina o cenário da aventura.
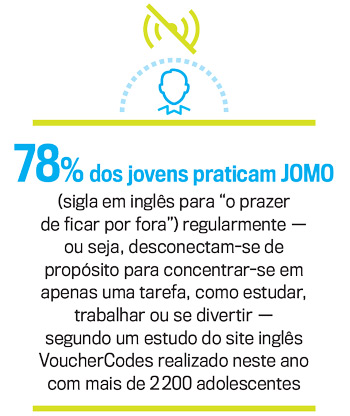
Reflexo dessa vontade de dar um freio de arrumação é o estrondoso sucesso de um RPG brasileiro, o Tormenta 20. Totalmente analógica, avessa a avanços tecnológicos, a brincadeira de mesa quebrou o recorde de captação de recursos por meio de sites nacionais de financiamento coletivo. No Catarse, faturou quase 2 milhões de reais. “O fato de vivermos em uma época tão conectada é que nos leva a tentar o oposto”, diz Guilherme Dei Svaldi, editor-chefe da Jambô, a editora de Tormenta. “Quando se passa o dia olhando para uma tela, tudo o que você começa a querer é contato humano — e o jogo proporciona isso.”
Vale, na postura JOMO, para além do contato humano, tentar se concentrar, profundamente, em alguma atividade — ainda que, perdão, ela seja praticada na web. O problema não é a internet. O nó é a internet ter virado oxigênio. É ruim trabalhar e ao mesmo tempo ouvir música, mandar “zaps”, checar o Facebook… E simplesmente não prestar atenção na pessoa que está ao seu lado. “O JOMO é expressão de alegria de se dedicar a um interesse, ainda que seja só uma boa conversa”, diz o psicólogo Brinkmann. Um teste: se a resposta à seguinte pergunta for “não”, há um bom caminho — “eu deveria estar fazendo outra coisa?”.
Publicado em VEJA de 11 de dezembro de 2019, edição nº 2664






 TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci
TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco
Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô
A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80
O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80 A ‘confissão’ de Ana Luiza Guimarães no JN que resume telejornalismo atual
A ‘confissão’ de Ana Luiza Guimarães no JN que resume telejornalismo atual








