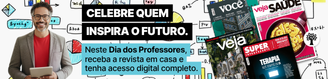O belo, o trágico e o duvidoso na posse de Barroso no STF
O novo presidente do Supremo terá a missão de respeitar a harmonia entre Poderes e conter o vício de falar demais. Sua posse é um retrato da dificuldade

Sem data venia: se quiser cumprir de fato a missão a que se propôs em sua exuberante posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luís Roberto Barroso precisará conter seu gosto pela ribalta e o vício da Corte pela personalização e politização excessivas. Será um difícil aprendizado, como comprovam tanto seu discurso de posse quanto as cenas explícitas ou de bastidores protagonizados na quinta-feira 28. Há bons e maus presságios aí.
Barroso assume a presidência do STF num momento de (re) compostura e consolidação democrática, após as aventuras golpistas que culminaram no 8 de Janeiro. Entre os muitos desafios nesse processo de retomada da democracia, uma das principais é cumprir aquilo que Montesquieu dizia e nossa Constituição adotou — a harmonia entre os Poderes. O novo presidente do STF pontuou isso com sabedoria em sua manifestação.
Sabendo que há um clima de desconfiança especialmente entre o Judiciário e o Legislativo, mais do que nunca é preciso estar atento ao sistema de freios e contrapesos, aquele em que os Poderes mutuamente se controlam, se autorregulam e evitam abusos de parte a parte. Não à toa, Barroso foi conciliador, fez a devida deferência ao deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidentes, respectivamente, da Câmara dos Deputados e do Senado.
Além de pregar a harmonia entre os Poderes, o novo presidente acenou a militares (afirmando que as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo) e defendeu uma pauta progressista, evitando tal rótulo (referindo-se a “causas da humanidade”). Mas foi aí que Barroso mostrou ser Barroso — o iluminista-liberal-progressista que esquece a toga e agarra o púlpito para propor “uma agenda para o Brasil” que, sob inspiração da tríade “integridade, civilidade e confiança”, propõe a construção de consensos em oito itens em torno dos quais “o país se aglutine”. Como reservadamente ressaltou uma sábia professora, seria lindo se estivéssemos diante do senador Barroso, e não do juiz recém-empossado na presidência da mais alta Corte do Brasil.
Na união entre o belo e o trágico, entre o luminoso e o perigoso, o ministro precisará trabalhar como agir diante do que ele próprio diagnosticou ao pregar a harmonia entre os Poderes. Há um ambiente de desconfiança, assombro até, em torno de excessos protagonizados pelo Supremo no campo político. O próprio Barroso foi um ponta de lança nesse excesso, ajudando a quem quis desqualificar a ação da Corte como partidária, ou anti-bolsonarista. Basta lembrar suas falas, como o “perdeu mané, não amola”, ou a ideia de que “derrotamos o bolsonarismo”. A reconstrução democrática passa por um longo trabalho de desarme tanto dos espíritos golpistas quanto dos desconfiados de uma possível ação não republicana por parte de instituições como o STF.
É fácil admirar o novo presidente do Supremo. Trata-se de um homem inteligente, cortez, elegante — além da solidez jurídica, o professor é generoso e respeitoso no trato pessoal, como ficou evidente antes, durante e depois de uma entrevista que deu ao Amarelas on Air, de VEJA, em 2021, na conversa com Clarissa Oliveira, Matheus Leitão, Thais Oyama e este colunista. Mas institucionalmente não é difícil questioná-lo, uma vez que Barroso é um dos exemplos também da face mais espetaculosa da Justiça brasileira desta década. Um juiz espelhando agendas de políticas públicas, como fez em seu discurso de posse, é uma faceta evidente desse mundo espetaculoso.
Se é verdade que o Supremo foi decisivo, sim, na contenção dos frágeis diques que separavam o país do autoritarismo, também é verdade que alimenta um estado de coisas quase único na história das supremas cortes no mundo. Sobre o lado positivo, a coluna sugere a leitura do texto do professor Oscar Vilhena (FGV) publicado na edição brasileira do Journal of Democracy, editado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. No artigo que abre a edição de junho passado, Vilhena analisou o comportamento do STF na defesa da democracia brasileira, a partir da ascensão ao poder de um presidente da República ostensivamente hostil à democracia constitucional estabelecida em 1988.
Segundo o autor, no extenso arco de proteção da democracia brasileira estabelecido pela Constituição Federal de 1988, o STF desempenhou um papel central. A postura expressamente “combativa” assumida pela Corte, diante dos crescentes ataques ao Estado Democrático de Direito, reacendeu o debate sobre o controvertido conceito de “democracia militante” – algo que lhe parece inescapável em tempos de ameaça de erosão da democracia. “Reivindico que, nos dias de hoje, o conceito de democracia militante designa, sobretudo, uma postura a ser assumida por aquelas instituições e autoridades que têm a responsabilidade por promover a defesa da democracia. Essa postura reclama uma atitude alerta, vigilante e, se necessário, combativa na defesa da democracia, por meio das ferramentas institucionais e legais de autodefesa democrática, operadas dentro do marco dos direitos fundamentais”, escreveu.
Ao fim do artigo, porém, Oscar Vilhena lembrou: no momento em que a democracia começa a retornar à normalidade e que as ameaças não mais partem do cerne do poder ou mesmo das Forças Armadas, “é fundamental que a postura militante empenhada pelo Supremo Tribunal Federal, durante o governo Bolsonaro, também se contraia”. No que recorreu a uma frase do ministro do STF Edson Fachin: “É preciso precatar-se para que a dose do remédio não o torne um veneno”.
Pois não faltam venenos ao redor da Corte. O STF herdou aquilo que as constituições democráticas ocidentais do pós-guerra reservaram às cortes. Essas constituições ampliaram o poder de juízes e lhes pediram coragem política, integridade moral e energia intelectual para proteger as liberdades. Como lembra o professor Conrado Hubner Mendes (USP), foi um anteparo do liberalismo para salvar a própria democracia e conter a tentação autoritária.
No caso brasileiro, a separação de Poderes, o vácuo institucional deixado por um Congresso de qualidade duvidosa e por um Executivo à mercê da força política de lideranças como Eduardo Cunha, nos tempos de Dilma Rousseff, ou Arthur Lira, na era Bolsonaro, garantiram lugar peculiar ao Supremo. O Parlamento e o presidente da República são eleitos; o STF, não. Executivo e Legislativo podem ser cobrados e punidos por seus eleitores; os ministros do STF, não. O presidente da República é o primeiro alvo das ruas; os membros do STF estão mais longe disso, apesar dos ataques que alguns deles sofreram nas ruas de Nova York enquanto participavam de convescotes promovidos por bancos e fundos de investimento (o que em si é uma aberração institucional dupla). Enquanto isso, a corte suprema tem o poder de revogar decisões de representantes eleitos.
Esse lugar peculiar também lhes alimentou igualmente o gosto supremo pela ribalta. Barroso é afeito a esse gosto. No auge da automistificação em torno da Corte que agora dirige, o ministro imaginou o STF como a “vanguarda iluminista que empurre a história na direção do progresso moral e civilizatório”. Se a crise política e a erosão de direitos dos últimos anos deram ao STF a oportunidade de atender a suas promessas, também lhe assegurou uma inevitável reação de dúvida e questionamento. O preço está posto.
O exibicionismo dos julgamentos transmitidos ao vivo, o debate político de alto nível combinando-se com a preocupação atenta às câmeras que lhes assistem, o excesso de entrevistas sobre temas políticos e – pasme! – sobre as agendas que eles próprios julgarão no futuro breve, as conversas em off com jornalistas, não desprovidas de pitacos, fofocas, humor e maldades típicas do jornalismo político de Brasília – tudo isso levou à espetacularização da Justiça, ao ativismo judicial, à politização indevida, a personalização dos 11 da Corte (ou quase todos, ressalvadas as exceções marcadas pela prudência e pelo comedimento, como a ministra Rosa Weber). Os “togados da breca”, na ironia do cientista político Christian Lynch, ou a ministocracia, no conceito acadêmico sugerido por Diego Werneck e Leandro Molhano, autores de um excelente paper publicado na revista do Cebrap.
Que o Supremo Tribunal Federal dos próximos anos contradiga o seu próprio DNA militante dos últimos anos e o DNA do próprio ministro que o presidirá a partir de agora. Se é para distensionar a política e sua radicalização, precisará atuar mais como um poder moderador. Com avanço na proteção de direitos, freios à vocação autoritária de certos grupos e autocontenção em sua prodigiosa tentação de ator político decisivo.
Um equilíbrio complexo e difícil, além de belo, trágico e arriscado.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 A reação do público aos elogios de Alcione a Moraes no meio de show
A reação do público aos elogios de Alcione a Moraes no meio de show Lote extra do abono salarial PIS/Pasep: veja se você tem direito e o valor
Lote extra do abono salarial PIS/Pasep: veja se você tem direito e o valor Morre o empresário Alexandre Carvalho, uma semana após acidente doméstico
Morre o empresário Alexandre Carvalho, uma semana após acidente doméstico Irritados com Alcolumbre, bolsonaristas rejeitam apoiar sua reeleição ao comando do Senado
Irritados com Alcolumbre, bolsonaristas rejeitam apoiar sua reeleição ao comando do Senado PL contraria o Centrão e defende que Bolsonaro defina toda a chapa de 2026
PL contraria o Centrão e defende que Bolsonaro defina toda a chapa de 2026