Entre a emergência e a modernidade
O caos no atendimento em hospitais públicos foi um marco incômodo do país há poucas décadas, enquanto a medicina esbanjava progressos

A saúde no Brasil passou boa parte do último meio século na ala de emergência. É claro que em todo esse tempo houve um sem-número de feitos notáveis — a começar pelo primeiro transplante de coração, o sexto do mundo, realizado há cinquenta anos em São Paulo por uma equipe liderada pelo cirurgião Euryclides Zerbini. Todos eles, no entanto, foram contaminados, de algum modo, pela situação muitas vezes dramática dos serviços de saúde pública do país. Em uma reportagem datada de 4 de setembro de 1974, VEJA chamava atenção para o grave problema. “Saúde: o Brasil vulnerável”, dizia o título da capa, ilustrada por uma cruz vermelha sobre a qual havia um curativo. Àquela altura, o país vivia dias de sobressalto em razão de um novo surto de meningite — dois anos antes, a população já sofrera um ataque em massa dos meningococos. Com média de 3,8 leitos para cada 10 000 habitantes — enquanto o padrão internacional estabelecia um mínimo de 35 para cada 10 000 habitantes —, muitos hospitais passaram pelo caos da superlotação. Em determinados estabelecimentos faltavam até seringas e lençóis.
Não por acaso. Desde a década de 60, a saúde pública vinha sistematicamente perdendo recursos. Em 1964, por exemplo, o porcentual do Orçamento destinado ao setor era de 3,65%. Em 1974, não passava de 0,9%. Para piorar, a maior parte dos médicos estava concentrada no Sudeste, o que significava um enorme déficit em outras regiões. Além disso, o programa federal de saúde não se destinava a todos os brasileiros. Em 1974, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) prestava assistência médica somente aos que contribuíam com ele, estendendo-a no máximo a seus familiares. O Sistema Único de Saúde (SUS), que hoje atende toda a população, só seria criado em 1988 (quando os planos médicos privados já eram alvo de críticas constantes). Embora seja o único programa no planeta a oferecer assistência de modo tão amplo, o SUS não foi capaz de curar a doença nacional da saúde. Na edição de 18 de agosto de 1993, VEJA estampava na capa a foto de um plantonista dormindo na sala de repouso do Hospital Mandaqui, em São Paulo, com a chamada: “Os médicos pedem socorro”. A reportagem escancarava a calamidade dos hospitais públicos brasileiros, onde corredores eram transformados em enfermarias e os profissionais da saúde tinham de decidir quem iria viver e quem iria morrer.
A morte, aliás, encontrou nesses cinquenta anos uma implacável tradução em forma de vírus. Nesse período, nenhuma doença desafiou mais a ciência médica — e mexeu com costumes, em especial a prática do sexo — do que a aids. Como no grupo de risco se destacavam sobretudo os homossexuais, eles logo seriam estigmatizados. Em 10 de agosto de 1988, VEJA trazia em sua capa a desconcertante reportagem “Aids: os que vão morrer contam sua agonia”. Na época, apenas seis anos após o diagnóstico dos primeiros casos no país, saber-se portador do vírus HIV, o causador da doença, era carregar uma sentença fatal. Em uma reportagem de dez páginas, a revista relatava não apenas o drama dos infectados como também o dos profissionais que cuidavam deles. Durante as internações, em hospitais como o paulistano Emilio Ribas, o maior centro de referência no tratamento da aids em todo o território nacional, os portadores de HIV ficavam literalmente isolados do convívio com outras pessoas. As visitas não podiam passar de trinta minutos. “Tratar pacientes com aids é a mais angustiante missão de um médico. Todos os procedimentos são caros, arriscados e frustrantes”, declarou a VEJA Paulo Ayrosa Galvão, então administrador do Emilio Ribas.

Sintetizado nos anos 60, o AZT era, na década de 80, o único antirretroviral capaz de combater a doença — e precisava ser importado. As internações para tratamento da aids tinham, então, custos altíssimos. Em um bom hospital privado de São Paulo, não saíam por menos que o equivalente hoje a 5 500 reais ao dia. Nos estabelecimentos públicos, o custo médio diário correspondia a 2 000 reais em valores atuais — o triplo do que era gasto com um portador de câncer.
O fato de agora existir uma dezena de antirretrovirais adequados voltados aos soropositivos é um sinal inequívoco do extraordinário desenvolvimento da medicina no último meio século. Na edição datada de 17 de setembro de 1975, VEJA já enaltecia os avanços científicos no tratamento de doenças cardíacas. Graças à introdução de inovações como o desfibrilador, o marca-passo e a ponte de safena, um paciente infartado passara a ter uma vida praticamente normal. Em 18 de novembro de 1981, outra reportagem da revista destacava o lançamento de drogas quimioterápicas que aumentavam as chances de cura para os portadores de câncer. O salto mais espetacular nesse contexto seria dado nos anos 2000. Na capa da edição de 26 de junho de 2002, VEJA retratou o surgimento de medicamentos de última geração. Começava a era dos “super-remédios”.
A chegada do Lípitor, contra o colesterol alto, aparecia como um dos marcos dessa revolução. O Viagra era outro exemplo — a medicação para a impotência representava uma espetacular mudança na vida afetiva. Já o Ixel e o Wellbutrin, eficazes na eliminação de alguns dos problemas mais comuns aos pacientes com depressão, como a redução da libido e o ganho de peso, incluíam-se entre as conquistas contra a doença que atinge hoje, só no Brasil, 12 milhões de pessoas. O traço de maior relevância, entretanto, no cenário da saúde seria a mudança no perfil dos tratamentos: em vez de tão somente combater as doenças, passou-se a enfatizar sua prevenção, como mostra a reportagem a seguir.
Publicado em VEJA de 1º de agosto de 2018, edição nº 2593

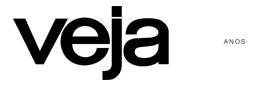
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Putin fala em conflito global e diz que Rússia está ‘pronta para combate’
Putin fala em conflito global e diz que Rússia está ‘pronta para combate’ A apresentadora do SBT que ficou no meio de ‘fogo cruzado’ com a Globo
A apresentadora do SBT que ficou no meio de ‘fogo cruzado’ com a Globo SBT apaga vídeo comprometedor sobre doações no RS
SBT apaga vídeo comprometedor sobre doações no RS O próximo astro internacional a se apresentar em Copacabana
O próximo astro internacional a se apresentar em Copacabana O que o resgate do cavalo Caramelo revela sobre o Brasil
O que o resgate do cavalo Caramelo revela sobre o Brasil







