#2 OS IMPÉRIOS: O signo do dragão
A China passou de buraco negro do maoismo, celebrado pelas esquerdas pelos motivos errados, ao lugar onde já estiveram gringos e romanos


O rei George V, avô da atual rainha Elizabeth, deixou algumas das mais famosas palavras pronunciadas por figuras ilustres no leito de morte. “Como está o império?”, perguntou a seu secretário particular, Clive Wigram, na manhã de 20 de janeiro de 1936. Wigram estava lendo o Times, e uma manchete na seção Notícias do Império chamou a atenção do rei moribundo, com os pulmões envenenados pelo cigarro. “Está tudo bem, senhor.” O que mais poderia responder Wigram? Verdadeira ou enfeitada, a história colou. Principalmente porque o império, como o rei, estava nas últimas, com uma sobrevida de pouco mais de dez anos.
George, excepcionalmente, conhecia bem os limites do maior império da história (35 milhões de quilômetros quadrados, sete vezes mais do que o romano, no auge, em 1920). Tinha feito muitas visitas aos futuros domínios. A mais momentosa delas em 1911, quando ele e a rainha consorte, Mary, foram a Delhi para uma cerimônia equivalente à de coroação como imperadores da Índia. “Cansado depois de usar minha coroa durante três horas e meia; machucou minha cabeça por ser muito pesada”, anotou George no diário após o Durbar, a cerimônia em que recebeu homenagens de marajás e outros príncipes de reinos independentes. A coroa de 6 170 diamantes, encimada por uma esmeralda de 32 quilates, foi usada apenas essa vez. Pode ser vista na Torre de Londres como um prodigioso e até um tanto exagerado símbolo do “imperialismo”, uma palavra forjada no sentido moderno praticamente sob medida para a Inglaterra do fim do século XIX, readaptada ao modelo americano de império sem conquistas pela força e ressuscitada com a meticulosamente planejada corrida da China rumo ao posto de superpotência dominante. A explosão chinesa provoca sempre duas perguntas. A China vai tomar o lugar dos Estados Unidos? E, se tomar, como será a vida sob o império chinês?
“Imperialismo” foi palavra forjada para a Inglaterra do século XIX, readaptada para os EUA e ressuscitada com os chineses
Não existe forma mais garantida de passar vexame do que fazer previsões, mesmo que de curto prazo, seja examinando vísceras de aves, seja decorando as lições da história. O crescimento econômico dos Estados Unidos será “modesto”, escreveram no ano passado — repetindo, em 2017 — os autores de um exercício de futurologia feito a cada quatro anos por analistas das maiores agências de inteligência dos Estados Unidos. A exuberância irracional da economia sob Donald Trump já estava toda desenhada. “Para o bem ou para o mal, a paisagem global emergente está levando ao fim a era da predominância americana que se seguiu à Guerra Fria”, anotaram os prognosticadores, provavelmente ainda contaminados pelo fatalismo realista, ou derrotista, dependendo da versão, do governo Obama. Só para lembrar: os serviços de inteligência dos Estados Unidos, com todos os seus fabulosos recursos, não conseguiram prever um acontecimento cósmico como a dissolução pacífica do império soviético, equivalente histórico à explosão de uma supernova (ou a Estrela da Morte, a maligna estação espacial do Império em Guerra nas Estrelas), nem decifrar a tempo os rastros estarrecedores deixados pelos terroristas do 11 de Setembro.

Se não existem respostas garantidas, examinar o passado é a única ferramenta da caixa para fazer as perguntas certas. Um império tradicional, tomado pela força das armas e pela ambição de um líder cercado pelos liderados certos, cujo paradigma supremo ainda é Alexandre, o Grande, chorando por não ter mais mundos para conquistar, antes de morrer, aos 32 anos (de malária, dengue ou cirrose avançada), é uma hipótese fora do tabuleiro do xadrez global. Os Estados Unidos têm e continuarão a ter a predominância bélica para impedir aventuras do tipo. O próprio império chinês não foi exatamente um império, conquistado e mantido na ponta da espada, no sentido tradicional no Ocidente. “A nação que hoje identificamos instantaneamente no mapa como China não existe há muito tempo”, explica Howard W. French, autor de um livro com o ilustrativo título de Tudo sob os Céus: Como o Passado Ajuda a Moldar a Ofensiva da China Rumo ao Poder Global (2017). “Ao longo da maior parte da sua história, essa terra governada dinasticamente nem sequer se reconheceria como um país, muito menos seria vista como tal por seus vizinhos. Por quase dois milênios, a norma para a China, de sua perspectiva, era um domínio natural sobre tudo o que existia sob os céus, um conceito conhecido como tian xia.”
Com seus projetos estratégicos, Xi Jinping revela o conselho de Deng Xiaoping: “Esconda sua força, espere sua hora”
A fluida extensão desse “domínio natural” abrangia o centro, o leste e o sudeste da Ásia, envolvendo “graus variados de contato e obediência”. A premissa básica “era razoavelmente coerente: aceitem nossa superioridade e conferiremos a vocês legitimidade, desenvolveremos uma parceria comercial e ofereceremos o que na linguagem moderna das relações internacionais é conhecido como bens públicos. Isso incluía policiar os espaços marítimos, mediar disputas e dar acesso ao sistema universal chinês de aprendizagem, amplamente baseado no confucionismo”. De diferentes maneiras, é isso que a China do imperador Xi Jinping está fazendo, agora com alcance global, desde a estação espacial na imensidão da Patagônia argentina de onde pretende gerenciar uma sonda que pousará no lado oculto da Lua ainda neste ano até os 3 000 projetos de infraestrutura que têm financiamento chinês na África.

A política agressiva de recuperação de algum equilíbrio comercial desfechada por Donald Trump causou tímidas críticas internas na China de que os dois grandes projetos estratégicos comandados por Xi Jinping, a rede de conexões marítimas e ferroviárias conhecida como OBOR e o Made in China 2025, programa de domínio de áreas tecnológicas vitais, talvez sejam ambiciosos demais. Provocar a ira americana ainda não é exatamente uma boa ideia. “Esconda sua força, espere sua hora”, aconselhava Deng Xiaoping, o homem que desencadeou as reformas que transformaram a China.
Uma potência supranacional que fica grande a ponto de esgotar seus recursos e ceder ao próprio peso é o caso clássico da Espanha, o primeiro império global da história. Em 1621, quando Felipe IV assumiu o trono de Espanha (e Portugal, levando portanto o Brasil no pacote, além dos reinos de Nápoles, Sardenha e Sicília), ele podia dar a volta à Europa e ir da América à Ásia sem sair de seus domínios. Um sermão da época resumiu as múltiplas preocupações do Rei Planeta (ou Pasmado, segundo as críticas), condoendo-se de “seu coração repartido em fios”. “Um fio em Flandres, outro na Itália, outro na África, outro no Peru, outro na Nova Espanha, outro nos ingleses católicos, outro na paz dos príncipes cristãos, outro nas aflições do império. Que atenção tão grande aos diversos governos e perigos.”
“A única coisa que se aprende com a história é que ninguém aprende nada com a história”, dizia Otto von Habsburgo, da Áustria
Durante seus 44 anos e 167 dias de monarca, Felipe, o Grande, tentou segurar e reparar a grandeza imperial da Espanha, embora nas horas vagas de tantas “aflições” tivesse tempo para encenações teatrais, eventos festivos de opulência romana, caçadas, touradas, mulheres e uma prodigiosa coleção de 4 000 obras de arte, hoje o grosso do Museu do Prado. Chegou a aprovar leis que obrigavam os funcionários públicos a declarar seu patrimônio e proibiam os espanhóis de emigrar em busca de fortuna. Com 8 milhões de habitantes, a Espanha tinha falta de gente, um problema que a China definitivamente não enfrenta. Os galeões carregados de ouro em eterno movimento (um quarto indo direto para a coroa) não chegavam para manter em pé o Século de Ouro, o prodigioso espaço de glória e miséria em que freiras queimadas pela Inquisição como bruxas, o esplendor quase paralisante do cerimonial da corte e várias camadas de marginais coexistiram com Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega, El Greco e Velázquez, praticamente o pintor oficial. A princesa Margarida Teresa, retratada por ele aos 6 anos, quando era a sobrevivente dos filhos mortos de Felipe (os oficiais; por fora ele teve entre trinta e sessenta, um atestado de seu apetite sexual barroco), com o claro olhar dos Habsburgo tão firme quanto o da anã Maria Bárbola, cercada pelas duas pequenas damas de companhia (“las meninas”, usando-se a palavra em português), fitando o pai, que aparece no espelho, ficou na história como a enigmática imagem de força e fragilidade do império. Quando morreu, Felipe já tinha “perdido” Portugal (com o Brasil, de novo, no pacote), Catalunha, Holanda — a Sicília estava rebelada — e a guerra com a França pela hegemonia na Europa católica.
Felipe IV era do ramo espanhol dos Habsburgo, a casa real que mais comandou impérios na história. Do Sacro Império Romano do Ocidente (que não era nada disso, mas alemão) à monarquia dual Áustria-Hungria, os Habsburgo estiveram no negócio de produzir reis e imperadores durante 650 anos. “A única coisa que se aprende com a história é que ninguém aprende nada com a história”, dizia Otto von Habsburgo, que nasceu como terceiro na linha de sucessão famosamente fracassada de seu tio-bisavô, o imperador austríaco Francisco José, e morreu, em 2011, como um celebrado pioneiro do Parlamento europeu e seu projeto de uma Europa pacífica, unida e, sobretudo, sem ambições imperiais.
O império austríaco abarcava onze nacionalidades e oferecia a mercadoria mais importante dos baús imperiais, de Roma aos domínios britânicos, passando pela China antiga, como já mencionado: estabilidade, um sistema comum e administração de conflitos. De Freud a Kafka, de Haydn a Von Mises, as vantagens do sistema Habsburgo, mesmo com a autocracia, o imobilismo e uma versão própria do estupefaciente cerimonial à espanhola, ficaram claras. A hecatombe da I Guerra Mundial devorou tudo, vantagens e desvantagens, luzes e trevas.
Prever a derrocada dos poderosos é universal. O fim do domínio dos americanos vem sendo anunciado desde antes de começar
Em 1968, quando saiu o primeiro número de VEJA, a situação das grandes potências parecia antecipar um futuro completamente diferente do que vemos cinquenta anos depois. Os Estados Unidos estavam enrolados no Vietnã, às voltas com as consequências da Ofensiva do Tet, os ataques em série desfechados pelo Vietnã do Norte no ano novo lunar. As manifestações contra a guerra pressionavam a opinião pública, solidamente favorável à política de contenção do comunismo. Quando o general William Westmoreland disse que precisaria de mais 200 000 soldados americanos, até os mais fiéis vacilaram. O antiamericanismo bombou em todo o mundo, insuflado pela sempre magistral propaganda soviética e pelo sentimento genuíno de que era uma guerra que não valia a pena lutar.
Para muitos jovens esquerdistas que incendiavam as ruas, o futuro era vermelho e estava na China — justamente a China da Revolução Cultural, a orwelliana expressão inventada por Mao Tsé-tung para reprimir qualquer hipótese, mesmo apenas conceitual, de oposição, inclusive ou principalmente nos quadros do Partido Comunista. É possível que até 3 milhões de chineses tenham sido massacrados nos anos em que as esquerdas se deslumbravam com a revolução maoista permanente. Cerca de 100 milhões foram presos, degredados, torturados, internados em campos de “reeducação” ou transferidos à força das cidades para o campo. O poder do imperador vermelho era absoluto e nada parecia que desviaria o rumo da China.
Na União Soviética, a muralha da Cortina de Ferro não só parecia inexpugnável como sairia triunfante do maior desafio já enfrentado, a tentativa de abertura na Checoslováquia que ficou conhecida como Primavera de Praga. Leonid Brejnev deixou como legado a doutrina com seu nome: qualquer racha, por mínimo que fosse, nas fronteiras do império soviético seria enfrentado pela força. Os 500 000 homens colocados em território checo, bancados pelo arsenal nuclear soviético, eram uma demonstração de um poder aparentemente inquebrantável.
Um mês depois que Mao morreu, em 1976, a Gangue dos Quatro, seus herdeiros políticos, incluindo a fenomenalmente perversa madame Mao, estava na cadeia e Deng Xiaoping fora dela, preparando o retorno e as reformas. Ronald Reagan, eleito em 1981 para fazer a América grande de novo, assumiu o governo com uma visão muito simples sobre qual deveria ser o resultado da Guerra Fria: “Nós ganhamos, eles perdem”.
Não deu outra. Um dinâmico e promissor líder chamado Mikhail Gorbachev começou querendo consertar a legendária ineficiência do sistema e acabou assinando seu atestado de óbito. Comunista convicto, deu a melhor definição já feita do regime comunista: “Imaginem um país que conquista o espaço, lança Sputniks, cria uma defesa como a nossa, e não consegue resolver o problema das meias-calças femininas. Falta pasta de dentes, falta sabão em pó, faltam os produtos para as necessidades básicas da vida. É espantoso e humilhante trabalhar num governo assim”.

Charles Krauthammer, psiquiatra transformado em comentarista político, que morreu em junho passado, sem nenhuma reclamação, tal como viveu, paraplégico, na maior parte da vida, deu uma definição simples do poder da América: “Os americanos não são intrinsecamente imperiais, mas terminaram na posição dominante por falta de adversário. A Europa desapareceu depois da II Guerra Mundial e a União Soviética desapareceu em 1991. Então, aqui estamos”.
Prever a derrocada dos poderosos é um passatempo universal, e o fim do domínio unipolar americano no mundo pós-Guerra Fria vem sendo anunciado desde antes de começar. Os ataques terroristas do 11 de Setembro foram reiteradamente prognosticados como o empurrão final. Três dias depois da tragédia, George W. Bush abraçou o bombeiro Bob Beckwith nas ruínas das Torres Gêmeas, tomou o megafone passado por ele e, superando suas conhecidas deficiências oratórias com um discurso improvisado, minúsculo e genial, respondeu a um dos socorristas que reclamava do som falho: “Eu estou ouvindo você! O resto do mundo está ouvindo você! E as pessoas que derrubaram estes prédios vão nos ouvir logo mais”. Os voluntários gritaram: “USA! USA! USA! USA! USA! USA! USA! USA!”. Oito vezes. Foi o melhor e mais popularesco momento de Bush, que depois se afundaria na alucinadamente equivocada invasão do Iraque. Tal como os fundamentos de Roma eram à prova de imperadores de ambição e devassidão incomensuráveis, a República americana, ancorada na Constituição, parece uma obra feita por gênios à prova de idiotas.
O que segura o novo império chinês tem a mesma solidez? A mistura de capitalismo de Estado com regime de partido único (embora um partido de 90 milhões de membros) tem a oferecer acordos comerciais, investimentos inesgotáveis e regras férreas sob o discurso da parceria mutuamente vantajosa. O último discurso importante de Xi Jinping, no congresso do Partido Comunista que praticamente o elevou à categoria premium de detentor do mandato celestial (fora aprovar a permanência ilimitada no topo, incitando paródias com o longevo imperador Kangxi e pálidos protestos de que “Não somos Cuba”), durou três horas e meia. “Vá ao banheiro sempre que puder”, aconselhava George V, o rei que morreu perguntando pelo império britânico, aos parentes envolvidos em longas cerimônias oficiais. O imperador Caracala (quase 10 na escala romana de psicopatia) poderia acrescentar: mas olhe em volta primeiro. Famosa ou infamemente, ele foi assassinado por um soldado insatisfeito quando desceu do cavalo para aliviar a pressão da natureza durante a campanha contra a Pátria, na atual Turquia.
O mundo inteiro está olhando em volta, tentando prever se, quando e como a China se tornará o hegemon, a potência dominante, o centro do mundo como se considerava no passado nada remoto, o dragão mítico que controla a água, a chuva, os tufões, as enchentes e a Organização Mundial do Comércio. Só vai ser um pouco mais difícil dizer: “Djonguó, djaiô” — “Vai, China”. E ainda repetir oito vezes.
Publicado em VEJA de 26 de setembro de 2018, edição nº 2601

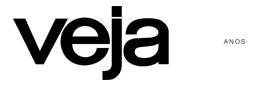

 Galvão Bueno tem contas penhoradas por dívida milionária de vinícola
Galvão Bueno tem contas penhoradas por dívida milionária de vinícola Juiz de Santa Catarina processa Ivete Sangalo
Juiz de Santa Catarina processa Ivete Sangalo A cena forte que vai ao ar em ‘Renascer’ – e não existia na trama original
A cena forte que vai ao ar em ‘Renascer’ – e não existia na trama original Os estados mais vitoriosos contra o crime, em meio à crise de segurança
Os estados mais vitoriosos contra o crime, em meio à crise de segurança A disputa acirrada pela prefeitura de uma das capitais nacionais do agro
A disputa acirrada pela prefeitura de uma das capitais nacionais do agro







