Desde que assumiu interinamente o cargo de ministro da Saúde, há dois meses, o general Eduardo Pazuello adotou o estilo low-profile. No auge da pandemia, que já matou mais de 75 000 brasileiros, ele evita aparições públicas e foge de entrevistas. Não é timidez. Ele costuma repetir que não é médico nem político e, como militar, está em Brasília cumprindo uma missão administrativa que lhe foi dada pelo presidente da República. Na terça-feira passada, Pazuello estava mais agitado do que o normal. As notícias do dia davam conta de que Bolsonaro teria decidido antecipar o fim da missão diante da iminência de uma nova crise envolvendo os militares e o Supremo Tribunal Federal. Três dias antes, Gilmar Mendes, ministro do STF, havia acusado o governo de adotar uma política de “genocídio” durante a pandemia em associação com o Exército. Do exagero retórico do magistrado derivou o rumor de que o presidente demitiria o general para não alimentar um novo embate com o Judiciário.
Logo cedo, o ministro telefonou para Bolsonaro para perguntar se continuaria ou não à frente da pasta. Argumentou que, se fosse para sair, preferia que isso acontecesse até o fim do mês, o que lhe permitiria retornar ao comando da 12ª Região Militar, na Amazônia, onde estava até abril, quando foi convocado para assumir o Ministério da Saúde como secretário executivo. Uma alternativa seria esperar a estabilização da pandemia, o que ele projeta que acontecerá em setembro. O presidente, bem a seu estilo, foi direto ao ponto: “Não estou pensando em p. nenhuma. Vai tocando aí”, respondeu. “E se encherem muito o saco a gente te torna efetivo.” Garantido no cargo por enquanto, Pazuello ligou para Gilmar Mendes. Na verdade, retornou uma ligação do magistrado, que está de férias em Lisboa. Os dois garantem que foi uma conversa pacífica, civilizada.
General de divisão, o segundo maior posto da hierarquia do Exército, Pazuello afirma que não ficou sequer incomodado com a acusação do ministro do STF, embora tenha classificado a declaração dele como “mal colocada” e “atravessada”, feita “num momento errado” e fruto de “informações truncadas”. Terceiro titular da Saúde durante a pandemia, ele rebate as acusações de inoperância e diz que o país adotou protocolos errados que levaram a mortes, provocaram medo na população e o colapso dos hospitais. Isso porque a recomendação inicial do ministério era para que, mesmo diante dos primeiros sintomas de Covid, o paciente ficasse em casa e apenas procurasse um médico no caso do agravamento do quadro. “Com isso, as pessoas morreram em casa, morreram no carro, indo para a UPA”, afirma. Culpa do então ministro Luiz Henrique Mandetta, que hoje acusa o governo de negligência? Não. “Na época era o que tinha de certo”, pondera. “Mas ele poderia ter usado o tempo dele melhor, ao invés de ficar dando entrevistas por quatro horas todos os dias”, alfineta. Além de mudar essa orientação de tratamento, o general diz que o ministério criou alguns procedimentos que foram fundamentais para o enfrentamento da pandemia nas regiões Norte e Nordeste. E garante: o Brasil, apesar das críticas, será reconhecido como um exemplo positivo no combate ao coronavírus.
Pazuello revela que, além da pandemia, enfrenta simultaneamente outra guerra contra um inimigo menos visível e muito mais difícil de se vencer: o establishment, que ele traduz como grupos que comandam nacos da administração pública há décadas e dotados de uma capacidade de captura das instituições que vai muito além do que a Lava-Jato descobriu. O ministro atribui a esse “Estado profundo” boa parte dos boatos sobre a sua demissão do ministério. “Se você quer encontrar ladrão, basta procurar onde tem dinheiro. E aqui tem muito”, diz. Sem máscara, cheio de dúvidas sobre a eficácia do isolamento social e com a certeza de que a partir de setembro a vida voltará praticamente ao normal na maior parte do país, o ministro concedeu a seguinte entrevista a VEJA.

“A população foi orientada a permanecer em casa mesmo com os sintomas. E era para ficar em casa até sentir falta de ar. E, quando você estivesse com falta de ar, segurava mais um pouquinho. Matamos quantas pessoas com isso?”
O senhor ficou ofendido ao ser chamado de genocida? Essa acusação não me incomodou. Num combate, o general de divisão é aquele que vai cuidar da sua vida e da vida da sua família. Você acha que esse general pode se sentir atingido porque um fulano falou isso ou aquilo? A missão é muito mais importante. Estou numa guerra contra uma doença que já matou 75 000 pessoas, enfrentando interesses inconfessáveis e quadrilhas que têm de ser desbaratadas. Com tantos problemas, ou se vai para Portugal ou se tenta mitigar isso tudo.
O ministro Gilmar Mendes disse que os militares se associaram a essas ações genocidas. Quem são os genocidas? Os 5 000 funcionários do ministério? Os dezoito oficiais que eu trouxe para trabalhar comigo? Foi uma conversa muito mal colocada, atravessada, num momento errado e de uma pessoa que não precisava falar isso. Mas eu e o ministro Gilmar já conversamos.
Como foi a conversa? Ele me ligou, eu não pude atender, mas retornei depois a ligação. Foi uma conversa tranquila. Eu disse a ele: “O senhor não tem culpa alguma de ter informações tão truncadas a ponto de fazer tal declaração. Se o senhor quiser saber exatamente como é, vem me visitar”. Ele concordou e disse para nós conversarmos. Se ele entender que tem de conhecer o ministério, verificar o trabalho que estamos fazendo e assim mesmo achar que é um genocídio, é direito dele. Mas faço questão de mostrar tudo. Ele vai ver, inclusive, que não existe militarização do ministério.
Não? Quando eu fui convidado pelo presidente, ainda como secretário executivo, houve o acordo de que eu traria homens da minha confiança. Por dia, o ministério administra cerca de 600 milhões de reais. Eu precisava de um gestor para gerenciar esse recurso. Ao todo, trouxe dezoito militares — quinze são da ativa. Apenas quatro militares estão em cargos de chefia, o resto é técnico. É essa a militarização do ministério. Qual é o problema nisso? Militar é um recurso humano formado e pago pelo contribuinte. Esse estigma precisa acabar.
O senhor vê alguma ameaça à democracia? Zero. As manifestações de rua são o exemplo claro de que a democracia vive sua plenitude. Nasci em 1963, não sei nem o que é AI-5, nunca nem estudei para descobrir o que é. A história que julgue. Isso é passado, acabou. A nossa guerra agora é contra a corrupção, contra o aparelhamento de uma estrutura complicada de muitos anos que a gente herdou em todos os órgãos.
Há corrupção no Ministério da Saúde? Tem de seguir o dinheiro. É o que eu estou fazendo aqui todos os dias. Estamos trabalhando com toda a transparência, abrimos todos os dados sobre os recursos financeiros e logísticos, atuamos sempre ao lado dos órgãos de controle e definimos previamente números e valores. Se você quiser encontrar japonês, vá para o Japão. Chinês, vá para a China. E ladrão, vai para onde? Para onde tem dinheiro. E aqui tem muito dinheiro.
Nesse pouco espaço de tempo, o senhor acha que já conseguiu desmantelar essas estruturas? Não. Precisamos entender o que é o establishment. Não é um partido, é um modelo, uma espécie de Estado profundo da corrupção. Quem acha que a corrupção se resume à Lava-Jato ou ao mensalão está brincando. As nossas posições técnicas, pragmáticas e pouco políticas não agradam ao modelo político. Essas estruturas estão entranhadas. Quando você atua contra os interesses delas, vem a reação. Distribuí 14 bilhões de reais às ações contra o coronavírus de forma não política. Isso, claro, não agrada às lideranças. E aí começam a pressionar e usam ligações com outros poderes.
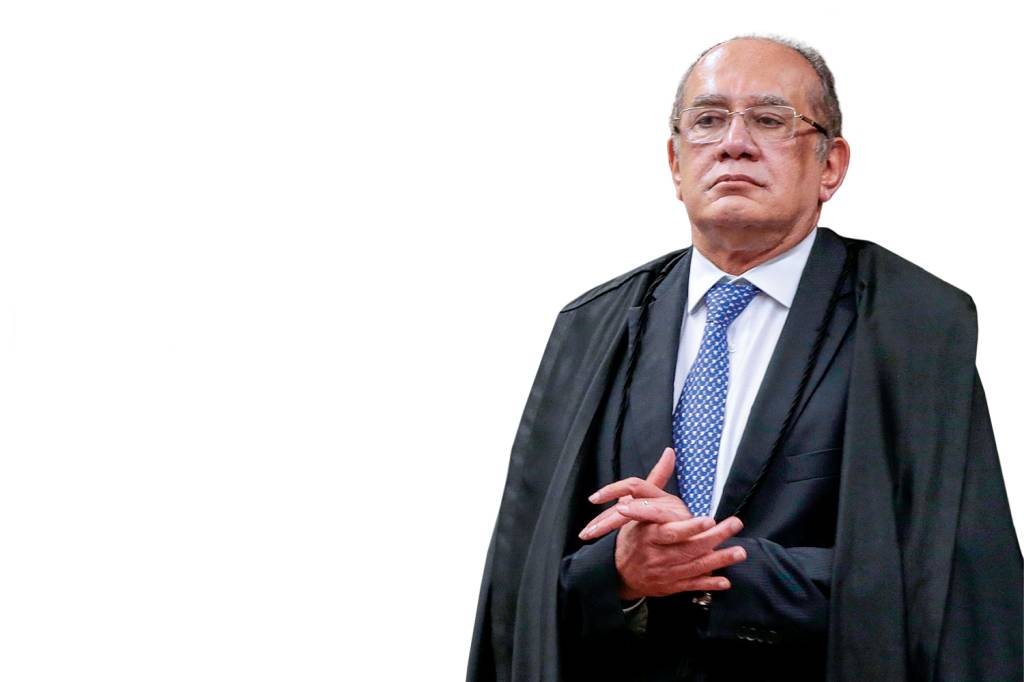
“Essa acusação não me incomodou. Estou numa guerra contra uma doença que já matou 75 000 pessoas, enfrentando interesses inconfessáveis e quadrilhas que têm de ser desbaratadas. Com tantos problemas, ou a gente vai para Portugal ou tenta mitigar isso tudo”
O Ministério da Saúde é acusado de não ter propostas para conter a pandemia. Hoje ninguém mais fala, mas pegue o exemplo de Manaus. Era a tempestade perfeita, uma crise sem tamanho, chegamos a estudar uma intervenção na saúde de lá. Agora, praticamente acabou. Isso foi possível graças a um plano emergencial do ministério que compreendeu vinte ações em apenas uma semana. Mandamos todos os médicos que se possa imaginar, todos os equipamentos, abrimos hospitais de campanha, mudamos o protocolo, mandamos vacina de H1N1 e vacinamos muita gente. Considera-se que foi um sucesso principalmente pelo uso da ventilação não invasiva, do protocolo de manejo e da triagem nas unidades de saúde, não deixando um paciente contaminar o outro. E, o que consideramos essencial: o tratamento precoce (veja reportagem na pág. 34).
Isso não acontecia antes? Não. No início, a população foi orientada a permanecer em casa mesmo com os sintomas da Covid. E era para ficar em casa até sentir falta de ar. E, quando você tivesse falta de ar, ainda diziam para segurar mais um pouquinho. Matamos quantas pessoas com isso? Loucura. O porcentual de morte sobe para 70% ou 80%. E isso não está dito em lugar nenhum, principalmente por quem agora nos critica.
O senhor está se referindo ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta? Ele imaginava que a melhor coisa era ficar em casa até passar mal. Não vou dizer que ele estava errado ou que teve dolo. Na época era o que tinha de certo. Isso é a curva de aprendizagem. É uma doença nova, o Ministério da Saúde não tinha conhecimento do tratamento precoce, dos medicamentos que davam certo ou não e sobre quais medidas preventivas funcionavam. Ele fez um protocolo, e isso teve de ser modificado. Agora é tratamento imediato, nada de ficar em casa doente. E o diagnóstico é do médico, não do teste.
A testagem não é essencial? Não. O diagnóstico é clínico, é do médico. Pela anamnese, pela temperatura, por um exame de tomografia, por uma radiografia do pulmão, por exame de sangue, podendo até ter um teste. Criaram a ideia de que tem de testar para dizer que é coronavírus. Não tem de testar, tem de ter diagnóstico médico para dizer que é coronavírus. E, se o médico atestar, deve-se iniciar imediatamente o tratamento.
Qual a situação da pandemia hoje no Brasil? A primeira coisa é que não é possível falar de Brasil, temos de avaliar as situações de cada lugar específico. Considero que, no Norte e no Nordeste, o vírus está concluindo o seu ciclo. Podemos inferir que lá a pandemia está acabando neste ano. Já no Centro-Sul está nítido que os casos subiram e agora, na maioria, estão altos e em um platô. Em tese, vai acontecer o mesmo na Região Centro-Norte, com avanço sobre as capitais e regiões metropolitanas, e depois sobre o interior. Por outro lado, as consequências e os reflexos tendem a ser menores. Acredito que em setembro conseguiremos baixar a curva para o nível de uma síndrome respiratória comum. Mas precisamos de mais algumas semanas para fazer esse diagnóstico com precisão.

“Se você quiser encontrar japonês, vá para o Japão. Chinês, vá para a China. E ladrão, vai para onde? Para onde tem grana. E aqui tem muito dinheiro”
O isolamento social é ou não uma ferramenta eficaz para evitar a contaminação? É uma possibilidade que tem de ser avaliada dentro de uma realidade específica, e quem define isso são os gestores de cada cidade. O ministério não pode interferir. Mas uma coisa é fato: não houve — nem é possível haver — isolamento em favelas, com oito pessoas morando na mesma casa e saindo todos os dias em busca de algum dinheiro para viver. E vale dizer: os casos não explodiram por lá.
O que isso mostra? Que a gente não sabe nada da doença e que vai ter ainda todo um grau de conhecimento. Outro dia estava com a presidente da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e passamos em frente à Praia de Copacabana. Estava toda vazia. Ela disse: “Isso é um crime. Praia é o lugar ideal para as pessoas estarem. Sol, raio ultravioleta, mar e iodo”. Disse que, por ela, a praia seria um tratamento. Era só criar o mínimo de afastamento, cada família no seu quadrado. Mas os gestores não acham isso. Está proibido.
E quando teremos uma reabertura? Repito que isso é decisão dos gestores. Mas não há dúvida de que vai abrir. É real, o povo não aguenta mais. Essa discussão é retórica: se é agora ou se é daqui a pouco. E a abertura não tem a ver com novas mortes. Já temos a velocidade do tratamento e o entendimento da doença. É vida normal de uma doença, vai entrar nessa nova normalidade. A solução para a Covid é a vacina, não tem outra. O resto é conviver com ela e tomar todas as medidas de prevenção.

“Nós fazemos sempre consultas com comitês internacionais, e o que dizem é que a gente está com o protocolo número 1. O Brasil vai ser um exemplo positivo para o mundo”
O presidente Bolsonaro deu algum mau exemplo na pandemia? Foi colocado muito medo nas pessoas. E, se você olhar só um pouquinho por outro ângulo, talvez não seja tão negativo ter uma pessoa dizendo que não precisa ter esse temor todo. Dá um pouco de esperança de que a vida pode ser normal, de que dá para manter alguma atividade econômica, para as pessoas não morrerem em casa, com medo.
Para quem tem familiares ou amigos que morreram de Covid, esse posicionamento não pode causar um mal-estar? São 75 000 famílias, mas no país há 210 milhões de pessoas. Nós temos de falar para todo mundo, cuidar de todo mundo. E outro detalhe: em 70% dos municípios não houve nenhum óbito. Por isso que eu sempre defendi que fossem divulgados números regionalmente e com gráficos analíticos. A realidade das coisas é de um desconhecimento que não se tem noção.
Como a passagem da pandemia no Brasil será registrada no futuro? Nós fazemos sempre consultas com comitês internacionais, e o que dizem é que a gente está com o protocolo número 1. O Brasil vai ser um exemplo positivo para o mundo. Usamos o que tem de mais moderno. Criamos critérios técnicos e seguimos em cima deles. Vamos ganhar essa guerra.
Publicado em VEJA de 22 de julho de 2020, edição nº 2696


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO





 O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80
O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80 As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF
As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô
A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô Banco rebaixa classificação do Brasil e aumenta aposta na Argentina
Banco rebaixa classificação do Brasil e aumenta aposta na Argentina A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’
A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’








