A lição de Richard Bilkszto
Há uma disputa em torno dos valores que irão forjar nossas instituições
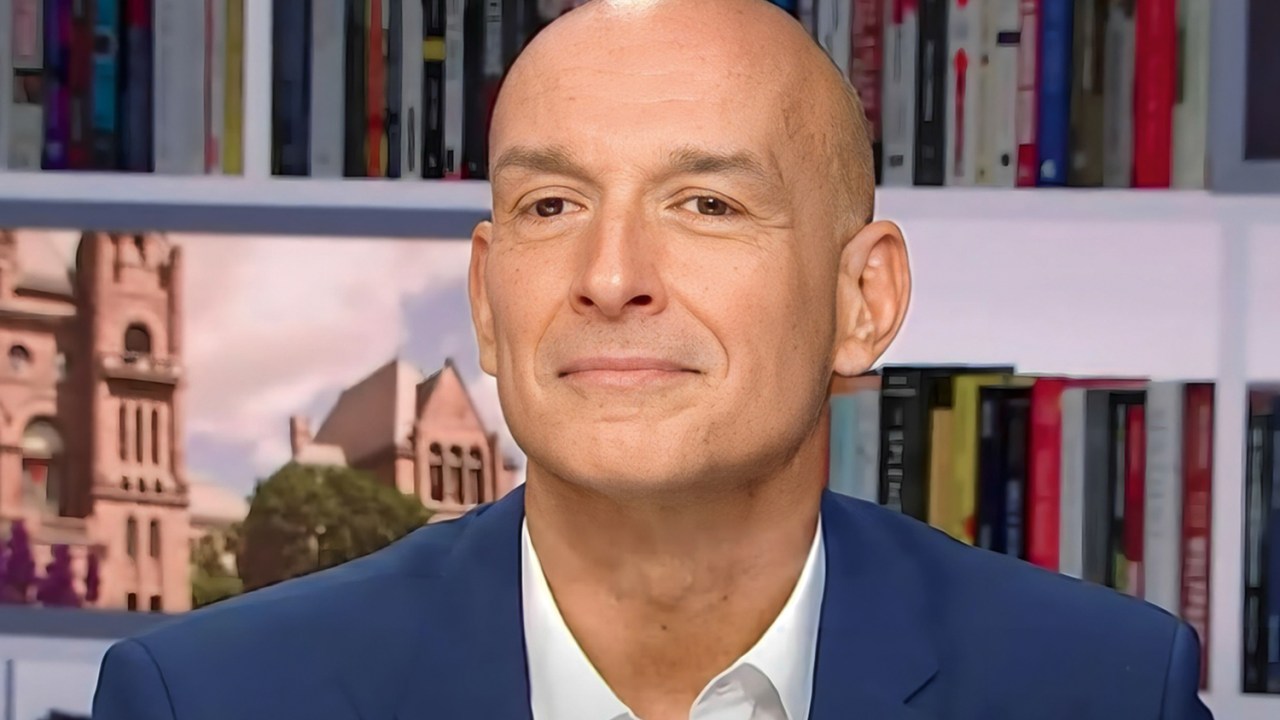
Richard Bilkszto era um professor carismático, engajado, gay, com seus 60 anos e diretor de uma escola pública no distrito de Ontário. Tempos atrás ele participou de um treinamento sobre “DEI”, que significa “diversidade, equidade e inclusão”, dada pela ativista Kike Ojo-Thompson, em sua escola. Em certo momento, ela sustentava que o Canadá era um país “ainda mais racista que os Estados Unidos”, e Bilkszto resolveu responder. “Não concordo”, disse ele, que no primeiro encontro havia ficado calado, como todos, mas naquele momento achou que devia falar. Ali começou o seu calvário. Thompson respondeu que aquilo era “resistência” do “supremacismo branco”. E que não seria ele, com sua “branquitude”, a falar sobre discriminação. A história é longa. O fato é que Bilkszto passou a ser atacado nas redes de ativistas, perdeu posições profissionais, foi carimbado como “supremacista branco”. Chegou a acionar o distrito, apelou para que o bullying parasse, pediu uma licença médica, com depressão, e em um dia qualquer de verão cometeu suicídio, projetando-se do alto de seu edifício.
Sua história talvez seja um acidente de percurso ao qual ninguém deveria prestar muita atenção. Mas quem sabe reflita um mal-estar contemporâneo. É esse o tema de Yascha Mounk, o jovem cientista político alemão, em seu novo livro, The Identity Trap. O que ele chama de “armadilha identitária”, espécie de obsessão atual em torno dos temas de gênero, raça e orientação sexual. O livro conta como um número crescente de escolas americanas passou a dividir os alunos com base na cor da pele, imaginando que com isso estejam “lutando por justiça racial”. A Bank Street School for Children, por exemplo, escola chique de Nova York, separou seus alunos em “grupos de afinidade” por cor da pele. Esqueçam Thomas Pettigrew e sua “teoria do contato”, com ampla evidência empírica, segundo a qual é exatamente o “viver junto” que faz superar o preconceito. O sentido é inverso. Mounk diz que vamos migrando para uma “síntese identitária”, um novo e estranho tipo de separatismo social. A ideia de que precisamos de “normas sociais e políticas que tratem os indivíduos não mais a partir de critérios igualitários e universalmente válidos, mas com base no grupo a que pertençam”. Isso valendo para a atribuição de direitos, oportunidades e mesmo na distribuição de vacinas e protocolos de atendimento médico, como mostra o livro.
John Gray, o filósofo britânico, também escreveu a respeito em seu recém-lançado Os Novos Leviatãs. Sua perspectiva é bem mais sombria: “Uma civilização liberal, pautada pela prática da tolerância”, diz ele, “pertence à história”. Isto é: foi superada. É evidente que há uma boa dose de provocação aí. Gray trata dos “novos leviatãs”, a China e Rússia de Putin à frente, mas inclui também o Ocidente liberal na conta do “impulso totalitário” contemporâneo. “Nas escolas e universidades”, diz”, se induz a conformidade com a ideologia progressista dominante, e a arte é julgada pelo seu alinhamento a uma retórica política”. De fato, o credo woke, ou a “síntese identitária” de Mounk (Gray gosta de usar o termo hyper-liberalism), vem se tornando hegemônico, nos meios de opinião, em nossas democracias. O Brasil mesmo tem sido um laboratório precário disso tudo. Profusão de palavras proibidas, censura ao humor, ideologização do ensino. Ainda nesta semana tivemos um sinal disso tudo, com aquela grotesca pergunta no Enem sobre o agronegócio. A pergunta interessante a fazer é: isto é um mal-estar passageiro ou algo mais profundo? Em que medida é possível dizer que o projeto liberal-democrático moderno está posto em questão, dada a oposição com toques de milenarismo entre o progressismo woke e isto que Mounk chama de “direita populista” (um tanto difícil de definir)?
“Há uma disputa em torno dos valores que irão forjar nossas instituições”
O filósofo português João Pereira Coutinho deu uma resposta mais otimista sobre o problema. Algo na linha: as democracias liberais são imperfeitas, há radicalismos por todos os lados, mas o sistema continua funcionando, em linhas gerais. “Sou livre de ignorar essas paixões”, diz ele, “rir dos dois lados, optando sensatamente pela sensatez”. Coutinho está certo, mas há um incômodo em seu argumento. De fato, é risível comparar nossas democracias com regimes totalitários. Coisa bem diferente é dizer que somos livres para “rir e criticar” quem quer que seja, em particular o apostolado identitário. O caso do professor Bilkszto está aí, gritando nos nossos ouvidos. E há uma enormidade de dados nessa mesma direção. Nada menos que 63% dos jovens universitários identificados como conservadores, hoje, nos Estados Unidos, dizem ter medo de expor suas ideias em sala de aula. Se alguém quiser ter uma boa ideia do custo disso tudo, sugiro dar uma olhada nos relatórios da FIRE, a Fundação para os Direitos Individuais na Educação. Foi o caso da professora Kathleen Stock, da Universidade de Sussex, devidamente “saída” da universidade por argumentar que o “sexo biológico não é uma construção social”. João Pereira conhece bem esses dados. O ponto é: quando somos livres, mas precisamos pagar um preço cada vez mais alto pela nossa liberdade, talvez valha a pena parar e pensar um pouco a respeito. Quando se é livre, desde que em mais e mais espaços da vida se tenha que baixar a cabeça, talvez de fato se comece a desconfiar que alguma não vai bem no elegante edifício de nossas democracias liberais.
Há uma disputa em torno dos valores que irão forjar nossas instituições, gerações à frente. De um lado, os valores sedimentados na grande tradição iluminista e sua crença na igualdade de status e de direitos. A convicção de que a diversidade humana não deve ser capturada por critérios politicamente arbitrados ou estanques, sejam ligados a raça, gênero ou orientação sexual — ou a qualquer outro. Que é parte essencial do exercício da liberdade a autodefinição, ou a “autoria” que cada um produz sobre si mesmo. E não o enquadramento. Ou então vamos cedendo à nova engenharia identitária, e passo a passo ajustando nossas instituições e nossa cultura a hierarquias de virtude. E logo de direitos. Como sempre, na história, estamos diante de escolhas. A advertência de Mounk é a mesma que fez Camus, a seu tempo: “Toda ideia, levada a seu extremo, pode levar a sua própria negação”. É esta, no fundo, a armadilha, na qual, penso, deveríamos prestar atenção.
Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper
Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA
Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 A reação do comandante do Exército aos ataques de Malafaia
A reação do comandante do Exército aos ataques de Malafaia A cena forte que vai ao ar em ‘Renascer’ – e não existia na trama original
A cena forte que vai ao ar em ‘Renascer’ – e não existia na trama original Juiz de Santa Catarina processa Ivete Sangalo
Juiz de Santa Catarina processa Ivete Sangalo Galvão Bueno tem contas penhoradas por dívida milionária de vinícola
Galvão Bueno tem contas penhoradas por dívida milionária de vinícola Martinho da Vila: ‘Ludmilla não entende de religiões africanas’
Martinho da Vila: ‘Ludmilla não entende de religiões africanas’







