 Na saúde, não há espaço para “nós” contra “eles”. Ou não deveria haver. A hesitação e a crença em teorias sem base científica podem fazer a diferença entre viver e morrer. Vacinas, por exemplo: tomá-las é proteger-se contra doenças, não tomá-las é ficar sujeito a elas. A escolha é simples. No entanto, 2018 foi o ano em que os brasileiros relaxaram na vacinação. A tendência vinha sendo notada havia algum tempo, mas agora explodiu. Na campanha da “gotinha” contra a poliomielite, enfermidade grave erradicada do Brasil há mais de vinte anos, o comparecimento caiu. Entre 2015 e 2017, a vacinação foi de 98,3% para 79,5% — um desastre. Uma das razões para a ausência é precisamente o enorme sucesso das campanhas de vacinação: há tanto tempo não se ouve falar de crianças com pólio ou varíola que a preocupação está deixando de existir.
Na saúde, não há espaço para “nós” contra “eles”. Ou não deveria haver. A hesitação e a crença em teorias sem base científica podem fazer a diferença entre viver e morrer. Vacinas, por exemplo: tomá-las é proteger-se contra doenças, não tomá-las é ficar sujeito a elas. A escolha é simples. No entanto, 2018 foi o ano em que os brasileiros relaxaram na vacinação. A tendência vinha sendo notada havia algum tempo, mas agora explodiu. Na campanha da “gotinha” contra a poliomielite, enfermidade grave erradicada do Brasil há mais de vinte anos, o comparecimento caiu. Entre 2015 e 2017, a vacinação foi de 98,3% para 79,5% — um desastre. Uma das razões para a ausência é precisamente o enorme sucesso das campanhas de vacinação: há tanto tempo não se ouve falar de crianças com pólio ou varíola que a preocupação está deixando de existir.
Isso tanto é verdade que, quando a preocupação volta, voltam também as filas quilométricas nos postos de vacinação. Foi o que aconteceu com o fantasma da febre amarela, que ressurgiu no Sul e no Sudeste a bordo dos mosquitos Haemagogus e Sabethes, circulantes apenas em matas, e levou famílias inteiras a atravessar a madrugada na calçada, em São Paulo e no Rio de Janeiro, à espera de uma dose de proteção contra o vírus, que se alastrou rapidamente. Em São Paulo, o Zoológico, o Jardim Botânico e outros parques e reservas fecharam devido a mortes suspeitas de macacos, o primeiro indício da presença da doença. De 1º de janeiro a 8 de novembro, foram registrados 1 311 casos e 450 mortes no Brasil em decorrência da febre amarela, quase o dobro do verificado no mesmo período de 2017.
No avesso da imunização em massa houve uma tomada de posição importada dos Estados Unidos e da Europa: a convicção infundada de que vacinas fazem mal. Essa balela sempre existiu, mas agora as redes sociais têm se encarregado de propagá-la por todos os cantos do planeta, criando situações impensáveis até pouco tempo atrás. Na Itália, pais chegaram a ir às ruas em 2017 protestar contra a legislação que introduziu a obrigatoriedade de imunização das crianças. A atual ministra da Saúde, Giulia Grillo, do direitista Movimento Cinco Estrelas, que assumiu o governo neste ano, já deu indícios de que apoia uma revisão da lei. No Brasil, a vacina contra a febre amarela foi um dos alvos da campanha de descrédito. O índice de segurança dela é de 95%. As estatísticas mostram que apenas uma em cada 400 000 pessoas imunizadas sofre alguma reação grave, como hemorragia e falência hepática ou renal. No entanto, enquanto as filas se estendiam nos postos, uma parcela da população, por medo de adoecer, insistia em fugir dessa que é a principal proteção contra a doença.
O foco mais estridente da epidemia antivacina parte dos Estados Unidos, onde até o presidente Donald Trump já avalizou uma das bobagens mais repetidas: a relação da imunização com o autismo. É uma bobagem com autor conhecido: o médico inglês Andrew Wakefield, que há vinte anos publicou um artigo na revista científica The Lancet no qual associou a vacina tríplice (contra caxumba, rubéola e sarampo) a um risco aumentado de autismo. No estudo, Wakefield dizia ter acompanhado doze crianças que desenvolveram a doença depois de tomar a tríplice. Ele sonegou duas informações decisivas: já havia indícios de autismo nas crianças antes da imunização e o médico tinha interesse em desacreditar a vacina porque preparava um processo contra um fabricante. Foi desmascarado, acusado de fraudador e antiético e teve o registro profissional cassado — mas sua estultice continua circulando por aí.
O medo de vacinas e os protestos contra sua obrigatoriedade fazem parte da história. No Brasil, a população do Rio de Janeiro promoveu violentas manifestações no início do século XX — episódio que ficou conhecido como Revolta da Vacina — ao reagir contra a obrigação de se imunizar contra a varíola, que assolava a cidade de tempos em tempos. A campanha, montada pelo sanitarista Oswaldo Cruz (1872-1917), foi em frente — e livrou a cidade da doença.

O argumento de que as leis compulsórias de vacinação ferem as liberdades individuais tem base jurídica e é utilizado, muitas vezes com sucesso, sobretudo no caso de restrições religiosas. O problema é um conflito entre individualidade e coletividade: a criança que não toma a vacina está expondo a risco outras crianças. Em outras palavras: na vida civilizada, o bem comum tem de se sobrepor ao individual. Para que a imunização tenha efeito, é necessário que mais de 95% das pessoas de uma comunidade estejam vacinadas. “Dizer ‘não’ é um direito, mas, se afeta a saúde pública, esse direito deixa de ser inalienável”, afirma o infectologista Artur Timerman, presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses. Às vezes, basta um caso para arruinar um esforço de décadas. Em fevereiro, em Boa Vista, capital de Roraima, um bebê da Venezuela chegou à cidade com sarampo. Se todos estivessem vacinados, isso não seria problema. Mas, como a cobertura tem sido falha, aconteceu o pior: em novembro já se contavam 9 000 novos casos de sarampo no país. O árduo trabalho que erradicou a doença no Brasil há três anos estava destruído.
Mas nenhum espetáculo de polarização foi tão barulhento quanto a polêmica sobre a presença dos cubanos no programa Mais Médicos, criado pelo governo do PT. Os primeiros desembarcaram no Brasil em 2013, e, com o tempo, o contingente bateu em 8 332. O presidente eleito Jair Bolsonaro nunca gostou do programa — porque os médicos eram de Cuba e o governo de Havana retinha 75% do salário que os profissionais recebiam. Chegou a dizer que eram agentes, espiões e militares disfarçados de médicos. Insultados, os cubanos foram embora (leia artigo neste link). E até hoje o governo ainda não conseguiu repor todas as vagas abertas com a saída dos cubanos. Resultado: alguns milhares de brasileiros humildes estão sem atendimento médico.

Também houve outro paradoxo na área da saúde que, ao contrário do que ocorreu com os cubanos, não fez barulho algum. Tristemente, num país tão desigual como o Brasil, soube-se que o investimento no setor privado vem crescendo mais do que no setor público. Entre 2009 e 2017, o aporte de verbas aos hospitais particulares saltou de 254 bilhões para 375 bilhões de reais, um aumento de 47%. No mesmo período, os investimentos no SUS, o sistema público de saúde, subiram só 31%. No mundo ideal, deveria ser o contrário. O SUS, que em 2018 completou trinta anos, atende 150 milhões de pessoas. E esse contingente deve crescer. Nos últimos dois anos, em decorrência da crise econômica, 2,5 milhões de brasileiros ficaram sem o convênio médico privado.
A crise teve impacto generalizado na área da saúde. Entre 2010 e 2015, o Brasil perdeu 23 600 leitos destinados a internações por mais de 24 horas. Não há fórmulas mágicas, infelizmente — e essa é uma lição para 2019. Diz Henrique Prata, presidente de seis hospitais especializados em câncer no país que atendem gratuitamente e cuja sobrevivência depende na maior parte da filantropia: “Os médicos da medicina privada são como doutores do rei”. A frase ilumina uma distorção: os profissionais mais influentes veem só o privado, quando deveriam enxergar o público.
Publicado em VEJA de 26 de dezembro de 2018, edição nº 2614


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO




 Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll
Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll Público toma atitude contra personagem de ‘Mania de Você’
Público toma atitude contra personagem de ‘Mania de Você’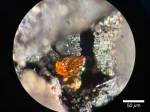 Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa?
Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa? PGR vê crime em discurso de bolsonarista contra religiões africanas
PGR vê crime em discurso de bolsonarista contra religiões africanas As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades
As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades








