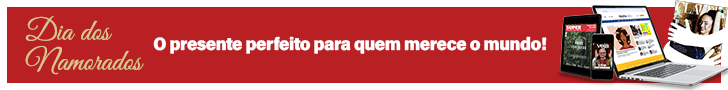Os bastidores da disputa interna que ameaça implodir o Aliança pelo Brasil
Criado para abrigar o presidente e seus correligionários, o partido já enfrenta racha entre caciques e sofre processo de debandada

O plano de criar o Aliança pelo Brasil, a nova legenda do bolsonarismo, a tempo das eleições de 2020 flertava com o fracasso desde o início — nos bastidores, até o presidente Jair Bolsonaro admitia que a possibilidade era remota. Lançada em novembro de 2019, a legenda precisaria ser viabilizada em menos de 150 dias, até abril deste ano, para estar apta a inscrever candidatos a prefeito e vereador. Mas era preciso manter a narrativa e mobilizar a militância para tentar criar do nada o autodenominado “primeiro partido conservador de direita do Brasil”. No início de 2020, os dirigentes divulgaram uma nota em que diziam “estar certos” de que conseguiriam as adesões necessárias no prazo. Não chegaram nem perto: até julho, apenas 15 834 assinaturas de apoio haviam sido validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral — 3,2% do mínimo de 492 000 exigidas. Em meio às dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus e com o veto da Justiça Eleitoral à possibilidade de coletar apoiamentos por meio digital, a futura agremiação, cujo símbolo é uma aliança de casamento, vive um racha interno no seu núcleo duro e enfrenta um processo de debandada antes mesmo da sua formalização.

O naufrágio do projeto bolsonarista incluiu até o fiasco de ver 26 398 assinaturas ser recusadas pela Justiça Eleitoral por uma série de motivos, que vão desde eleitores filiados a outras siglas até pessoas que já morreram há anos ou que simplesmente não existem. Os líderes do Aliança dizem ter mais de 300 000 e culpam os cartórios fechados e a proibição de convenções durante a crise sanitária. De fato, o novo coronavírus atrapalhou. Mas não há como ignorar o peso das brigas internas no processo de derrocada precoce, com destaque para os conflitos entre os três principais coordenadores do partido — os advogados Karina Kufa, Luís Felipe Belmonte e Admar Gonzaga. “Isso foi o que mais atrapalhou”, admitiu a VEJA um auxiliar direto de Bolsonaro sob condição de anonimato.

Entre os caciques da sigla, o primeiro polo de confusões foi Admar Gonzaga, secretário-geral do Aliança e ex-ministro do TSE. Encarregado de estruturar o partido em Santa Catarina, estado que proporcionalmente mais votou em Bolsonaro em 2018, ele montou o seu quartel-general em Balneário Camboriú na frente de uma loja da Havan, do empresário Luciano Hang, e estreitou os laços com a família do ex-senador Jorge Bornhausen, considerado seu padrinho e representante de um dos clãs mais poderosos do estado. Deputados da linha “bolsonarista raiz” não gostaram da aproximação com a velha política e começaram a pedir a cabeça de Admar. Para desgastá-lo, levantaram o histórico de seu braço direito em Santa Catarina, o empresário Roberto Castagnaro. Em 2006, Castagnaro foi envolvido numa operação da Polícia Federal que investigava um esquema de lavagem de dinheiro para um cartel de drogas mexicano. Ele foi inocentado das acusações, mas o episódio pegou mal. Bolsonaristas levaram o caso ao presidente por intermédio da tesoureira da sigla, Karina Kufa. O capitão teria ficado furioso com o que ouviu. Trazido ao time justamente por sua experiência — conseguiu criar o PSD de Gilberto Kassab em seis meses e já tinha advogado as campanhas de FHC e Dilma —, Admar saiu de cena.
Em seguida, entraram em conflito Kufa e Belmonte, o número 3 do Aliança e um dos financiadores do projeto. Um não concordava com o outro em algumas estratégias jurídicas. Segundo um dirigente, era uma relação estilo gangorra: quando um subia, o outro descia. Para entornar o caldo, Belmonte e o marqueteiro do partido, Sergio Lima, foram alvo em junho de busca e apreensão pela PF, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sob a suspeita de apoiarem financeiramente atos antidemocráticos. No dia da operação, Kufa disse que “se algum integrante está financiando ataques às instituições, obviamente não será aceito no partido e faremos a expulsão”.
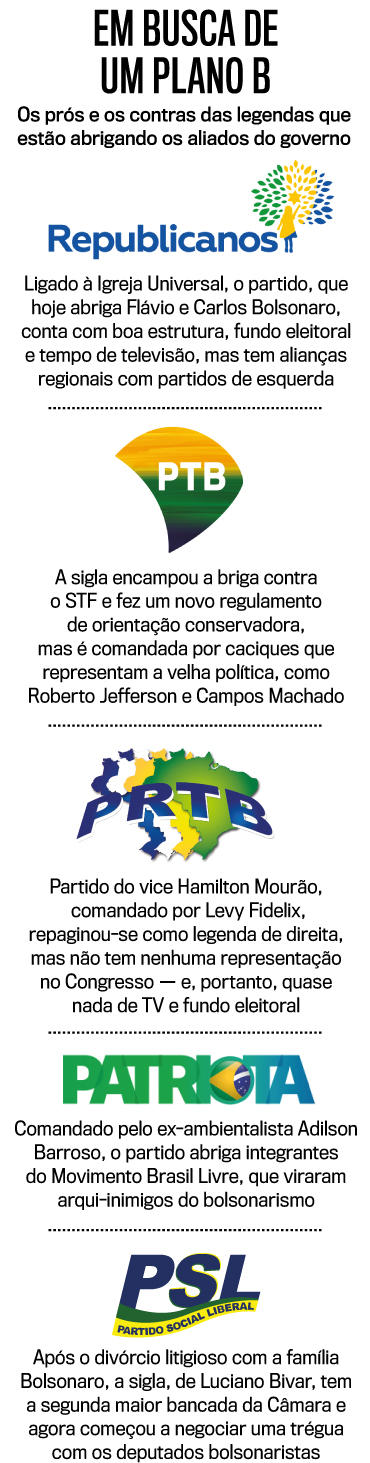
A briga chegou ao ápice após a advogada ter ido a Bolsonaro denunciar supostas irregularidades na contratação de serviços por Belmonte. Depois de um tempo sumido, aliás, o advogado chefiou, no sábado 18, uma reunião com deputados e voluntários empenhados em tirar a sigla do papel. Na ocasião, Bolsonaro disse que Belmonte era o “comandante” da empreitada. Kufa também virou alvo da militância bolsonarista devido à sua boa relação com os ministros do STF. Fora do Aliança, ela ainda arranjou encrenca com o advogado Frederick Wassef ao dizer que ele não tinha procuração de Bolsonaro para atuar em processos do presidente. Wassef, que ficou na linha de tiro depois que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi preso em uma casa sua em Atibaia (SP), rompeu com Kufa. Por outro lado, a advogada mantém uma ótima relação com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e assumiu recentemente a defesa do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) em questões eleitorais e no processo que apura funcionários-fantasma em seu gabinete. Ela também é amiga de Luciana Pires, a nova advogada de Flávio após a saída de Wassef da defesa do senador.

Em meio a essa confusão e sabendo do potencial eleitoral do nome Bolsonaro, caciques de outros partidos começaram a se movimentar para atrair os órfãos do Aliança (veja o quadro ao lado). Um deles foi o presidente do PTB, Roberto Jefferson, ex-aliado de Collor, Lula e Temer. Ele mudou o estatuto do partido para uma cartilha conservadora e passou a atacar ministros do STF para agradar aos bolsonaristas. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do mensalão, do qual foi uma das estrelas, Jefferson está longe de representar a nova política. Recentemente, conseguiu atrair para o PTB a promessa de filiação do deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), que era vice-líder do governo e um dos entusiastas do Aliança. A empolgação com o novo partido, ao que parece, acabou. “Sou mais útil para o presidente em outra sigla”, afirma Otoni. Assim como ele, alguns deputados bolsonaristas tiveram de abandonar o sonho de disputar a prefeitura pelo Aliança por causa do imbróglio da sigla. “Saíram três do nosso grupo nesta semana, mas não tem problema. Seremos o maior partido da América Latina”, diz o deputado Bibo Nunes (PSL-RS), que organiza o Aliança no Rio Grande do Sul.

Diante do desânimo geral, Eduardo Bolsonaro gravou vídeos conclamando a militância a “não cair em enredos da imprensa” e dizendo que “ainda há tempo”. O partido vem montando estandes para coletar assinaturas nos atos pró-Bolsonaro que têm ocorrido praticamente todo fim de semana. No domingo 19, o presidente declarou que o projeto Aliança continuava de pé, mas admitiu que “tem alternativa, caso dê errado”. A meta de criação da sigla já foi ajustada para 2021, mas há quem ache difícil isso acontecer até 2022. No ritmo atual de confusões, tudo leva a crer que o capitão vai precisar de uma legenda de aluguel na campanha da reeleição, como o seu casamento de conveniência com o PSL em 2018. Caso a previsão se confirme, a ação não deve provocar nenhum constrangimento. O desapego à fidelidade partidária é uma das marcas de Bolsonaro, que já passou por nove legendas ao longo da carreira. Seria “apenas” a décima mudança em 31 anos de trajetória política.
Publicado em VEJA de 29 de julho de 2020, edição nº 2697


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Gilberto Gil toma atitude para apoiar Preta Gil
Gilberto Gil toma atitude para apoiar Preta Gil Putin exige garantia de líderes do Ocidente como condição para encerrar guerra na Ucrânia
Putin exige garantia de líderes do Ocidente como condição para encerrar guerra na Ucrânia