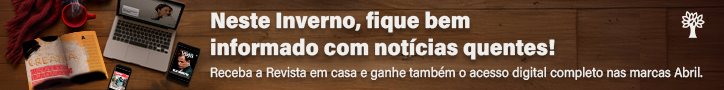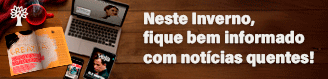Barry Jenkins, diretor de ‘Mufasa’, a VEJA: ‘Quis experimentar algo novo’
Cineasta conhecido por dramas independentes como o oscarizado 'Moonlight' faz sua estreia na direção de um blockbuster

Quando foi escalado para dirigir Mufasa: O Rei Leão, sequência do remake hiper-realista de O Rei Leão, Barry Jenkins sabia que seus fãs receberiam a notícia com certa resistência. Vencedor do Oscar de melhor filme por Moonlight: Sob a Luz do Luar — que recebeu a estatueta após uma gafe histórica envolvendo La La Land, em 2017–, o cineasta americano fez carreira escrevendo e dirigindo filmes independentes, bem diferentes do blockbuster da Disney que aceitara chefiar. Em entrevista a VEJA, Jenkins falou sobre os desafios do novo projeto — em cartaz nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira, 19 –, as semelhanças narrativas entre O Rei Leão e Moonlight e mais. Confira os principais trechos:
O que o senhor pensa do ceticismo em relação a Mufasa das pessoas que são fãs do seu trabalho no cinema independente? Ao fazer Mufasa, eu imaginava que o ceticismo estaria em um nível altíssimo. Mas depois de Moonlight, fiz Se a Rua Beale Falasse e The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade, e o uso de efeitos visuais foi aumentando gradativamente a cada produção. Há uma cena em Rua Beale que me deixa muito orgulhoso: o nascimento de um bebê em uma banheira. Foi minha primeira experiência com efeitos visuais. Depois, The Underground Railroad trouxe ainda mais efeitos. O uso de CGI aumentou a cada projeto, mas esses três filmes mantiveram uma atmosfera e um tom semelhantes. Para mim, eles formam um conjunto coeso. O último ano de produção de The Underground Railroad e o primeiro ano de Mufasa se sobrepuseram, e foi aí eu soube que estava na hora de tentar algo muito, muito diferente. E, sinceramente, algo muito mais lento, porque esses três projetos anteriores aconteceram em um ritmo frenético. Trabalhar com mais calma foi uma mudança ótima.
Por que? Quando se trabalha em algo como Moonlight ou The Underground Railroad, há liberdade total, você cria as regras conforme avança. Já O Rei Leão existe há 30 anos. As regras estão bem definidas, as pessoas conhecem e amam esses personagens. Então, o desafio é: como criar algo novo dentro dessas regras? E, mais importante, como deixar minha marca sem alterar o DNA da história? Esse foi um grande desafio, mas também algo muito gratificante.
Além de produzir um filme que faz parte de uma franquia, o senhor teve que trabalhar com a estética do remake de O Rei Leão de 2019, dirigido por Jon Favreau. Como conseguiu colocar sua própria imaginação visual no filme, mantendo-o reconhecível, mas único? Uma bênção nesse processo foi trabalhar com os mesmos animadores que participaram do filme de Jon em 2019. Antes disso, eles haviam trabalhado em Mogli: O Menino Lobo (2016), que também envolvia animais, ainda que de outras espécies. Eles aprenderam muito naquele projeto, e tivemos a vantagem de começar Mufasa já com todo esse conhecimento acumulado. Desde o início, deixei claro que meu trabalho inclui muitos movimentos de câmera e retratos de rostos humanos. Esses elementos precisavam estar presentes no filme, mas, bem, o rosto de um leão não é como o de um humano. Em um rosto humano, o público consegue reconhecer expressões com facilidade.
Pode dar um exemplo? Quando você vê alguém com a boca aberta e as sobrancelhas levantadas, você sabe que a pessoa está surpresa. São pistas visuais que todos entendem instintivamente. Já em um leão, não temos essa familiaridade. O público está acostumado com a animação de 1994, em que os movimentos dos leões eram muito estilizados. Não havia compromisso com a forma como um leão de verdade se move. Por isso, o desafio foi criar uma gramática visual que permitisse ao público entender as emoções dos leões. Também escutamos os atores, o que foi importantíssimo. A primeira coisa que fizemos foi gravar todas as falas do filme, porque as performances dos dubladores são muito poderosas. O objetivo era garantir que a animação refletisse essa intensidade. Se não refletisse, fazíamos tudo de novo até alcançarmos o nível de emoção que eu considerava adequado ao padrão estabelecido em 1994.
Narrativamente, esse filme tem várias similaridades com Moonlight – ambos acompanham o crescimento de um personagem e a forma como as pressões sociais moldam alguém da infância à vida adulta. O que torna esse arco de tempo interessante para o senhor, como cineasta? O público conhece o Mufasa há muito tempo, já são 30 anos desde a animação de 1994. Naquele filme, a dinâmica entre ele e o irmão era clara: Mufasa é bom, Scar é mau. E só. O que adoro no novo filme é que podemos desconstruir completamente essa ideia, porque ninguém nasce bom ou mau. Ninguém é essencialmente malvado. Quando você ouve a dublagem [original, em inglês] do filme de 1994, especialmente a voz de Jeremy Irons como Scar, percebe que, sim, esse personagem é mau, mas ele também está ferido, magoado, com o coração partido. Há uma dualidade nessa performance. A maldade é evidente, mas há algo a mais por trás. Exploramos bastante essa complexidade em Mufasa.
Como? Se o filme de 1994 era preto e branco — há um personagem bom e um mau, sem nuances —, o nosso é cheio de tons de cinza. Foi uma oportunidade incrível. E falando sobre Moonlight, as pessoas geralmente não percebem que esse filme explora bastante o subconsciente dos personagens. Há sonhos em cada capítulo da história. Então pensei: seria interessante explorar, também, os sonhos de Mufasa. Utilizando um estilo onírico, o público vai deixar de lado essa cobrança por realismo excessivo que é comum em live-actions. Afinal, estamos falando de um filme da Disney, o estúdio que criou Fantasia. Minha intenção era justamente utilizar esse estilo de animação criativo que é uma marca registrada deles.
O filme original já retratava a cultura africana, e a peça teatral de Julie Taymor se aprofundou ainda mais nisso. Na sua visão, como o filme Mufasa se conecta com essas raízes, seja pela música ou pelos visuais? Fico feliz que você mencionou a produção teatral, porque eu não a tinha visto antes de aceitar esse trabalho. Assim que aceitei, fui para Nova York assistir. Fiquei impressionado com o quão boa ficou a representação do continente africano na peça. Era muito importante para mim que Mufasa também se situasse nesse espaço, mantendo a fidelidade ao filme de 1994 e ao mesmo tempo abraçando as mudanças que Julie Taymor e Lebo M [diretora e compositor da peça, respectivamente] trouxeram no musical. Nosso filme é uma jornada. Logo no início, Mark Friedberg, nosso designer de produção, criou um mapa que representava de onde vêm Mufasa e seus companheiros, Sarabi, Zazu, e Rafiki, e para onde eles estão indo. Então incorporamos ao filme sons e paisagens de todas essas diferentes regiões da África. Foi uma oportunidade maravilhosa. Quando O Rei Leão original estreou, foi incrível ver um filme ambientado totalmente na África se tornar fenômeno global, mas ele representava uma parte muito pequena e específica do continente. Nosso filme se passa em uma área mais abrangente. No primeiro trailer, por exemplo, fizemos questão de mostrar cenas de neve, e choveram comentários dizendo: “Como assim, leões na neve? Isso não faz o menor sentido”. Mas leões na neve já foram vistos na África, mesmo que em momentos raros. Esse também é o reino de O Rei Leão.
Após este projeto, o senhor se vê interessado em dirigir mais blockbusters – como Greta Gerwig, que foi de Barbie para As Crônicas de Nárnia – ou é algo que depende da história? Depende da história. Quando o projeto de Mufasa chegou até mim, fui extremamente cético. Inicialmente eu o recusei, pensando: “Não, isso não é para mim. Não vou fazer”. Até que meus agentes me ligaram e disseram que o roteiro havia chegado. Perguntei se eles já haviam lido, mas eles não tinham permissão. Só eu podia ler, era codificado. Na época eu estava de férias com minha esposa, Lulu Wang, então disse que não leria. Mas, para ser respeitoso, decidi dar uma olhada alguns dias depois. Aquele sentimento de “um cineasta como eu não faria um filme assim” ainda estava presente, mas lá pela página 45, eu me virei para Lulu e disse: “Isso é realmente muito bom”. A história me conquistou, não pude negar. Ela superou qualquer preconceito que eu tinha sobre o formato do filme. Era sobre os personagens, sobre o que eu poderia trazer esteticamente para o projeto. Também era sobre trabalhar de uma maneira diferente. Depois de oito anos consecutivos trabalhando sempre do mesmo jeito, eu achei que minha mente, corpo e coração precisavam de uma pausa. Quis experimentar algo novo, novas ferramentas de narrativa, e fico muito feliz por ter feito isso.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Morre Julian McMahon, ator de FBI e Quarteto Fantástico, aos 56 anos
Morre Julian McMahon, ator de FBI e Quarteto Fantástico, aos 56 anos Os relatos de vizinhos sobre família morta por filho adolescente no Rio: ‘Ficamos sem chão’
Os relatos de vizinhos sobre família morta por filho adolescente no Rio: ‘Ficamos sem chão’ Instituto ligado à igreja de Michelle Bolsonaro recebeu recursos de emendas parlamentares
Instituto ligado à igreja de Michelle Bolsonaro recebeu recursos de emendas parlamentares Cápsula espacial cai no mar com restos mortais e sementes de cannabis a bordo
Cápsula espacial cai no mar com restos mortais e sementes de cannabis a bordo Adolescente que matou família no RJ tinha gostos perturbadores, diz polícia
Adolescente que matou família no RJ tinha gostos perturbadores, diz polícia