
Cada resposta escavada gera uma nova pergunta — pelo menos é o que os arqueólogos costumam dizer. E a descoberta de mais manuscritos ancestrais no deserto a oeste do Mar Morto, no Oriente Médio, anunciada com estardalhaço há alguns dias, vem corroborar o lema: foi encaixada outra peça no quebra-cabeça de uma saga da civilização que começou no século XIX e que até hoje fomenta acalorados debates intelectuais e, na mesma medida, o pior do ser humano — cobiça, inveja e fraude, não necessariamente nessa ordem. Suas origens, entretanto, não estão nos museus para onde os pergaminhos estão sendo levados, mas nas areias do tempo.
Manuscritos milenares são um cálice sagrado para a arqueologia, pois a maioria deles não sobrevive aos séculos. Mas, quando encontrados, podem mudar o conhecimento. Foi por esse motivo que quinze pergaminhos, que teriam vindo de uma caverna às margens do Mar Morto, causaram sensação internacional no distante ano de 1883. Seu descobridor, o antiquário Moses Shapira, afirmava tratar-se de fragmentos do Deuteronômio, livro do Velho Testamento com as leis de Moisés. Shapira vendeu o achado por uma pequena fortuna ao Museu Britânico, que, antes de pagar por ele, contratou um especialista para aferir a autenticidade. O veredicto foi devastador: o material era falso. Humilhado, o antiquário cometeu suicídio seis meses depois. Os manuscritos foram a leilão por uma ninharia e — eis aqui o primeiro enigma — desapareceram para sempre.
As dunas do tempo cobriram o caso, até que, em 1947, dois pastores de cabras, bisbilhotando uma caverna em Qumran, no mítico Deserto da Judeia, encontram pedaços de couro com inscrições em hebraico antigo. Inadvertidamente, eles haviam feito uma descoberta histórica: sete pergaminhos, com cerca de 2 000 anos, que, depois de passar pelas mãos de comerciantes e leiloeiros, acharam lar definitivo no Museu de Jerusalém, em Israel. Uma reprodução do mais completo deles — o Livro de Isaías do Velho Testamento — está no expositor circular do majestoso Santuário do Livro. Autenticados por experts, os manuscritos do Mar Morto, como ficaram conhecidos, provocaram uma corrida por mais artefatos nas mais de 600 cavernas da região. Milhares de outros fragmentos foram encontrados, às vezes do tamanho de uma unha, tanto por arqueólogos respeitados quanto por negociantes sedentos por lucro.

O anúncio recente de mais pedaços de manuscritos descobertos em 2019 — e mantidos em segredo até há poucos dias para afastar saqueadores — reacendeu o interesse pelos povos que viveram na região em mais de uma época. Os fragmentos, escritos em grego, estavam em camadas inferiores da Caverna do Horror, cerca de 38 quilômetros ao sul de Qumran e assim chamada porque ali, em 1960, foram localizados os restos mortais de quarenta homens, mulheres e crianças — provavelmente vítimas do cerco romano aos judeus no século II. Na mesma caverna, cuja entrada está em uma ravina acessível só por cordas, foram encontrados um vaso de mais de 10 000 anos e a múmia de 4 000 anos de uma criança. Ainda não se sabe que tipo de revelação tais relíquias podem trazer. Como toda a região pulula de escritos em aramaico, hebraico e grego, e tendo em vista a descoberta de um artefato pré-histórico, estudiosos divergem sobre os grupos que habitaram as cavernas e que achados podem vir daí. As teorias vão desde tribos hebraicas que fugiram da queda de Jerusalém até grupos dissidentes do judaísmo, com os quais, apenas se especula, Jesus de Nazaré teria convivido.
E quanto a Shapira, que foi acusado de fraude? Alguns historiadores não se esqueceram dele. Estudando anotações e fotos do período, o professor Idan Dershowitz, da Universidade de Potsdam, na Alemanha, tem buscado restaurar a reputação do antiquário. Talvez Shapira tenha sido vítima de um golpe para lhe tirar a glória. Seria mais fácil saber a verdade com a tecnologia de hoje. No ano passado, foi provado que os manuscritos do Mar Morto expostos no Museu da Bíblia, em Washington, eram falsos. Os curadores foram vítimas de um engodo, desbaratado graças a investigadores armados com escâneres e softwares. No século XXI, até a arqueologia pode se apoiar na inteligência artificial.
Publicado em VEJA de 7 de abril de 2021, edição nº 2732






 Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll
Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll Público toma atitude contra personagem de ‘Mania de Você’
Público toma atitude contra personagem de ‘Mania de Você’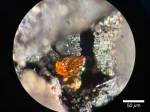 Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa?
Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa? As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades
As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades PGR vê crime em discurso de bolsonarista contra religiões africanas
PGR vê crime em discurso de bolsonarista contra religiões africanas








