#20 A MEMÓRIA: É melhor esquecer
Ao preservar em detalhes muito da história de vida de cada um, a internet pode inibir a capacidade que o homem tem de seguir em frente


O mitólogo romeno Mircea Eliade (1907-1986) ensinava que cabe aos mitos explicar de que modo determinada realidade passou a existir — de uma simples planta às experiências humanas. Assim, de acordo com a mitologia grega, a deusa Mnemosine era a personificação da memória, e Lete, do esquecimento. A mãe da primeira era Gaia (a Terra); a da outra, ninguém menos do que Êris (a deusa Discórdia). Mnemosine, representação da memória, teve nove filhas: as musas, inspiradoras dos poetas. Já Lete, a alegoria do esquecimento, é frequentemente mencionada nas narrativas tradicionais como irmã de Hipnos (o Sono) e de Tânatos (a Morte). Examinando-se tais concepções mitológicas, seria razoável atribuir a elas a explicação para a verdadeira obsessão do homem pela memória e seu horror ao esquecimento. Afinal, por que escolher a filha da Discórdia em lugar da mãe das inspirações literárias? Só há um problema nessa preferência: em razão de sua natureza biológica, o ser humano aparentemente está programado para se esquecer das coisas e não para se lembrar delas. Segundo o neurocirurgião americano Eric Leuthardt, da Washington University, o esquecimento seria uma forma encontrada pelo cérebro para se livrar do que é irrelevante e se concentrar no que de fato importa. “Esquecer não é uma falha, mas uma solução evolucionária”, escreveu ele na revista Psychology Today.
A fim de superar o que era de algum modo sentido como uma falha, a fragilidade da memória, o homem criou uma série de recursos para driblar o esquecimento — dos desenhos rupestres à poderosa escrita. Ler e escrever, contudo, se mantiveram durante milênios como habilidades de poucos. Apenas no início do século XX os níveis de analfabetismo começaram a cair, e livros e jornais passaram a ser mais lidos. O papel, porém, sofre o desgaste do tempo e custa caro. Esquecer, portanto, continuava mais “natural” do que lembrar.
Foi então que a internet começou a mudar tudo isso. A persistência e a capacidade da memória digital são quase um acinte ao cérebro humano. Não por acaso, os poderosos servidores do WikiLeaks — a bombástica organização criada pelo ciberativista australiano Julian Assange que publica em seu site documentos oficiais secretos — foram alojados em um bunker antinuclear, situado em Estocolmo, na Suécia, país-sede da empreitada. Com a web, recordar virou a regra — e esquecer, a exceção. “Hoje somos como uma criança em uma loja de doces. Uma vez que lembrar virou algo fácil e barato, não nos damos mais ao trabalho de apagar o que se tornou irrelevante”, disse a VEJA Viktor Mayer-Schönberger, professor de governança da internet na Universidade de Oxford e autor do livro Delete: the Virtue of Forgetting in the Digital Age (Apague: a virtude de esquecer na era digital).
Esquecer nos dias de hoje está cada vez mais difícil. A disseminação da realidade on-line, com destaque para as redes sociais, tornou quase impossível escapar do passado — em que pese a tecla “delete” —, e isso vem minando nossa capacidade de superar as diferenças. Aquela foto na qual você aparece sob efeito do álcool em uma festa da faculdade pode voltar como uma assombração durante uma disputa de emprego, anos mais tarde. O mesmo vale para a mensagem com conteúdo ofensivo enviada ao colega em um momento de fúria. “Reviver a própria história em detalhes proustianos inibiu o nosso poder de esquecer e, assim, o de perdoar — individualmente e como sociedade —, o que pode limitar nossa capacidade de seguir em frente”, acredita Mayer-Schönberger.

A novidade também pode fazer com que as pessoas passem a confiar mais no que aparece na tela do computador do que nas próprias lembranças. É perigoso. Como mostra a história, exercer controle sobre o passado de uma sociedade é um tipo de manobra apreciado pelos regimes totalitários — mesmo que para isso seja preciso adulterar documentos. Na extinta União Soviética, artistas eram contratados para retocar fotos oficiais e “apagar” das imagens os desafetos do regime. O mundo virtual não está livre dessa interferência. “Se substituirmos a confiança em nossas lembranças pela confiança na memória digital, os regimes ditatoriais não terão mais de controlar a mente de um indivíduo. Basta que controlem o depositório de nosso passado coletivo”, diz Mayer-Schönberger.
Nunca antes tanta informação esteve disponível para tantos — e de forma tão barata. Mais de 3,8 bilhões de pessoas usam a internet no planeta, produzindo algo em torno de 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia. Postam-se diariamente 67 milhões de fotos no Instagram e 4,3 bilhões de opiniões no Facebook, e 22 bilhões de mensagens de texto são trocadas. A quantidade global de dados é duplicada a cada ano, e com a internet das coisas ela dobrará a cada doze horas. Mesmo se estivéssemos dispostos a aceitar o preço da alienação tecnológica, ainda seríamos perseguidos pelos rastros digitais que os outros deixam sobre nós, como aqueles posts e tags de conhecidos. Como recuperar o controle sobre a própria história? As leis de proteção de dados podem ser um primeiro passo.
A discussão sobre privacidade surgiu com a ideia do “direito a ser deixado em paz”. Num artigo publicado em 1890 na Harvard Law Review, Louis Brandeis, futuro juiz da Suprema Corte dos EUA, argumentava que a legislação precisava se adaptar aos tempos modernos. Ele se referia à câmera fotográfica portátil, que causava alvoroço ao permitir a qualquer pessoa tirar fotos em qualquer lugar. O presidente americano Theodore Roosevelt (1858-1919) foi uma das vítimas da nova tecnologia. Ao deixar a missa durante sua primeira semana no cargo, foi surpreendido por um garoto de 15 anos que, de posse de uma Kodak portátil, passou a clicá-lo pelas ruas de Washington. Irritado, Roosevelt ordenou a um policial que ficasse entre ele e a lente enxerida. “Hoje é impossível falar nesse tipo de isolacionismo digital, mas podemos discutir um controle maior — aprender a nos revelar seletivamente”, sugere Alexandre Pacheco, da FGV-São Paulo.
É esse o princípio que ordena o “direito ao esquecimento”. Em 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia decretou que seus cidadãos teriam o direito à privacidade e à proteção de seus dados pessoais. Quem não se sentisse representado nas ferramentas de busca, em decorrência de informações irrelevantes ou inexatas, poderia pedir que os sites “desindexassem” o material. A informação permaneceria no local de origem, mas não mais nas plataformas de pesquisa. O Marco Civil da Internet, que regula a web brasileira, diz, em seu artigo 19, que qualquer pedido de remoção de conteúdo com base em ofensa deve ser decidido por um juiz — e não pelos sites de buscas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sancionada em agosto pelo presidente Michel Temer, avança nesse debate ao conferir aos brasileiros um certo direito ao apagamento. Funciona assim: se alguém discordar do uso de seus dados na web, pode pedir à Justiça que as informações sejam eliminadas ou retificadas. O mesmo ocorre se quiser deixar uma rede social — a partir do desligamento, o site em questão não poderá mais reter informações sobre o ex-usuário.
Para o pesquisador Sérgio Branco, autor de Memória e Esquecimento na Internet (Arquipélago Editorial, 2017), a web é um grande repositório da memória humana. Seria temerário ter um “botão para apagá-la”. Afirma Branco: “O melhor seria se as pessoas aprendessem a se comportar no universo virtual e assumissem a responsabilidade por suas postagens”. Enquanto isso não acontece, dispor de uma legislação que devolva ao indivíduo um pouco do controle sobre o uso de seus próprios dados é providencial. De qualquer modo, deve-se ter em mente esta observação: em grego, a negação da palavra lete, “esquecimento”, é aleteia — que significa “verdade”. Em tempos de redes sociais contaminadas pela invasão de privacidade e pelas fake news, essa é uma daquelas lições que não convém esquecer. Ou melhor: deve-se guardá-la na memória.
Publicado em VEJA de 26 de setembro de 2018, edição nº 2601

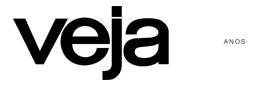

 Janja muda comportamento e ergue a bandeira branca aos militares
Janja muda comportamento e ergue a bandeira branca aos militares A reação do comandante do Exército aos ataques de Malafaia
A reação do comandante do Exército aos ataques de Malafaia Viúva de ex-diretor da Caixa pede 40 milhões de indenização ao banco
Viúva de ex-diretor da Caixa pede 40 milhões de indenização ao banco A cena forte que vai ao ar em ‘Renascer’ – e não existia na trama original
A cena forte que vai ao ar em ‘Renascer’ – e não existia na trama original TSE condena Lula a pagar R$ 250 mil em ação movida por Bolsonaro
TSE condena Lula a pagar R$ 250 mil em ação movida por Bolsonaro







