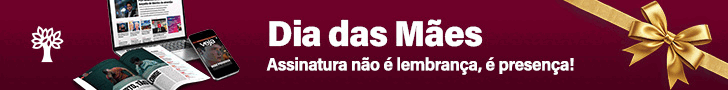Um outro Brasil
Em obra de fôlego, Jorge Caldeira percorre a trajetória econômica do país e descobre razões para otimismo — na iniciativa popular, não no desmando estatal

Todos temos uma imagem mental simplificada da história do Brasil, aprendida nos bancos escolares e nos clássicos que os inspiram. Do ponto de vista econômico, essa história é basicamente assim: o Brasil nasceu como um país de exploração da terra e do trabalho escravo visando à exportação de matérias-primas. Senhores de engenho (ou cafeicultores) e escravos representavam as duas classes sociais. No campo da política, um povo passivo e incapaz de se governar. Em História da Riqueza no Brasil, Jorge Caldeira nos traz um outro olhar. Passando por todos os períodos de nossa trajetória, realça aquilo que a narrativa oficial omitia, às vezes por pura carência de documentação. A história do Brasil aqui aparece pelo avesso: centrada na maioria de indivíduos livres, empreendedores e pequenos produtores rurais. Filhos de uniões entre portugueses, índios e negros libertos — ou seja, nem latifundiários, nem escravos — compunham a maior parte da população, sendo que menos da metade deles era branca. Na data da abolição, os escravos compunham 5% da população brasileira; os grandes fazendeiros, uma minoria ínfima; o resto era de cidadãos livres comuns, dos quais pouco se fala. O crescimento econômico — notável em quatro dos cinco séculos de nossa história — deveu-se antes de tudo a esses indivíduos livres, que constituíam o mercado interno em expansão. Eram também autônomos na construção de governos democráticos locais, como a Câmara de Vereadores de São Paulo, que existe desde o século XVI. Aliás, houve eleições democráticas (embora imperfeitas: só homens alfabetizados votavam) em nível municipal durante toda a história brasileira, com exceção do breve período do Estado Novo.
A história estuda o passado, mas nem por isso seu objeto é imóvel. Novas fontes e tecnologias permitem rever o que achávamos saber. Caldeira é capaz de contrariar a narrativa-padrão justamente porque tem acesso ao processamento digital de dados dispersos — como censos — e consegue assim estimar, ainda que de forma imprecisa, as magnitudes da nossa economia e de seu crescimento, tarefa difícil se temos em mente que por grande parte da história a moeda corrente (metais preciosos) foi muito escassa.
O Brasil retratado pelo historiador é filho da primeira expansão imperial portuguesa, de caráter “laico, mercantil e universalista”, e da cultura tupi. Mas, para compensar alguns reveses em suas ambições globais e salvaguardar seus preciosos segredos de navegação, o Estado português reverteu para uma orientação conservadora, agrária e religiosa (inquisitorial). Assim, reprimiu o avanço do saber e das letras entre nós (tipografias eram confiscadas até o século XIX) e esmagou as tentativas de progresso manufatureiro, que contudo puderam prosseguir no interior, mais distantes do poder imperial lusitano.
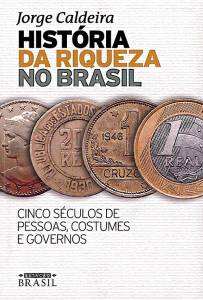
Longe do poder central, nossa população empreendia, criava e se miscigenava. O crescimento econômico da colônia era superior ao da metrópole. Em nossa independência, tivemos a sorte de ter como patriarca alguém como José Bonifácio, que, de forma visionária, enxergou na mestiçagem do povo um ativo, e não uma fraqueza do Brasil. Soube ele também criar um modelo de Estado mestiço, unindo o princípio iluminista do poder que emana do povo com características da monarquia absoluta. A obra política da independência foi bem-sucedida em manter o país de dimensões continentais unido, mas economicamente, argumenta Caldeira, o século XIX foi de estagnação. Nosso império não estava à altura dos desafios produtivos da era da industrialização, e, com sua tentativa fracassada de centralizar o comando e microgerenciar a economia, ficou para trás.
O período inicial da República viu um crescimento estrondoso. O Brasil estava mais uma vez pronto para alçar voo, mas a persistência de um imaginário conservador e dirigista sempre esteve ali para nos segurar. Entre altos e baixos, esse Estado centralizador, repressor e controlador — que se reeditou com Getúlio e com os militares — continuou a atrasar o progresso.
Caldeira retoma temas de sua obra anterior: o papel decisivo da cultura tupi em nossa formação, a prevalência da pequena propriedade produtiva e empreendedora, o mercado interno como motor do crescimento. A diferença está na articulação de uma grande história, com 600 páginas. A leitura nunca é árida, pois estamos sempre dialogando com personagens marcantes. No campo das ideias, que não é propriamente seu foco, poderia haver mais cuidado. Por exemplo: Caldeira atribui a Aristóteles uma teoria política simplista de monarquia absoluta e manutenção da escravidão, e vê a concepção aristotélica de mundo como responsável pelos desmandos reacionários do Estado português. Isso não é justo com um pensamento tão rico, que influenciou muitos iluministas e liberais. Do ponto de vista econômico, seria interessante tentar distinguir crescimento sustentável de surtos de expansão artificial. Sempre que a moeda se tornou abundante e o crédito barateou, o país cresceu, e Caldeira retrata esses momentos com imenso otimismo. Mas hoje, vivendo justamente a ressaca de uma experiência dessas, está claro que nem todo crescimento fácil vem para ficar.
Seja como for, Caldeira nos dá elementos para refundar a identidade nacional: não mais apenas o Brasil da carência, da exploração, da corrupção e da pobreza, mas um país dotado de imenso dinamismo interno e capacidade de crescer em meio a adversidades. É nesse Brasil informal e criador que mora nossa força. Falta abraçá-la e se abrir ao mundo. Fechamos o livro, mas o país continua aí, pronto para dar um passo além.
Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2017, edição nº 2554



 A ira de evangélicos com show de Lady Gaga no Rio
A ira de evangélicos com show de Lady Gaga no Rio Madrugada de terça-feira terá mais de 50 meteoros por hora
Madrugada de terça-feira terá mais de 50 meteoros por hora A surpreendente recuperação da Antártida: camada de gelo cresce pela primeira vez em décadas
A surpreendente recuperação da Antártida: camada de gelo cresce pela primeira vez em décadas As discrepâncias da realidade no Troféu Imprensa do SBT
As discrepâncias da realidade no Troféu Imprensa do SBT SBT define substituto de Datena após saída abrupta do Tá na Hora
SBT define substituto de Datena após saída abrupta do Tá na Hora