O paradoxo da fome, uma doença nacional
Durante décadas, a desnutrição desafiou governos e condenou gerações ao subdesenvolvimento em um país capaz de produzir fartura para a mesa

Pode parecer um paradoxo — e é —, mas um olhar detido sobre a alimentação no Brasil nas últimas décadas deve começar por seu oposto: a fome. Não por acaso esse foi o enfoque de VEJA ao tratar do tema pela primeira vez. “A fome é uma doença nacional”, dizia a reportagem de 18 de outubro de 1972. O diagnóstico resumia uma mensagem dos ministros do Planejamento, Trabalho, Educação e Saúde enviada ao general-presidente Emílio Garrastazu Médici para justificar a proposta de criação no país de um órgão voltado aos estudos nutricionais, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. A ele caberia lançar o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, cujo objetivo era assistir milhões de mães, gestantes, nutrizes e crianças. Àquela altura, a desnutrição dos brasileiros tinha uma singularidade: estava mais associada ao baixo aporte de calorias do que à deficiência de um grupo alimentar específico, como as proteínas. No entanto, dizia VEJA, em grande parte do Nordeste, o problema era mais “de fome pura e simples do que de vícios e deficiências de alimentação”. Em Engenho Serra (PE), a revista acompanhou o almoço de uma mãe e seus sete filhos: “para todos, uma única vasilha de feijão com farinha”.
Quase dez anos depois, em 29 de julho de 1981, VEJA trazia em sua reportagem de capa o que chamou de “o enigma dos alimentos”, representado pelo alto preço deles ao consumidor. Naquele ano, pelo segundo período consecutivo, o Brasil havia colhido uma safra excepcional: 54 milhões de toneladas de arroz, feijão, milho, soja e trigo. Com isso, o país se tornara o segundo maior produtor de soja do planeta, o terceiro de milho e de feijão, o oitavo de arroz e o nono de trigo. Comer porém jamais custara tão caro por aqui. A reportagem mostrava que, tomando como base um salário médio de 17 000 cruzeiros mensais (1 800 reais hoje), o brasileiro trabalhava, em média, três horas e quarenta minutos para comprar 1 quilo de carne, 59 minutos para uma dúzia de ovos e 34 minutos para 1 quilo de arroz. Já os americanos precisavam apenas de 51 minutos, sete minutos e dez minutos para adquirir os mesmos alimentos. A razão disso? Fatores enraizados na economia nacional, como a presença de intermediários, especulação, transporte, custo dos insumos e conflitos de interesses. O resultado soava como uma autêntica contradição: um país “com tudo para produzir comida farta e barata” continuava mantendo-a distante de boa parte da população.

Embora a fome já apresentasse sinais de que deixaria de ser uma “doença nacional” ainda na década de 80, no Nordeste o quadro não cedera, como destacava a capa de VEJA de 17 de agosto de 1983. Na ocasião, a região batera seus próprios recordes de miséria após cinco anos de seca. Quando havia comida, a dieta básica dos nordestinos era uma papa ou caldo feitos com farinha e água ou óleo. Na falta disso, a alternativa era lamber pedras de sal. Até a palma, um tipo de cacto usado como alimento para o gado, transformara-se em ingrediente na panela. O contexto dramático deflagrou uma triste descoberta científica: o impacto brutal da fome se perpetua na estrutura física. Um estudo de 1987 publicado no livro Nordeste Pigmeu — Uma Geração Ameaçada (Ed. Oedip), do pediatra Meraldo Zisman, revelou que o peso dos filhos dos nordestinos que passavam fome vinha caindo. Em 1966, o peso médio de um bebê recém-nascido no Recife variava de 3,1 a 3,2, quilos. Em 1986, caiu para 3 quilos. Em 1990, chegou a 2,9 quilos. Esse peso equivalia ao dos pigmeus africanos, que atingem no máximo 1,40 metro de altura. Mais: 80% das crianças que nascem com peso baixo devido à desnutrição da mãe e não comem o suficiente nos primeiros quatro anos de vida não conseguem recuperar os padrões mínimos de crescimento. A marca da fome torna-se indelével.
Em 1993 havia 32 milhões de desnutridos no país. Foi diante desse quadro que o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), ONG idealizada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, “conhecida popularmente como Campanha contra a Fome ou, simplesmente, Campanha do Betinho”, conforme assinalou VEJA na edição de 29 de dezembro daquele ano. A reportagem, um longo perfil do sociólogo, sublinhava “o efeito arrastão do movimento” e “a canonização” de Betinho. Em 1996, a ONU encerrou aqui o seu Programa Mundial de Alimentos. Dois anos mais tarde, a revista voltou ao assunto ao retratar, na capa da edição de 6 de maio, a seca que, novamente, castigava o Nordeste. Dessa vez, contudo, o impacto em relação à fome foi menor. “O Nordeste concentra a maior parte dos subnutridos do país (…). Mas é falso imaginar que todo o Nordeste passa fome”, registrava o texto.
Hoje, a desnutrição, nem de longe extinta no país, disputa atenção com um novo problema alimentar: o sobrepeso. A melhora no poder aquisitivo das classes C, D e E ocorrida na última década fez com que essa população passasse a comer mais — só que mal. Em 2013, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, pela primeira vez o índice de brasileiros acima do peso ultrapassou os 50%. Há um novo paradoxo na questão alimentar do Brasil.
Publicado em VEJA de 25 de julho de 2018, edição nº 2592


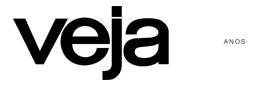
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 ‘Raiva e ódio’: As conversas entre Moraes e o comandante do Exército, segundo Mauro Cid
‘Raiva e ódio’: As conversas entre Moraes e o comandante do Exército, segundo Mauro Cid Três pessoas queimadas em balão em Santa Catarina morreram abraçadas
Três pessoas queimadas em balão em Santa Catarina morreram abraçadas Os próximos jogos dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes
Os próximos jogos dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes Os relacionamentos de Francisco Cuoco: namorada 54 anos mais jovem
Os relacionamentos de Francisco Cuoco: namorada 54 anos mais jovem O que se sabe até agora sobre a entrada dos EUA na guerra de Israel contra o Irã
O que se sabe até agora sobre a entrada dos EUA na guerra de Israel contra o Irã





