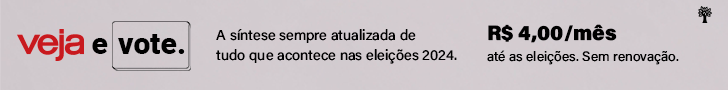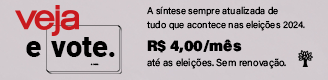É a economia, estúpido!
Eis a razão pela qual há bom futebol em seleções de vários países mas apenas um punhado de clubes disputa os principais títulos


Fora dos gramados, no território das letras, entre as novidades de maior repercussão desta Copa do Mundo estão os depoimentos publicados pelo site The Players’ Tribune, espaço com relatos em primeira pessoa de alguns craques, sempre muito bem escritos e associados a belos vídeos. Paulinho passou por lá. Cavani contou histórias emocionantes da infância. O inglês Sterling e o sueco Lindelöf comoveram. Mas nenhum dos testemunhos foi mais celebrado e compartilhado nas redes sociais do que o do atacante belga de origem congolesa Romelu Lukaku, que falou sobre as acusações xenófobas das quais foi vítima, sobretudo no início da carreira. “Se você não gosta do jeito que eu jogo, tudo bem. Mas eu nasci na Bélgica. Cresci em Antuérpia, Liège e Bruxelas. Sonhei em jogar pelo Anderlecht. Sonhei em ser Vincent Kompany. Consigo começar uma frase em francês e terminar em holandês, e posso soltar umas palavras em espanhol ou português ou lingala, dependendo do bairro onde estiver.”
Francês, holandês, espanhol, português e lingala — a profusão de idiomas e dialetos que Lukaku é capaz de usar, nas vitórias e nas derrotas, ajuda a entender uma das marcas mais vigorosas do futebol hoje em dia, e que o torneio da Rússia consagrou: a globalização. Quase todas as seleções europeias e africanas têm atletas nascidos fora de suas fronteiras, ou imigrantes ou filhos de imigrantes. Em todas as equipes há jogadores que atuam em clubes do exterior. As exceções que confirmam a regra, entre os oito finalistas, são a Inglaterra (todos jogam na riquíssima Liga Inglesa) e a Rússia (apenas dois forasteiros, em razão da dificuldade de adaptação na diáspora e do esforço de Vladimir Putin para fortalecer as equipes do país antes do Mundial, oferecendo contratos vultosos). Na Bélgica de Lukaku, apenas um dos 23 listados joga dentro de casa, em equipes flamengas. No Brasil, são três — Fagner e Cássio, do Corinthians, e Geromel, do Grêmio. Na Suécia, nenhum dos convocados disputa a liga local.
A abertura de fronteiras, fenômeno que começou há pouco mais de vinte anos, representou um ponto de inflexão cujos resultados aparecem dentro de campo, paulatinamente: em 1986, entre o octeto final da Copa, não havia nenhuma seleção “nova”, que pela primeira vez chegasse à fase de mata-mata — de lá para cá, sempre houve novidades (veja o quadro na pág. ao lado). Em 1990, Irlanda e Camarões foram estreantes nas quartas de final. Em 2002, houve um recorde, com três zebras furando a fila: Coreia do Sul, Senegal e Turquia. Agora, em 2018, há a Rússia — mas o Japão quase chegou lá. Na hora H, diz o chavão, a camisa pesa, porém é inquestionável a crescente democratização dos Mundiais. “Países de menor tradição em Copas, muitas vezes mais pobres, subiram alguns degraus porque se alimentam da experiência de seus jogadores em campeonatos fortes”, disse a VEJA o americano de origem sérvia Branko Milanovic, ex-economista-chefe do Banco Mundial, especializado em desigualdades sociais e conhecedor das coisas do futebol.

As estatísticas confirmam a impressão que Milanovic destaca. Dos 184 jogadores que entraram nas quartas da Copa, 123 ganham seu salário defendendo um clube de outro país. O Manchester City, da Inglaterra, foi o time que mais atletas emprestou a seleções de outras nações, onze, seguido pelo Tottenham (nove) e pelo Manchester United (oito) (veja a lista no quadro da pág. 80). Para o economista, há beleza nessa onda migratória de futebolistas, uma vez que ela permite a um craque como o egípcio Mohamed Salah aperfeiçoar-se no Roma e no Liverpool e, de quatro em quatro anos, desfilar pelo Egito — o.k., ele não salvou a pátria, mas o toque de bola e a velocidade do atacante, além do carisma inalcançável, são a comprovação da importância de ir e vir. “Se esse movimento deu certo no futebol, por que não poderia dar também com profissionais de medicina, engenharia, computação e tantas outras atividades que aprendem no exterior e carregam conhecimento de primeira linha para seu lar?”, indaga Milanovic. “Se numa Copa do Mundo aceitamos esse mecanismo, apesar de alguns deslizes nacionalistas, por que não em toda a sociedade?”
Em seus estudos, na tentativa de unir dados econômicos e geopolíticos com a bola, exercício sempre fascinante, Milanovic, contudo, identificou um paradoxo: se as seleções de pouca expressão crescem e aparecem graças à experiência internacional de seus jogadores, ampliando as chances de sucesso, o cenário é outro quando se olha para os clubes de futebol. Neles, ocorre uma exagerada concentração de talentos. Nos últimos dez anos, o Real Madrid (quatro títulos) e o Barcelona (três títulos) dominaram completamente a Liga dos Campeões da Europa, o mais celebrado torneio do mundo. Perdeu até a graça. São três os motivos: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Para Milanovic, a chamada “Lei Bosman”, de 1995, em referência ao jogador belga que primeiro lutou para deixar uma equipe local e ir para a França, sem autorização formal do clube e da federação, produziu efeitos contrários ao imaginado — era para virar um livre vaivém e fortalecer a maioria das equipes, mas terminou como atalho para a extrema concentração de forças em poucos times. Em outras palavras: os clubes ricos vão bem, e aqueles que não têm caixa penam cada vez mais para vencer. “O atual modelo de negócios, baseado nos direitos de televisão, é que promove essa concentração de riqueza”, diz Pedro Trengrouse, professor da Fundação Getulio Vargas do Rio, especialista em direito esportivo. “Acontece na Espanha, com Real e Barcelona, mas também no Brasil, com Corinthians e Flamengo.”
Há um exemplo nítido que ajuda a entender o salto estratosférico dos valores pagos pela TV, especialmente aos clubes vencedores e de grande torcida, num ciclo sem fim. No contrato de cinco anos para as temporadas de 1992 a 1997, a emissora a cabo Sky pagou 304 milhões de libras, o equivalente a pouco mais de 1,5 bilhão de reais (no câmbio de hoje), para exibir os jogos do campeonato inglês. Em 2018, desembolsou 4,2 bilhões de libras para os próximos três anos. Manchester City, Manchester United, Liverpool e Chelsea abocanham lotes maiores — e os pequenos ficam a ver navios. É assim na Espanha, embora uma nova determinação, aprovada no ano passado, tente diminuir o fosso, em um campeonato em que ora dá o Real Madrid, ora dá o Barcelona, e muito de vez em quando dá o Atlético de Madri, mas raramente dá um Valência. O negócio do futebol é tão bom — ao menos para quem está habituado a erguer troféus — que magnatas de tudo quanto é canto entraram em cena avidamente. O dono do Manchester City é um xeique dos Emirados Árabes. O mandachuva do Chelsea é o empresário russo Roman Abramovich. A maioria das ações do Liverpool e do Manchester United está nas mãos de conglomerados americanos. O PSG é de um emir do Catar.

GRIEZMANN, FRANÇA (dir) – O elegante carregador de piano de uma equipe apenas mediana, o Atlético de Madri (Richard Heathcote/Getty Images - Lars Baron - FIFA/Getty Images)
Como o nome do jogo é lucro, os dirigentes da Fifa não param de imaginar saídas para multiplicar ainda mais o faturamento. Duas novas ideias parecem alimentar o fosso entre poucos clubes muito fortes e muitas seleções razoavelmente mais competitivas. Há o projeto, momentaneamente interrompido, de um Mundial de Clubes a cada quatro anos, com 24 participantes (hoje são apenas sete). Naturalmente, os fortões de sempre — Real, Barcelona, Manchester United e Bayern de Munique — ganhariam, esmagando os Davis, e tudo continuaria na mesma para os Golias. O outro plano, firme e forte, é que a Copa de 2026 (a ser sediada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, feito inédito) tenha 48 seleções, e não 32, como agora. No novo formato, na fase de grupos cada seleção faria apenas dois jogos (hoje são três) e o terceiro já seria eliminatório. As possibilidades de zebra aumentarão, com a desclassificação de equipes tradicionais. “Trouxemos o futebol para o século XXI”, diz o presidente da Fifa, o ítalo-suíço Gianni Infantino. “Não será mais uma mera disputa entre a Europa e a América do Sul.” É boa notícia. Dará para torcer pelo Senegal, pelo Japão, pela Colômbia — mas vá apostar no sucesso de um Málaga ou um Las Palmas, de um West Ham ou um Watford, times dos quais o ilustre leitor talvez jamais tenha ouvido falar. A explicação, ao fim e ao cabo, para o quadro atual do futebol — várias seleções e poucos clubes competitivos — está na célebre e batida máxima de um dos assessores da primeira campanha eleitoral de Bill Clinton, o marqueteiro James Carville: “É a economia, estúpido!”.



FORSBERG, SUÉCIA (dir) – Nenhum dos 23 jogadores da seleção escandinava joga em clube da liga sueca (Clive Rose - Francois Nel/Getty Images)


Publicado em VEJA de 11 de julho de 2018, edição nº 2590



 Ministério Público denuncia apresentador do SBT por desvio de dinheiro
Ministério Público denuncia apresentador do SBT por desvio de dinheiro TCU aponta desperdício de bilhões em programas sociais decisivos de Lula
TCU aponta desperdício de bilhões em programas sociais decisivos de Lula Putin perde confiança dos russos após invasão ucraniana ao país, diz pesquisa
Putin perde confiança dos russos após invasão ucraniana ao país, diz pesquisa A nova face do eleitorado de direita, que ameaça se desgarrar da liderança de Bolsonaro
A nova face do eleitorado de direita, que ameaça se desgarrar da liderança de Bolsonaro Influencers de finanças entram ‘na mira’ de Anbima,CVM e Apimec
Influencers de finanças entram ‘na mira’ de Anbima,CVM e Apimec