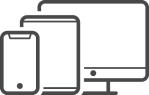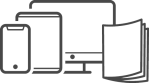Aos trancos e barrancos
Há meio século, uma ligação interestadual podia demorar até 24 horas. Foi a privatização do setor, em 1998, que começou a mudar esse cenário

“Sou surdo, mudo e nem ligo.” Esse era o título estampado na capa da edição de VEJA de 25 de junho de 1969, na qual um telefone preto aparecia estrangulado pelo nó de uma corda robusta e amordaçado por duas tiras de esparadrapo. Não poderia haver radiografia mais contundente da situação da telefonia no Brasil em fins da década de 60. Com a média de 1,7 linha para cada 100 habitantes — nos Estados Unidos esse número era trinta vezes maior —, o país se encontrava, então, numa situação humilhante nessa área. Além de diminuta, a nossa rede telefônica era menos automatizada do que, por exemplo, a do Paraguai. Isso significava demora para conseguir sinal de discagem, invasão frequente de interlocutores estranhos no meio de uma conversa — formando as famigeradas “linhas cruzadas” — e, acima de tudo, tarifas proibitivas.
Uma pesquisa divulgada no mesmo ano da reportagem de VEJA constatava que era mais rápido levar de avião uma mensagem do Rio para São Paulo do que falar ao telefone entre as duas metrópoles. “Eram poucas as cidades em que se podia solicitar uma ligação interestadual diretamente de um telefone residencial ou comercial. Mesmo quando isso acontecia, ela podia demorar até 24 horas para ser completada”, escreveu Euclides Quandt de Oliveira (1919-2013), ministro das Comunicações no governo Geisel (1974-1979), no segundo volume do seu livro Renascem as Telecomunicações (Landscape, 2006).

A péssima qualidade da telefonia no Brasil daquela época se devia, especialmente, aos anos de desinteresse das empresas de telecomunicações em investir no negócio. Havia cerca de 1 000 companhias telefônicas em operação no país, a maioria bancada em grande parte pelo capital estrangeiro. Mas, como viviam assombradas pelo fantasma da perda da concessão, elas não renovavam os equipamentos nem expandiam as redes. E foi justamente essa a justificativa apresentada pela ditadura para estatizar o setor, com a criação da Telebrás, em 1972.
A holding reuniu todas as empresas estaduais de telecomunicações, as chamadas “teles”, e a Embratel, fundada sete anos antes para atuar nos serviços interestaduais e internacionais. A frustração da população com o caos telefônico era tanta que o governo Médici achou prudente, quando do lançamento de alguns modelos de aparelho, aconselhar os usuários a tratar melhor os telefones que tinham em casa ou no trabalho. Nas ruas, os “orelhões”, implantados também em 1972, eram alvo de vandalismo. Numa crônica daquele ano, sobre a depredação de telefones públicos, o mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) lamentou: “Eram úteis, mas os destruidores não repararam na utilidade. Vingavam-se, talvez, nas pobres cabinas, das frustrações e irritações acumuladas durante anos de mau serviço telefônico”.
Visto como estratégico, o setor de telefonia recebeu sucessivos investimentos durante o regime militar. Ainda na década de 70 o território nacional foi unido por meio do sistema DDD (discagem direta a distância), cuja implantação tivera início em 1969. Assim, por algum tempo, o pior pareceu ter ficado para trás. Na edição de 7 de dezembro de 1983, VEJA chamava atenção para o fato de o país haver rompido a barreira dos 10 milhões de aparelhos — e destacava a melhoria nos serviços. Os telefones finalmente funcionavam. Até falavam. Mais bem atendidos, os brasileiros tiravam agora o aparelho do gancho não só para fazer ligações mas também para saber a hora certa, o horóscopo do dia ou até para ouvir uma piada. “Substituímos um sistema obsoleto por outro inteiramente diferente, moderno e confiável”, gabava-se, naquela reportagem da revista, o general José Antônio de Alencastro e Silva, então presidente da Telebrás.

Contudo, apesar dos avanços, a oferta de telefones continuava dolorosamente escassa. Na década de 80, cerca de 20% dos usuários que podiam pagar por um aparelho eram obrigados a esperar numa fila porque não havia dinheiro no caixa do governo para expandir a rede. Como a Telebrás demorava mais de dois anos para entregar uma linha, começaram a surgir saídas alternativas. Era comum, por exemplo, a publicação nos jornais de anúncios de aluguel de telefone; só que as mensalidades eram altíssimas. A situação também dava margem a oportunismos — como o mercado paralelo, que prosperou por aqui. Em 1995, a empresa paulista Telesp vendia uma linha residencial a 970 reais (valor que, corrigido, chegaria hoje a 4 850 reais); já no paralelo, a mesma linha tinha entrega imediata mas custava 4 000 reais (cerca de 20 000 reais atualmente) — um ágio de 312% sobre a tabela oficial! Quem não tinha como pagar isso podia tentar outro caminho: a Central Telefônica Comunitária, PABX instalado em conjuntos habitacionais de baixa renda, que permitia o aluguel de um ramal do aparelho por uma taxa modesta. Com 17 milhões de brasileiros na fila, os telefones tinham virado artigo de luxo.
Paralelamente à telefonia fixa, a rede celular, que havia aterrissado no país em 1990 — mais exatamente no Rio —, demorou a decolar. Licitações confusas e concorrências anuladas, como assinalou VEJA na edição de 3 de julho de 1991, colocaram o Brasil na lanterna do setor. Até 1993, São Paulo era a única das megalópoles do planeta que não tinha se equipado com a telefonia móvel.
A quebra do monopólio estatal na telefonia, em 1995, foi o primeiro sinal expressivo de que o cenário iria mudar. O começo da revolução viria três anos mais tarde — e ela seria capitaneada pelo setor privado. Na edição de 29 de julho de 1998, data do leilão de privatização da Telebrás, VEJA trazia na capa a manchete: “Vai sobrar telefone”. Era o fim de um problema que, a certa altura, pareceu insolúvel. A estatal precisaria ter gasto 10 bilhões de dólares por ano na década que antecedera a decisão do governo de sair do negócio para que o sistema houvesse alcançado um patamar razoável de modernização. Entretanto, só tinha saído dos cofres federais um terço desse montante. A única forma de reverter o quadro era vender a Telebrás, já que os consórcios vencedores do leilão de privatização seriam obrigados, por contrato, a melhorar os serviços. “Hoje, às três horas da tarde, houve o leilão das teles, foi um sucesso estrondoso, mais de 20 bilhões, uma coisa extraordinária, nós próprios ficamos muito surpreendidos”, registrou Fernando Henrique Cardoso em suas anotações pessoais, numa passagem incluída no volume 2 dos Diários da Presidência (Companhia das Letras, 2016).

A privatização fatiou a Telebrás em doze empresas e rendeu ao governo 22 bilhões de reais. Apesar da euforia, o meganegócio foi abalado por denúncias de favorecimento a um dos consórcios participantes do processo, num escândalo que envolveu o Ministério das Comunicações. “O lado podre da política de vez em quando vem à tona. Dessa vez, veio”, desabafou FHC em seus diários. “É tudo chantagem, mas aparece como se fosse uma coisa que devesse ser levada a sério.” Desde a privatização, o número de linhas fixas no país passou de 19 milhões para 41,2 milhões.
Enquanto isso, o celular caía rapidamente no gosto popular, com o número de usuários duplicando a cada seis meses. Parte desse interesse era motivada pelo preço. Em muitas cidades, tornou-se mais vantajoso comprar um aparelho móvel do que uma linha convencional no mercado paralelo. O único senão era o custo da ligação: como o minuto no celular custava dez vezes o de um telefone fixo, os usuários só se valiam da novidade em casos de emergência ou em situações de trabalho. Isso, no entanto, não demoraria a mudar.
Em 2006, com 100 milhões de celulares ativos, resultado direto da queda no preço das ligações, o Brasil já era o sexto maior mercado de telefones móveis do mundo — hoje está em quarto lugar, atrás de Estados Unidos, Índia e China. Em sua edição de 17 de janeiro de 2007, VEJA divulgou uma pesquisa que mostrava que o brasileiro falava, em média, oitenta minutos por mês ao celular. E que 21% dos entrevistados declaravam preferir perder a carteira e a aliança de casamento — sim, a aliança! — a ficar sem o seu telefone móvel. Como se pode constatar na reportagem a seguir, essa, por assim dizer, história de amor dos brasileiros com os telefones móveis estava, em 2007, apenas no início.
Publicado em VEJA de 18 de julho de 2018, edição nº 2591

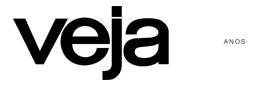

 Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo
Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’
Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’ Mulher de Jeff Bezos quebra protocolo em festa na Casa Branca
Mulher de Jeff Bezos quebra protocolo em festa na Casa Branca Dívida de Taís Araújo em condomínio vira caso de Justiça
Dívida de Taís Araújo em condomínio vira caso de Justiça Os achados da nova rodada de escavações no sítio arqueológico de Pompeia
Os achados da nova rodada de escavações no sítio arqueológico de Pompeia