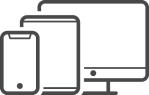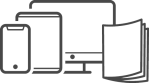A censura das redes
O cancelamento da exposição Queermuseu demonstra que hoje as ameaças à liberdade de expressão não vêm mais do Estado
O século XX é conhecido como um tempo sangrento: duas Guerras Mundiais, duas grandes revoluções violentas (a russa e a chinesa), totalitarismos dividindo a Europa (o nazifascismo e o comunismo), colonialismos e um cordão de ditaduras castigando a África, a Ásia e as Américas. Em uma coisa, entretanto, viver naquele tempo talvez fosse relativamente menos complicado do que no nosso: todos sabiam o que era a opressão e quem era o opressor. A liberdade de expressão era o que nós queríamos. A censura era o que eles, os governos ditatoriais, nos impunham, a partir dos seus Departamentos da Verdade e de seus Secretariados da Informação. O recente fechamento precoce da exposição Queermuseu, com curadoria de Gaudêncio Fidelis, no Santander Cultural de Porto Alegre, indica uma mudança grave no conceito e na prática da censura nos nossos tempos. Sob o pretexto de que as obras expostas nessa mostra LGBT fariam a apologia da zoofilia e da pedofilia, além da blasfêmia, militantes de direita (alguns dos quais autointitulados liberais) organizaram ataques coordenados por meio das redes sociais. Estes teriam compreendido desde o boicote ao banco até agressões verbais a visitantes e a depredação de agências. O deputado estadual Marcel Van Hattem (PP), um dos próceres locais do liberal-direitismo, decidiu introduzir mais Estado para levar o caso até o fim, ameaçando acionar o Ministério Público contra a exposição.
Muitos desses grupos de direita denunciam práticas de intimidação semelhantes quando empreendidas por seus inimigos públicos preferidos, os militantes de minorias sexuais e raciais alinhados à esquerda. Essas ocorrências são de fato frequentes. Em março deste ano, estudantes do Middlebury College, nos Estados Unidos, tentaram impedir violentamente uma palestra do cientista social Charles Murray (autor do polêmico livro A Curva do Sino, que demonstraria a existência de supostas diferenças cognitivas entre as raças); para os militantes, Murray era “racista, sexista e antigay”. O caso, por óbvio, repercutiu negativamente nos meios direitistas brasileiros. Em maio deste ano, os genéricos nacionais do progressismo americano realizaram um protesto semelhante contra a mera presença, no festival de cinema do Recife, do documentário O Jardim das Aflições, sobre o intelectual conservador Olavo de Carvalho. Sete diretores solicitaram a retirada de seus filmes de um páreo em que constava o representante da temida direita reacionária. O episódio encerrou-se pela eleição do documentário de Josias Teófilo como o melhor filme da 21ª edição do festival.
O caso do Santander teve um desfecho bem menos positivo. Charles Murray terminou por fazer a conferência pela internet. O filme sobre Olavo de Carvalho foi premiado. Já o banco Santander decidiu unilateralmente encerrar a exposição. Isso indicaria que a direita aprendeu a exercer pressão em favor das suas pautas, assim como a esquerda vinha fazendo em nome do seu conceito de igualdade, e que agora os direitistas superaram seus mestres? Se for o caso, haverá motivos para comemorar — para essa direita, e talvez só para ela. É duvidoso que o debate público saia ganhando com o mimetismo do funcionamento de bando que caracterizava até há pouco o outro lado do debate. Quando não mais, porque esse funcionamento de bando redunda em um verdadeiro empobrecimento dos termos da discussão, quando não na sua morte. (E sabemos o que se segue à morte da discussão: o confronto direto na rua, a guerra civil.)
Os direitistas que impediram a exposição LGBT (assim como os militantes contrários a Charles Murray ou a Olavo de Carvalho) reivindicaram pura e simplesmente a supressão do seu objeto de desgosto da arena pública. É a nova forma que assume a censura em nosso tempo: não mais a decisão de um burocrata insignificante em um bureau do Leste Europeu ou da América Latina nos anos 70, mas o clamor mais ou menos anônimo, reverberado pelas redes sociais, contra a mera existência do que desagrada a certa maioria.
Tal coisa ofende; logo, deve sumir. Simples assim, como pensam as crianças. Não apenas os que gostam de arte queer (ou de Charles Murray ou de Olavo de Carvalho) são prejudicados. Sobretudo, são poupados todos os que não gostam de arte queer (ou de Charles Murray ou de Olavo de Carvalho), de analisar, de criticar, de tentar entender, de rejeitar racionalmente e até de repudiar com veemência o que fere as suas concepções religiosas, políticas ou morais. Um texto, um bom texto argumentativo, estudado e inteligente, mostrando por que a arte queer (ou Charles Murray ou Olavo de Carvalho) não merece atenção seria a resposta civilizada. Mas não; para tanto, seria necessário criar algum tipo de relação com aquilo que eu repudio, dar uma chance a que a coisa se mostre e até, talvez, se revele menos ruim do que eu havia imaginado.
“Os liberais estão perdidos. Nada os preparou para o novo sufocamento do indivíduo sob a voz coletiva”
Acontece que o homem das redes sociais pode não ter um intelecto muito autônomo, mas tem seu grupo, ao qual se funde como numa tribo, unida pelo ódio aos símbolos da tribo contrária. Exigir a destruição desses símbolos basta para promover aquele gostoso sentimento de pertença. Pensar e escrever em tensão com sua tribo, diferenciando-se da sua tribo, cavando espaços de autonomia quanto à tribo, sabendo que os símbolos da tribo se interpõem à realidade e que se comprazer neles é rumar à estupidez — eis algo de terrivelmente solitário, um ato dissuadido no dia a dia das redes sociais, em que se teme a reprovação dos amigos e em que se busca a todo custo a aprovação imediata (“quantos likes na minha foto?”; “viu o que eu postei?”). Vivemos e pensamos e fazemos escolhas sobre o fundo dessa voz que não chega a ser bem uma conversa, mas que já é bem mais do que um simples rumor.
É essa terrível nova voz, coletiva e anônima, autoritária e caótica, imperativa e manipulável, que representa, hoje, o maior perigo às liberdades individuais — e, em primeiro lugar, à liberdade de expressão. Stendhal viu-a nascer no século XIX francês e chamou-a de opinião; Tocqueville viu-a reinar na América dos 1830 e batizou-a de tirania de maiorias. Nenhum deles podia imaginar a proporção que ela ganharia na sociedade da conexão total.
Os próprios autoproclamados liberais estão perdidos. Foram completamente ultrapassados pelos acontecimentos. O episódio do Santander mostra isso muito bem. Continuam a raciocinar como no século XX, como se a censura, esse poder de um ente social de fazer uma mensagem incômoda desaparecer do espaço público, fosse ainda atributo exclusivo do aparelho estatal. Uma boa parte não viu anormalidade alguma em obras de arte sumirem por pressão tribal, não podendo mais sequer ser objetos de desgosto. É como se, em não havendo coerção do Estado, nada que mereça tanta preocupação assim pudesse ocorrer no campo das liberdades individuais: os clientes do banco escolheram livremente fechar suas contas; o banco escolheu livremente suspender a exposição; o Estado não se intrometeu, e a democracia liberal reina soberana. Nada preparou os novos liberais para analisar esse novo sufocamento do indivíduo sob o poder avassalador, truculento e capilar da voz coletiva.
Há resposta para essa nova ameaça? Certamente ela não estaria em mais regulações, na retomada por meio judicial de exposições ou de palestras vitimadas pelos novos censores — tudo o que significaria resolver os problemas com mais Estado. Por enquanto, o que se pode fazer é explorar os espaços ainda preservados: transmitir pela internet a conferência vedada; não dobrar-se à pressão dos pares profissionais; quem sabe remontar uma exposição interrompida em um espaço alternativo (inclusive e acima de tudo com as obras que mais incomodaram). E manter-se vigilante — sobretudo quanto a nós mesmos e ao nosso prazer de finalmente encontrarmos nossa turma.
* Rodrigo de Lemos é doutor em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2017, edição nº 2548


 Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer
Premiê ucraniano diz que haverá Terceira Guerra Mundial se Rússia vencer A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã
A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos
O curioso elogio a Wagner Moura em ‘Guerra Civil’, segundo americanos Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe
Filho de Renata Lo Prete diz como se inspira nos horários notívagos da mãe Pesquisa revela o tamanho do prejuízo em bares e restaurantes no RJ
Pesquisa revela o tamanho do prejuízo em bares e restaurantes no RJ