“Há um vácuo de poder”, diz CEO da Eurasia sobre onda de conflitos globais
Ian Bremmer diz que desinteresse de grandes potências em ser xerifes do mundo abre espaço para guerras e afrontas à democracia

Analista do intrincado tabuleiro geopolítico que rege o planeta, o americano Ian Bremmer, 54 anos, não tem dúvida de que os ataques terroristas do Hamas contra Israel deram início ao momento de maior tensão internacional no último meio século. Como CEO da Eurasia, principal agência de análise de risco do mundo, ele dispõe, como poucos, de acesso a informações de países os mais diversos em tempo quase real — inclusive do Brasil. Com essa visão privilegiada, o cientista político avalia que o explosivo conflito no Oriente Médio deve se expandir, situação que a lacuna deixada pelos Estados Unidos facilita. “Os americanos não atuam mais como garantidores da estabilidade e, assim, entramos numa era de embates mais imprevisíveis”, acredita Bremmer, que, autor de uma dezena de livros, destrincha a ideia no mais recente deles, O Poder da Crise. De Paris, ele concedeu, por videochamada, a seguinte entrevista a VEJA.
Quais os riscos que Israel corre ao empreender um contra-ataque que já custa milhares de vidas? O que se observa hoje em Israel é uma sociedade traumatizada e com raiva. É preciso lembrar que os atentados do Hamas ocorreram no sul do país, onde há muita gente progressista, que defendia a causa palestina. Agora, vejo essas pessoas, até elas, dizendo que “deveriam matar todo mundo” e que “não há inocentes em Gaza”. Virou um modo de existir insuportável, onde não cabem ponderações. E isso pode, sim, cobrar um alto preço. O risco de que as ações de Israel acabem por radicalizar ainda mais os palestinos é enorme.
Em que medida o contexto geopolítico era favorável à brutal ação dos terroristas do Hamas? O ataque de 7 de outubro aconteceu num momento em que Israel experimentava sua mais forte posição estratégica em décadas, com a normalização das relações com vários países árabes, incluindo um tratado a ser firmado com a poderosa Arábia Saudita — tudo com a ajuda dos Estados Unidos, ainda sob a gestão de Donald Trump. Pense nas lideranças do Hamas, que não aceitam a existência israelense, assistindo a isso. Foi nesse caldo que germinou o ato sangrento, mas há outro ingrediente aí. Já havia um cenário de turbulência interna em Israel, com as ruas tomadas de protestos contra os avanços do governo Benjamin Netanyahu sobre a democracia. Isso desviou as atenções e causou rachaduras até entre militares.
O Hamas representa a ideologia extremista islâmica. É possível, afinal, derrotá-lo? A história mostra como é complexa a tarefa. A derrubada de Saddam Hussein pelos Estados Unidos no Iraque desencadeou, anos mais tarde, a criação do Estado Islâmico. Quando Israel invadiu o Líbano, em 1982, para expulsar a Organização para a Libertação da Palestina, impulsionou a criação do Hezbollah. Não tenho dúvidas de que os israelenses vão à caça dos que perpetraram os ataques, mas isso não elimina o risco de que algo ainda mais radical brote ali. E a luta não se encerra com o Hamas — o Hezbollah e o Irã também não reconhecem o direito de existência de Israel. Por isso, o país seguirá vulnerável, enquanto a região continuará fincada sobre a instabilidade nos próximos tempos.
“Do jeito que as peças estão se mexendo, parece improvável que o conflito fique circunscrito à Faixa de Gaza. Pela lógica das guerras, esta ainda vai piorar antes de melhorar”
Como avalia os riscos de a guerra se expandir para além de Gaza? Do jeito que as peças estão se mexendo, parece improvável que o conflito fique circunscrito à Gaza. Pela lógica das guerras, esta ainda vai piorar antes de melhorar, sob um elevado custo humano. O confronto com o Hamas deve se converter na maior batalha militar do último meio século, tendendo à radicalização. Há potencial para uma expansão da batalha na Cisjordânia e na fronteira com o Líbano, onde a cada dia registram-se mais lançamentos de foguetes, e ainda na Síria, no Iraque e no Iêmen, com grupos xiitas financiados pelo Irã em plena ação. Outro fator de alta combustão é que essa é também uma guerra dos Estados Unidos. Por mais que Washington resista em admitir, eles estão cada vez mais envolvidos. Vejo risco concreto de ataques a alvos americanos.
A estratégia de Joe Biden no Oriente Médio pode prejudicá-lo na corrida à Casa Branca em 2024? Pode trazer, sim, consequências negativas ao presidente, que enfrenta um difícil percurso para a reeleição. Depois dos ataques do Hamas, Biden ficou mais vulnerável a críticas do que o rival Donald Trump, que ganhou um discurso. Ele enfatizará que nenhum conflito começou sob seu comando, ao passo que agora temos dois — a guerra na Ucrânia e o do Oriente Médio.
No Brasil, a diplomacia do governo Lula mira fortalecer o Sul Global e busca a liderança em conflitos como o do Oriente Médio. O país pode ganhar com isso? Sinceramente, não vejo a diplomacia brasileira bem-sucedida hoje fora do espectro da América Latina e dos Estados Unidos. Não se fala do Brasil em lugares como a Ásia ou a África. No Sul Global, a Índia representa uma economia mais vibrante, o que projeta o premiê Narendra Modi como líder nessa região. Além disso, Lula carrega o peso de suceder a um governo que tinha um entendimento sobre as questões globais oposto ao seu.
Como isso pode afetar o Brasil no jogo geopolítico? A experiência internacional mostra que é muito difícil para um país construir uma liderança enfrentando tamanha polarização e variação ideológica em tão curto espaço de tempo. Mas é possível no longo prazo. A própria Índia seguia uma lógica semelhante à do Brasil, mas foi mudando e passou a investir em uma agenda política relevante e sólida. Modi apresenta uma visão muito clara do que quer do Sul Global e sabe tirar proveito disso.
A falta de uma estratégia consistente por parte de Brasília pode prejudicar o país? A verdade é que o Brasil não precisa de uma diplomacia tão forte. A América do Sul é um continente pacífico. Olhe para o Oriente Médio explodindo e para a Europa, onde se desenrola outra guerra de proporções monumentais. Na América do Sul, ao contrário, se avista um cenário de calmaria, ancorado pelos Estados Unidos e pelas relações comerciais seladas com nações do mundo inteiro. Acredito que o fato de o Brasil ser a maior economia numa região estável irá beneficiá-lo nas próximas décadas.
Apesar de avanços, o Brasil ainda é tido como um lugar que oferece risco para investidores. O que fazer para mudar essa percepção? O Brasil é e será considerado um país de risco maior que os Estados Unidos e a União Europeia por ser ainda um mercado emergente, de economia em desenvolvimento. Por outro lado, o estado de direito é consolidado e o empresariado, independente e globalizado, o que revela amadurecimento. O Brasil atravessou um momento muito ruim no 8 de Janeiro, quando os pilares da democracia tremeram em Brasília. Mas a confusão, felizmente, não impactou a transição de governo, que acabou sendo tranquila e organizada, como deve ser. E Lula, que era visto com desconfiança, deu sinais de pragmatismo.
Qual caminho o senhor vislumbra para um salto de patamar no Brasil? Os grandes desafios são a politização do Judiciário e o fortalecimento das instituições. Agora, é bom lembrar, a Eurasia tem no país seu maior escritório numa nação em desenvolvimento — e não é à toa. Mostra que acreditamos que o Brasil é promissor no longo prazo.
A economia verde pode ajudar o Brasil a se inserir globalmente? O Brasil está conseguindo, na questão climática, ampliar sua liderança. Com um plano de transição energética adaptado ao mundo pós-carbono, Lula vem sendo muito bem recebido no exterior. O mais importante hoje é o comprometimento em acabar com o desmatamento, promessa que está sendo cumprida.
Acredita que a transição verde será a saída para décadas de baixo crescimento da economia brasileira? O Brasil verá um aumento substancial nos investimentos em baixo carbono. As potencialidades são imensas. Mas a transição tem sido lenta porque, para ocorrer, é necessário um maior esforço dos países ricos em prover os recursos. E o que se vê até aqui é que eles têm falhado sistematicamente em ajudar.
O planeta registra a pior onda de conflitos em décadas. A que se deve esse acirramento da violência entre povos? Dez anos atrás, cunhei o termo G-Zero para definir o novo momento da geopolítica global, em que nenhum membro do G7, nem qualquer outra nação, está disposto ou é capaz de assumir a responsabilidade de liderar o globo. Os Estados Unidos deixaram de ser a polícia do mundo, não querem mais promover valores ou ser arquitetos do comércio internacional. Isso resulta num vácuo de poder que abre brechas para a ascensão de estados desonestos e organizações terroristas, que se sentem mais livres para desobedecer normas internacionais, atropelando os direitos humanos.
A liderança dos Estados Unidos está chegando ao fim? A credibilidade dos americanos erodiu-se dramaticamente. Depois de Trump, ninguém confia mais em Washington como antes para cumprir compromissos. Criou-se um ambiente de desconfiança. Mas o poderio dos Estados Unidos segue gigantesco, já que eles mantêm o maior PIB, o dólar é a principal moeda de troca e o país é líder em produção de energia, tecnologia e ciência.
“Na América do Sul, se avista um cenário de paz, sem os conflitos que explodem no mundo. O fato de o Brasil ser a maior economia em uma região estável irá beneficiá-lo nas próximas décadas”
Mesmo com a desaceleração, a China segue na trilha para se tornar a maior economia do planeta? O milagre chinês, embalado por taxas de crescimento de 8% por quase meio século, se encerrou. Mas a China continuará a ganhar importância. Quando observamos áreas cruciais, como inteligência artificial, novas fontes de energia e modernização das cadeias de suprimento, eles têm o domínio ou estão muito próximos disso. Não acredito, porém, que esse será um século chinês. Isso porque os Estados Unidos seguem competitivos e vemos ainda a ascensão de outra potência, a Índia.
Existe alguma possibilidade de que a Rússia termine o conflito com a Ucrânia melhor do que entrou? A decisão de invadir a Ucrânia, tomada por Vladimir Putin, foi a pior de qualquer líder importante no cenário mundial desde a queda do Muro de Berlim, em 1989. Mesmo que Putin seja capaz de manter o controle sobre o território ucraniano, perdeu imensas parcelas da população jovem — essencial para mover a economia. Ele também conseguiu que a Otan se fortalecesse com a adesão de novos membros, fez com que a UE multiplicasse seus gastos em defesa e viu ir embora mercados preciosos.
Por que há tantas democracias em crise? Lidamos com desinformação propagada em velocidade estonteante. Isso enfraquece as democracias, e afetou particularmente os Estados Unidos, representantes-mor de valores como liberdade individual e livre-iniciativa. Agora, os americanos não confiam mais em seu sistema político e estão confusos sobre por que ideias lutar. Enquanto antes exportávamos democracia, hoje o que propagamos são redes sociais, ferramentas que corroem as instituições. Ditaduras como a China utilizam o controle dos dados para erguer sistemas de vigilância jamais vistos, e se firma no cenário o poderio desmedido das big techs — modelo de negócios que acaba por disseminar o ódio. E ódio, como estamos testemunhando nestes belicosos tempos, só semeia a destruição.
Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2023, edição nº 2868



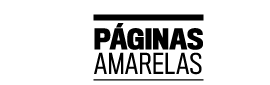


 General preso por plano de assassinato está ‘transtornado’, dizem interlocutores
General preso por plano de assassinato está ‘transtornado’, dizem interlocutores Vanessa Giácomo sobre saída da TV Globo: ‘entendi como funcionava o jogo’
Vanessa Giácomo sobre saída da TV Globo: ‘entendi como funcionava o jogo’ Alvo da PF, Valdemar Costa Neto é aconselhado a se candidatar para ganhar imunidade
Alvo da PF, Valdemar Costa Neto é aconselhado a se candidatar para ganhar imunidade Ação pede suspensão do ‘Enem dos Concursos’ por uso de inteligência artificial
Ação pede suspensão do ‘Enem dos Concursos’ por uso de inteligência artificial Zelensky admite que Ucrânia não tem força militar para vencer guerra e pede diplomacia
Zelensky admite que Ucrânia não tem força militar para vencer guerra e pede diplomacia





![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)
![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)

