Barroso: Constituição é ‘uma boa bússola’ para projeto de pacificar o país
O presidente do Supremo Tribunal diz que o seu principal desafio é normalizar as relações entre os poderes e reconstruir pontes com a sociedade

Quem visita a Praça dos Três Poderes, em Brasília, logo percebe que resquícios do dia 8 de janeiro ainda estão muito presentes, especialmente no Supremo Tribunal Federal (STF). Invadido e depredado por manifestantes, o prédio continua cercado por grades, os acessos monitorados por seguranças armados, há bloqueios para passagens de carros e viaturas policiais ficam estacionadas 24 horas por dia, comprometendo a harmonia de uma das mais belas obras arquitetônicas do planeta. O ministro Luís Roberto Barroso, que estará na presidência da Corte pelos próximos dois anos, afirma que mudar esse cenário é a sua prioridade — e não apenas visualmente. A polarização política dos últimos anos difundiu a sensação de que o STF interferiu na governabilidade, ora a favor de um lado, ora a favor de outro. Por isso, segundo ele, é preciso reconstruir pontes com os diversos setores da sociedade. Nesta entrevista a VEJA, o ministro também falou sobre aspirações políticas, a polêmica pauta de costumes e, descendente de judeus, sobre a guerra na Faixa de Gaza. A seguir os principais trechos.
Passados dez meses dos ataques de 8 de janeiro, o STF segue cercado por grades de contenção. Isso ainda é necessário? A depredação aqui foi mais grave. Criou-se erradamente na sociedade uma percepção de que o Supremo teria atrapalhado a governabilidade no período anterior. Na verdade, salvamos milhares de vidas na pandemia e fomos um dique importante de resistência democrática no período. Me atribuí um pouco o papel de trabalhar pela pacificação da sociedade brasileira. Gostaria de contribuir para fazer um país plural, justo e civilizado. Transformei isso no meu projeto como presidente do Supremo e, como não tenho nenhuma ambição política, me sinto autorizado a desempenhar esse papel.
Na prática, como pretende fazer isso? No meu projeto de pacificação, de construção de pontes e de identificar denominadores comuns, eu fui à Constituição e lá identifiquei uma agenda para o Brasil. Não é a minha agenda e não é a agenda do Supremo. É a agenda da Constituição, que pode aglutinar conservadores, liberais e progressistas e que, na minha visão, resgata o sentido verdadeiro da palavra patriota. A agenda da Constituição que eu vislumbro passa por erradicar a pobreza, garantir crescimento econômico, prioridade máxima para a educação básica, investimento em ciência e tecnologia, segurança pública, valorização da livre-iniciativa, saneamento básico, habitação popular e proteção do meio ambiente. A Constituição oferece um bom roteiro e funciona como uma boa bússola.
Recentemente, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy sugeriu, em tom de brincadeira, que o senhor estaria pronto para ingressar na política. A coisa que eu mais gosto de fazer é pensar o Brasil e debater o Brasil. A política exige um outro tipo de ambição que eu verdadeiramente não tenho. Os rumores de que eu me aposentaria depois de deixar a presidência do STF estavam associados à minha vida conjugal, e não à política. Minha mulher já estava doente, mas ainda tinha perspectiva de alguns anos de vida. Eu pensava realmente em, depois da presidência, me aposentar e passar alguns anos com ela (Tereza Barroso morreu em janeiro último, vítima de câncer). Agora essa motivação já não existe mais.
“O Brasil oscila um pouco entre o excesso de punitivismo para os pobres e uma certa impunidade para os ricos, mas não diria que a impunidade geral seja uma marca brasileira”
Em 2020, o senhor disse que “o germe do golpe” não existia mais no Brasil. Em que momento viu que não era bem assim? No dia 8 de janeiro. O que aconteceu não foi um fato isolado. Foi um processo em que as pessoas se sentiram empoderadas para desrespeitar as instituições, deslegitimarem o resultado eleitoral e terem uma ambição golpista. Eu vi a tentativa de volta do voto impresso com contagem pública manual como parte de um processo arriscado de desinstitucionalização. Imagine o que as pessoas que foram capazes de invadir o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal não fariam nas seções eleitorais onde achassem que fossem perder.
O advogado Luís Roberto Barroso defenderia os manifestantes que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes? Possivelmente não, porque ali entraram em choque com os valores que eu tenho como especialmente caros. Evidentemente, não recrimino o advogado que tenha aceitado a causa porque ele não se confunde com o seu cliente. Progressistas, liberais, conservadores, todos condenaram o 8 de Janeiro. De certa forma foi o encerramento de um ciclo, embora ainda existam residualmente muito ódio, muita intolerância e muita agressividade na sociedade brasileira. São inovações negativas que nós precisamos fazer refluir.
E o que o advogado Luís Roberto Barroso diria sobre os inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes? O juiz é guardião da próxima vítima e muitas vezes tem que passar a mensagem certa para a sociedade. Uma delas é “se você perder a eleição, não pode invadir prédios públicos porque não está satisfeito”. No momento decisivo as Forças Armadas não embarcaram no golpe, mas nós vimos aqueles assustadores acampamentos nas portas dos quartéis pedindo o desrespeito ao resultado das eleições e um golpe de Estado. Acho que o Supremo teve uma reação proporcional ao nível da ameaça que a democracia brasileira sofreu.
O senhor foi um dos alvos do bolsonarismo. Ainda se considera viver ameaçado? É muito difícil alguma coisa externa me abalar verdadeiramente. Não tenho nenhum sentimento pessoal sobre esse assunto e nenhum ressentimento pessoal. Os países, como as pessoas, passam pelo que têm que passar para amadurecerem e evoluírem. Se nós passamos por isso, era porque era importante nós passarmos por isso. Olhamos para os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, países desenvolvidos e bem-sucedidos, mas esquecemos quantas batalhas e quantos momentos de atraso eles já viveram anteriormente, talvez maiores que os nossos. Apesar de tudo, conservo uma visão muito construtiva do Brasil.
Até que ponto a sensação de impunidade dos políticos afeta a imagem do próprio Supremo? Não tenho o imaginário social brasileiro de que a corrupção seja a mãe de todos os males, mas ela é um problema que nos atrasa na história e não devemos varrê-la para debaixo do tapete. A Operação Lava-Jato, por exemplo, teve como faceta positiva revelar um país que ao longo dos anos, cumulativamente, criou um modelo de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. A faceta negativa foi a contaminação política ao final da operação. Com a debacle da Lava-Jato, a luta contra a corrupção talvez tenha retrocedido algumas casas, mas não voltamos à estaca zero.
A impunidade dos poderosos não é fato? O Brasil oscila um pouco entre o excesso de punitivismo para os pobres e uma certa impunidade para os ricos, mas não diria que a impunidade geral seja uma marca brasileira. Muita gente cumpriu pena pelo mensalão, muita gente cumpriu pena pela Lava-Jato. Avançamos não na velocidade desejada, mas provavelmente na direção certa.
O STF errou ao decidir tardiamente que a 13ª Vara em Curitiba não deveria ter julgado os casos do presidente Lula? Você está exumando uma história pretérita e eu estou olhando para a frente.
Os projetos em tramitação no Congresso que alteram regras de funcionamento do Supremo não vão de encontro à pacificação que o senhor prega? Um segmento importante da sociedade brasileira foi levado a crer que o Supremo é parte de um problema. Esse segmento vota e elege representantes. No debate público da Constituinte em 1987, eu defendi mandato de doze anos, mas, pior do que não ter um modelo ideal, é ter um modelo que não se consolida nunca. Por isso não vejo razão para mexer e menos ainda mexer neste momento. Eu não colocaria o Supremo como uma instituição que, com urgência, precise ser revisada com tantas demandas que existem no país. Mas o debate é legítimo e está sendo feito no lugar certo, que é o Congresso Nacional. O papel que eu escolhi desempenhar é demonstrar a esse segmento da sociedade, de pessoas de boa-fé e bem-intencionadas, que o Supremo não foi parte do problema, e sim da solução.
“A sociedade brasileira ainda não distingue com clareza o que é ser contra o aborto e o que é achar que a mulher deve ser presa se tiver o infortúnio de precisar fazer um aborto”
O senhor costuma repetir que definir a pauta de julgamentos do plenário do STF exige coragem e prudência. Coragem para não se furtar ao debate e prudência para que não se interprete como usurpação de poderes. Onde pautas polêmicas como aborto e drogas se encaixam nessa lógica? A afirmação que se ouve por aí é que o Supremo está querendo legalizar a maconha. Não é verdade. Ele está apenas estabelecendo o marco que distingue consumo de tráfico. No caso da interrupção da gestação, o que está em jogo é um direito fundamental da mulher, a sua liberdade sexual e reprodutiva. Uma característica dos direitos fundamentais é não depender das maiorias políticas, não depender do Legislativo.
Ainda assim, o senhor anunciou que não pretende colocar em pauta o julgamento do aborto. Ninguém acha que o aborto é uma coisa boa. O papel do Estado é evitar que ele ocorra, dando educação sexual, distribuindo contraceptivos ou amparando a mulher que queira ter o filho e esteja em condições adversas. Dito isso, a sociedade brasileira ainda não distingue com clareza o que é ser contra o aborto e o que é achar que a mulher deve ser presa se tiver o infortúnio de precisar fazer um aborto. Nenhuma mulher faz um aborto feliz da vida. Agravar a situação dela prendendo-a não serve para nada. É esse o debate que eu gostaria que amadurecesse na sociedade. Não estou levando o tema a julgamento, mas já estou fazendo o debate.
A mãe do senhor é judia. Como analisa a guerra entre Israel e o Hamas? Matar indiscriminadamente pessoas inocentes, como fez o Hamas em Israel, tem nome: terrorismo. Só um inominável antissemitismo poderia procurar relativizar isso. É possível discordar duramente da política de Israel, mas jamais justificar a barbárie. Agora, a reação tem de ser proporcional, bem como respeitar o Direito Internacional e princípios humanitários. Ninguém deve abusar das próprias razões. Com o Hamas é impossível a paz porque a filosofia do grupo é a destruição de Israel e a erradicação do povo judeu. Mas eu espero que após essa tragédia e esse banho de sangue renasça a disposição de negociar um acordo de paz com a Autoridade Palestina, inclusive com Israel colaborando para dar sustentabilidade econômica ao Estado palestino. Israel venceu todas as guerras após ser atacado: 1948, 1956, 1968 e 1973. Quem vence é que deve ser generoso.
Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867



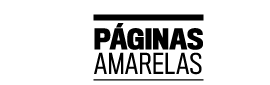


 A luta de Chico Buarque para citação de Ratinho na Justiça
A luta de Chico Buarque para citação de Ratinho na Justiça O recado de Alexandre de Moraes a Jorge Messias, indicado para o STF
O recado de Alexandre de Moraes a Jorge Messias, indicado para o STF Irmãos Bolsonaro se unem contra atitude de Michelle no Ceará: ‘Desrespeitoso’
Irmãos Bolsonaro se unem contra atitude de Michelle no Ceará: ‘Desrespeitoso’ Virginia Fonseca entrega como Vini Jr. a conquistou de vez
Virginia Fonseca entrega como Vini Jr. a conquistou de vez Megalópole com 18 milhões de habitantes está à beira do colapso ambiental e pode ser evacuada
Megalópole com 18 milhões de habitantes está à beira do colapso ambiental e pode ser evacuada


















