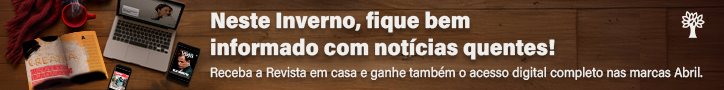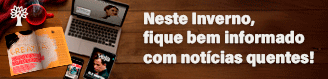A lição de países que controlaram a pandemia de algum modo
China e Coreia do Sul freiam o vírus. Alemanha e Austrália têm baixa mortalidade. A receita para os resultados: testes em massa, monitoramento e quarentena

Enquanto o novo coronavírus segue sua trajetória na Ásia, onde nasceu, e se espalha pelo Ocidente, catapultando o número de casos confirmados e de mortes por contaminação a recordes sucessivos, em algumas partes do planeta a curva de contágio está em nítida desaceleração e, mais surpreendente ainda, a proporção de fatalidades é irrisória. Na China, onde o novo coronavírus surgiu em um mercado de animais vivos na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, e pôs de joelhos o gigante asiático, passados dois meses o governo pode anunciar com orgulho a quase total extinção de casos novos de origem interna — os poucos que aparecem são de gente vinda de fora. Na quinta 26, o país avisou que fecharia temporariamente as fronteiras à maioria dos estrangeiros, para evitar uma nova onda de contágios. Como os chineses conseguiram isso? E qual seria o segredo da Alemanha, país grudado na dilacerada Itália, para manter a taxa de mortes abaixo de 1%, quando a média mundial é 3,4%? As respostas variam, e nem sempre são conclusivas, mas um fator se repete: onde quer que a propagação tenha tropeçado em algum tipo de freio, a população foi testada em massa. “Não é possível combater o vírus sem saber onde ele está”, resume Tedros Ghebreyesus, diretor da Organização Mundial da Saúde.
Em janeiro, quando a conta oficial era de 1 300 casos confirmados, o governo da China baixou uma quarentena geral. Corpo técnico, recursos e equipamentos foram despachados para zonas críticas e hospitais inteiros reservados para vítimas da Covid-19. Em paralelo, os testes se sucediam à média de 200 000 por semana. Os resultados levaram à conclusão — fundamental — de que 85% dos novos contágios ocorriam no convívio familiar. Fez-se então uma divisão draconiana, explicou a VEJA o médico Zhang Ping, do Centro de Controle de Doenças chinês: “Doentes e pessoas com casos suspeitos foram internados em enfermarias especializadas. Seus parentes, enclausurados em casa”. Zhang Ping adianta um conselho para o Brasil, onde há escassez de leitos: montar hospitais de campanha. “Sua função é isolar doentes leves”, ensina.
Após quatro semanas de reclusão, o avanço da contaminação na China baixou de 1 500 casos por dia para menos de 200 e nunca mais voltou a subir. Diante desse progresso, o toque de recolher em Wuhan acaba de ser suspenso e foi reaberto o trecho mais visitado da Grande Muralha, gesto simbólico da difícil volta à normalidade. “Para se ter uma ideia do potencial de contágio do novo coronavírus, a China terminou janeiro com 1 300 casos e, quando a epidemia foi estancada, um mês depois, havia 80 000 infectados”, alerta Atila Iamarino, doutor em microbiologia pela USP.
A tática de testar boa parte da população disseminou-se entre os primeiros países afetados, com bons resultados. A campeã Coreia do Sul, com 320 000 exames aplicados, considera a epidemia contida — o mesmo acontece com Singapura e Hong Kong. Uma vez realizado o teste, a tecnologia de ponta cuidava de mapear o percurso do vírus. No caso coreano, o resultado do exame, em esquema drive-thru, chegava à pessoa testada em três horas, via aplicativo. Ao mesmo tempo, seguia para o banco de dados do governo, o que possibilitou a constante atualização das “zonas vermelhas”. Na China, com recursos doados pelo bilionário Jack Ma, dono do site de compras Alibaba, cada cidadão recebeu no celular um cartão de saúde virtual do tipo Big Brother que indicava se ele estava obedecendo ao toque de recolher (cartão verde) ou se encontrava com algum doente (vermelho). Disso dependia sua circulação pelas ruas nos horários permitidos. “Tínhamos dias predeterminados, para evitar aglomeração em mercados e farmácias”, relata a empresária chinesa Rachel Zhan, que mora no Rio mas estava na China quando o país fechou.
Testes em massa (170 000 até agora) foram a principal ferramenta da Alemanha para, se não conter o contágio (já passam de 43 000 os contaminados), ao menos cuidar para que ele não atinja os mais vulneráveis. Mapeando a trajetória, o sistema de saúde localiza os clusters, pontos de infecção em grupo (família, escritório, igreja), e pode agir rápido — daí o reduzido número de mortos, 239, ou 0,5%, embora o país tenha o segundo maior contingente de idosos da Europa. Conta a favor um eficiente sistema hospitalar: a Alemanha possui 25 000 leitos de UTI, mais que o Reino Unido, a Itália e a França somados. Vizinha da devastada Itália, a Alemanha não havia tomado nenhuma medida drástica até a segunda-feira 23, quando o número de casos disparou. Aí o comércio não essencial foi fechado, proibiram-se reuniões de mais de duas pessoas e todo mundo foi incentivado a ficar em casa. A Volkswagen anunciou a paralisação parcial das linhas de produção, a mesma medida tomada por outras empresas com empregados contaminados. Para mitigar os efeitos de uma crise que pode cortar até 20% do PIB, o governo abriu uma brecha nos rígidos limites da dívida pública e divulgou a injeção de 750 bilhões de euros no setor produtivo.
Um motivo sempre citado para a baixa mortalidade na Alemanha virou bomba-relógio: quase todos os primeiros casos confirmados foram de gente que voltava de férias, jovem e saudável, com grande chance de sobreviver ao vírus. Agora, à medida que a propagação avança, o contingente se amplia na direção dos mais velhos. Igual preocupação ronda a Austrália, que tem 2 800 infectados, apenas treze mortes — 0,37%, um recorde — e, sim, um vastíssimo esquema de testes. Também lá, quase todos os casos confirmados são de jovens que retornam de viagem — propagadores em potencial no mais longo prazo —, e já se começa a falar em quarentena. Testar (veja a reportagem na pág. 66), monitorar, hospitalizar e isolar — até agora essa é a única receita eficaz contra o inimigo invisível que está em toda parte.
Publicado em VEJA de 1 de abril de 2020, edição nº 2680



 A oferta de Alexandre Pato à família de Juliana Marins
A oferta de Alexandre Pato à família de Juliana Marins Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA
Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia
Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes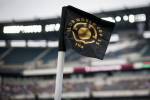 Quanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense já arrecadaram na Copa do Mundo de Clubes
Quanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense já arrecadaram na Copa do Mundo de Clubes