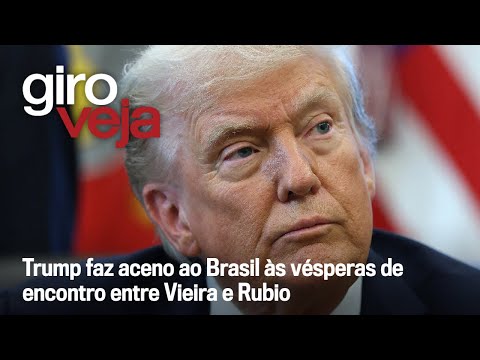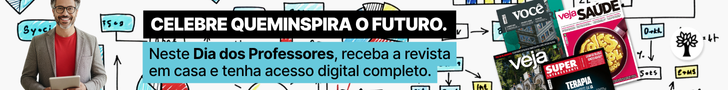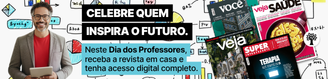A década de 1970: o horror e a retomada da democratização em primoroso relato
'O Espírito de Um Tempo de Lutas', livro do jornalista José Ruy Gandra, ilumina um tempo fundamental – e ainda pouco explorado – da história brasileira

Os anos 1970 do século passado foram um período de simultâneo horror e beleza no Brasil. Na primeira metade daquela década, viviam-se os derradeiros anos da perseguição, violência e morte impostas pela ditadura militar.
Depois, especialmente a partir de 1976, ano em que o metalúrgico Manuel Fiel Filho foi assassinado nas dependências do Doi-Codi, em São Paulo, deu-se o grito da oposição que culminaria com a anistia de 1979. O encanto, chamemos assim, a luz ante a treva, ecoava sobretudo das canções, que ao tratar de amor eram metáfora de briga pela democracia.
“Aqui na terra tão jogando futebol/Tem muito samba, muito choro e rock and roll/Uns dias chove, noutros dias bate sol/Mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta”, cantava Chico Buarque em Meu Caro Amigo.
Para o escritor e jornalista José Ruy Gandra, aqueles anos foram a “década cindida”, representadas, se fosse o caso de defini-lo por duas imagens opostas, a fotografia inaceitável de Wladimir Herzog enforcado na cadeia, em imagem montada pelos carrascos, de 1975, e o soco no ar de Pelé, de 1970, a tragédia e a glória a esconder a realidade.
A “década cindida” é expressão que costura, com elegância e texto primoroso, o livro O Espírito De Um Tempo de Lutas. A luta e o espírito daquele tempo emanavam com consistência e emoção das “Arcadas”, como é conhecido o edifício em estilo neocolonial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, localizado no Largo de São Francisco, no centro da capital.
Zé Ruy, assim o chamam, era um dos estudantes da turma que iniciou o curso em 1976 e seguiu até o início dos anos 1980 – viu, portanto, a história por dentro. Estava no recinto, naquele território da liberdade possível, em 8 de agosto de 1977, um marco de virada, quando o jurista Goffredo da Silva Telles leu a Carta ao Povo Brasileiro, cujo conteúdo soou como Chico Buarque aos ouvidos dos brasileiros que precisavam afastar o autoritarismo e tirá-lo de cena, custasse o que custasse.
“Chamamos de ditadura o regime em que o governo está separado da sociedade civil. Ditadura é o regime em que a sociedade civil não elege seus governantes e não participa do governo. Ditadura é o regime em que o governo governa sem o povo. Ditadura é o regime em que o poder não vem do povo. Ditadura é o regime que castiga seus adversários e proíbe a contestação das razões em que ela procura se fundar. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós”, disse Silva Telles. Era a senha para a mudança que se construía de pouquinho e pouquinho com o heroísmo dos que enfrentavam a morte e a perseverança dos justos.

O Espírito De Um Tempo de Lutas é imprescindível, o mais completo registro de uma doída época de transição – e convém sempre lembrar que a geração dos 1970 e 1980, a geração de Zé Ruy, tem uma interessante e inigualável característica – nasceu e viveu na ditadura, conseguiu derrotá-la e, a partir do início dos anos 1990, chegou ao poder, com as presidências de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Houve o interregno de Jair Bolsonaro, mas a força do que anunciava e propunha a Carta aos Brasileiros nunca se apagou – e não por acaso, em agosto de 2022, houve uma nova carta, um brado democrático na defesa do estado de direito, que se não teve a mesma repercussão, parecia dizer que não poderíamos, nunca mais, recuar para a escuridão.
O livro de Zé Ruy – passeio histórico e sentimental, embebido de MPB mas também dos Bee Gees, e como é bom atravessar um volume bem escrito – será lançado nesta terça-feira, 14 de outubro, a partir das 18 horas, na sala Visconde de São Leopoldo, no Largo de São Francisco paulistano, onde tudo começou.
A seguir, VEJA publica com exclusividade um dos capítulos de O Espírito de Um Tempo de Lutas.
A Década Cindida, por José Ruy Gandra
Numa concessão ao hipotético, e também à poesia daqueles anos que tanto nos marcaram, partimos agora para uma viagem no tempo. Destino: as próprias Arcadas, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 50 anos atrás, quando a maioria de nós era adolescente e o Brasil e o mundo, vistos hoje, em perspectiva, pareciam saídos de uma outra dimensão.
Os anos 1970, enquanto ainda frequentávamos colégios (como era chamado o Segundo Grau), foram marcados por uma curiosa bipolaridade histórica no Brasil. Éramos, então, uma curiosa e sinistra mistura do filme Ainda Estou Aqui, atual, com o Milagre Econômico, o grande fenômeno da época.
Foi uma década rachada ao meio. Dez anos que prometiam muita prosperidade, mas que registraram, quase em sua metade, uma reviravolta inesperada – que, no curto, médio ou longo prazos desencadeou transformações dramáticas na realidade econômica, política e social do país. Referimo-nos ao Choque do Petróleo, ocorrido em 1975. O Brasil, à época, quase virou do avesso.
Um breve resumo dos fatos. Na primeira metade dos anos 1970, o Brasil era o principal expoente entre as economias em desenvolvimento, uma espécie de dínamo tropical que assombrava o mundo. Enquanto nós, quase todos ainda imberbes, escarafunchávamos livros e apostilas em pranchetas, o país crescia como nunca em sua história. Em 1971, o PIB brasileiro avançou 11,4% – um recorde até então – e continuou bombando, com 11,94% no ano seguinte (1972) e, numa marca nunca superada até hoje, inacreditáveis 13,97% em 1973.
Esse crescimento vertiginoso, superior ao da China nos dourados anos 2000, se deu durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). A imensa maioria da população já exultava com esses resultados pelo menos desde 1970, quando, abrindo alas para a euforia nacionalista, o Brasil sagrou-se tricampeão de futebol na Copa do Mundo do México. “Noventa milhões em ação. Pra frente, Brasil, do meu coração…”
Sob esse manto desenvolvimentista e esse entusiasmo verde-amarelo, no entanto, escondia-se o tal paradoxo. Também vivíamos o auge da ditadura militar, instaurada em 1964 e intensificada com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), decretado em 13 de dezembro de 1968. Os direitos políticos dos brasileiros foram então reduzidos a ácaros.
Não havia eleições para a presidência, governadores e prefeitos de capitais. Eram todas indiretas e decididas pela elite de plantão. Um bipartidarismo, coisa única em nossa história republicana, foi implantado na marra – com a governista Arena (Aliança Renovadora Nacional), folgadamente majoritária, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que se limitava a ensaiar uma oposição simbólica.
A censura, ferrenha, era, ao mesmo tempo, moral e política. Mulheres separadas – as desquitadas à época – enfrentavam estigmas pesados. O divórcio só viria em 1977, quando já cursávamos o segundo ano. Censores sentavam-se sem cerimônias nas redações de grandes jornais e revistas e também viam todos os filmes, livros e peças. Depois, liberavam aquilo que julgassem conveniente e proibiam o que lhes desse na telha. Pedra legislativa angular desse arco, a Lei de Segurança Nacional, de 13 de março de 1967, ainda pairava, ameaçadora, sobre tudo e todos.
A classe artística era um alvo recorrente da ditadura. Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, após serem presos, exilaram-se em Londres de 1969 a 1972. Chico Buarque seguiu trilha semelhante. Após ser detido, também no Rio, em janeiro de 1969, partiu para a Itália, permanecendo, porém, menos tempo.
Só 14 meses, um intervalo relativamente breve, quando compôs canções marcantes de oposição à ditadura, como Apesar de Você e Samba de Orly. Chico regressou quando o poeta Vinicius de Moraes o convenceu de que “era preciso voltar e fazer barulho aqui dentro”.
Os versos de Apesar de Você eram premonitórios. “Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa”. Embora não tenha mudado em nada a realidade da época, a canção tornou-se um prenúncio de tempos menos duros que efetivamente viriam, além de um símbolo de resistência e esperança.
Estava certo o poeta americano Ezra Pound (1885-1972), em seus últimos anos de vida. “Os artistas são as antenas da raça”, ele proclamou em 1970. “Eles auscultam e pressentem o porvir”. Bingo!
Pouco importa que os artistas, dada a força de suas imagens públicas, não fossem tão implacavelmente caçados. Muitos brasileiros não tiveram essa sorte ou privilégio. A repressão crescente, aos setores e cidadãos de esquerda, foi a marca mais repugnante de todo esse período. Só em 1995 a Comissão Nacional da Verdade revelaria a real extensão dessa barbárie. Seu relatório final contabiliza, entre 1946 e 1988, 434 mortes e desaparecimentos políticos no Brasil, em sua esmagadora maioria durante a ditadura militar de 1964.
Em sua primeira fase, entre 1969 e 1971, a caçada se concentrou nos grupos adeptos da luta armada, que criaram focos guerrilheiros nas cidades, campos e selvas. Os mais ativos eram a ALN (Aliança Libertadora Nacional), fundada pelo revolucionário baiano Carlos Marighella, a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), comandada pelo ex-capitão do exército Carlos Lamarca), e o PCdoB (Partido Comunista do Brasil, um racha do PCB, o Partidão), que se embrenhou na chamada Guerrilha do Araguaia. Todos esses grupos foram dizimados entre 1969 e 1974 e a quase totalidade de seus líderes, mortos.
Obviamente, a repressão não se limitou aos guerrilheiros. Qualquer pessoa, com vínculo ou simplesmente considerada simpatizante de movimentos ou partidos de esquerda, poderia ser presa e, como em muitos casos, simplesmente desaparecer. Habeas corpus, mandados de prisão e qualquer outra prerrogativa legal de defesa eram solenemente negados.
Foi o que aconteceu com o deputado federal Rubens Paiva (cassado em 1964), que foi levado de sua casa à luz do dia, no Rio, no dia 20 de janeiro de 1971. Paiva foi torturado e morto. Seu corpo, porém, nunca foi localizado, pois, segundo relatos extraoficiais, teria sido atirado ao mar de um avião ou helicóptero.
Era assim que, sem que nos déssemos conta, as coisas aconteciam. Éramos filhos de um casamento entre o ufanismo nacionalista e uma repressão sem quaisquer limites ou controle. Rubens Paiva morreu em 1971, ano seguinte àquele em que o PIB brasileiro ultrapassou pela primeira vez em sua história os dois dígitos de crescimento (10,40%).
Em meio a um nacionalismo ruidoso e triunfante, só ouvíamos raros sussurros democráticos. Por isso, provavelmente, a morte de Paiva passou praticamente batida. Slogans da ditadura viviam sendo martelados, à época. Eram pueris, quase infames, como “Brasil: ame-o ou deixe-o” ou “Esse é um país que vai pra frente”. O que mais grudou nos ouvidos da população, contudo, foi uma frase lançada em 1970, na Copa do Mundo do México. “Ninguém segura este País!”
Até que, em outubro de 1973, a chamada Crise do Petróleo segurou o Brasil no laço, cindindo em duas a década em andamento. Segurou não só nosso país, mas toda a economia mundial, com seus efeitos espalhando o caos nas cadeias produtivas internacionais.
Como isso aconteceu? Numa ação coordenada pela recém-criada OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), em protesto contra a guerra do Yom Kippur (entre Israel e Egito), em apenas um ano o preço do barril de petróleo saltou de US$2,90 para espantosos US$11,65. Hoje, para se ter uma ideia, ele ronda os 70 dólares. Foi um choque de repercussões planetárias. Na segunda metade da década de 1970, porém, entre 1974 e 1979, o crescimento do PIB brasileiro caiu praticamente pela metade, tendo avançado a uma média de 6,5%, contra 12% no período 1969-1973. Um segundo mega aumento viria cinco anos mais tarde (em 1979), após a Revolução Islâmica no Irã, liderada pelo aiatolá Khomeini.
Resumo do choque: o preço médio do combustível aumentou 1000% de 1973 a 1979, lançando pelos ares os sonhos desenvolvimentistas da ditadura. A inflação brasileira quadruplicou, de 20% para 80%, corroendo o poder de compra da população e, por tabela, com a credibilidade dos militares. Ao menos no quesito votos populares. Nas eleições para o Senado de 1974, quando vários de nós votamos pela primeira vez na vida, o partido oposicionista MDB conquistou, contra a governista Arena, 16 das 22 cadeiras em disputa.
Em São Paulo, o emedebista Orestes Quércia derrotou de lavada o arenista Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto (ex-governador de São Paulo, de 1959 a 1963 e expoente civil da ditadura), com quase 5 milhões (73%) dos votos válidos. Embora não tenha havido protestos mais veementes, a insatisfação se manifestou nas urnas, a única forma de expressão então consentida aos brasileiros. Foi mais um plebiscito sobre a percepção do governo da ditadura pelo povo do que propriamente uma eleição. Um desabafo silencioso e generalizado.
Os militares, que até ali nadavam de braçadas no dueto nacionalismo/desenvolvimentismo, foram colhidos de fardas curtas e viram-se, sem qualquer aviso prévio, às voltas com um batalhão de agruras inéditas no exercício do poder: declínio do crescimento, custo de vida elevado e inflação galopante, encarecimento do crédito externo (até então abundante), concentração excessiva da renda e, consequentemente, um aumento brutal da desigualdade, mantida com o garrote do arrocho salarial.
Em 1975, ao som ainda quase imperceptível dos primeiros clamores democráticos, Ernesto Geisel assumiu a presidência do Brasil. Muitos de nós já havíamos nos decidido a prestar o vestibular para Direito. A eleição indireta do general Geisel, extremamente tensa, marcou a vitória da ala mais moderada das Forças Armadas, que, diante do cenário cada vez mais encrencado, decidiria, nos anos seguintes, devolver – “lenta, gradual e seguramente”, como gostava de frisar Geisel, o poder aos civis. Era a chamada abertura, cujos desdobramentos e avanços, nos anos seguintes, seriam o fio condutor da meia década de nossa passagem pelas Arcadas.
Ocorre, porém, que uma parcela considerável dos fardados – a chamada linha-dura –, insistia no retesamento do regime iniciado com o AI-5, de 1968. Essa ala era liderada por Sylvio Frota, ministro do Exército de Geisel. Foi longa (quase três anos) e penosa a convivência entre esses dois grupos igualmente fortes no governo. Uma relação marcada por um equilíbrio precário, avanços e retrocessos. Frota sobreviveu a uma série de acusações provocadas pelos excessos da repressão.
A primeira grande encrenca em sua carreira de aspirante a ditador brotou por conta do assassinato, sob tortura, do jornalista Vladimir Herzog, então diretor do departamento de Jornalismo da TV Cultura e professor de Jornalismo na Eca-USP (Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo) e na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado). Herzog foi preso e levado ao Doi-Codi, em São Paulo, em 25 de outubro de 1975. Morreu no mesmo dia, talvez na primeira sessão de espancamento e tortura. A essa altura, estávamos em meio às duas fases do vestibular.
A versão da ditadura para a morte de Herzog foi bisonha, sugerindo que ele se enforcara usando o próprio cinto atado à grade de uma janela baixinha da cela. Justo o cinto, que, como os cadarços dos sapatos, são os primeiros itens a serem retirados de um detento antes de trancafiá-lo. Longe de explicar as circunstâncias, a foto de seu corpo causou enorme repulsa na população, de tão bizarra.
Como pode alguém se enforcar com os joelhos dobrados, e quase encostados no chão? O episódio desembocou na primeira manifestação pública contra a ditadura após quase 10 anos. Cerca de 10 mil pessoas compareceram ao culto ecumênico em memória do jornalista, celebrado na catedral da Sé paulistana. Mesmo se pelando de medo, os brasileiros começavam a reagir. Alguns de nós (e muitos estudantes da São Francisco) estavam entre eles.
Já havíamos sido aprovados no vestibular e aguardávamos o início das aulas quando, menos de três meses depois, uma nova tragédia se consumou nas instalações do mesmo Doi-Codi paulistano, cuja sede era um prédio sinistro da Rua Tutóia, bem próximo a QG do II Exército. Dessa vez foi a morte, igualmente sob tortura, do operário Manoel Fiel Filho, membro do Partido Comunista Brasileiro (PCB), o chamado Partidão.
Fiel Filho foi levado por agentes do DOPS da fábrica onde trabalhava, na Mooca, por portar em sua casa (vasculhada antes, numa operação de busca e apreensão) oito exemplares do jornal A Voz Operária, veículo oficial do Partido Comunista Brasileiro. A explicação dada pelo órgão para a sua morte foi ainda mais patética que a da de Herzog. Segundo os militares, Fiel Filho se enforcara com as próprias meias. Só faltou alguém se enforcar usando uma fitinha do Nosso Senhor do Bonfim. Sem comentários!
Desta feita, porém, o presidente Geisel interveio. Três dias depois, afastou o general Ednardo D’Ávila Mello, comandante do 2º Exército (São Paulo). Geisel teria então afirmado que “não toleraria esse tipo de crime em dependências do Exército”. Apesar de tudo, o grande mentor da linha dura, Sylvio Frota (tio-avô do ator e dublê de político Alexandre Frota) seguiu no Ministério do Exército até 1977, quando, em 11 de outubro, foi exonerado pelo presidente. A essa altura, ele já fazia campanha aberta pela sucessão de Geisel, que, por sua vez, já havia manifestado sua preferência pelo General João Baptista de Oliveira Figueiredo.
Embora escanteada pelo governo, a linha dura seguiu ativa e, por quase mais uma década, promoveu atentados terroristas covardes. Um deles foi a carta-bomba endereçada ao presidente do Conselho Federal da OAB, Eduardo Seabra Fagundes – que, ao ser aberta, matou a sua secretária Lyda Monteiro da Silva, de 60 anos, em 27 de agosto de 1980. Essa data, já próxima à nossa formatura, passou a ser o Dia Nacional de Luto dos Advogados. A mesa em que Lyda trabalhava, e que foi parcialmente destruída pela explosão, está exposta no Museu Histórico da OAB, em Brasília.
Dez meses depois, a repressão militar voltaria à carga. Ainda mais ousada. Na véspera do 1º de maio de 1981, enquanto ainda celebrávamos a nossa formatura, militares tentaram realizar um atentado no Centro de Convenções Riocentro, na zona oeste do Rio, onde ocorria um show comemorativo do dia do trabalho, com as presenças de Gal Costa, Gonzaguinha, Fagner e Clara Nunes, entre outros artistas. Cerca de 20 mil espectadores ocupavam a plateia.
A operação, porém, foi um tiro pela culatra. A bomba, que seria plantada em meio ao público, explodiu no colo do sargento Guilherme Pereira do Rosário, dentro de um automóvel Puma parado no estacionamento do Riocentro. O sargento foi morto pela explosão e o capitão Wilson Luís Chaves Machado, seu parceiro de atentado, ficou gravemente ferido. Poucos minutos depois uma segunda bomba explodiu na central elétrica do Riocentro, sem, no entanto, deixar vítimas.
Nessa noite fatídica, poderiam ter morrido centenas, caso o atentado tivesse se consumado. Acintosamente, Rosário e Machado foram incluídos na anistia recém-proclamada (1979) e não receberam condenações. Rosário foi anistiado pós–morte, e o Exército encobriu seu crime com uma encenação desprezível de investigação do episódio.
Segue um detalhe importante, que revela o enraizamento e a resiliência das intervenções dessa linha-dura das forças armadas no cenário político brasileiro, algo que remonta ao governo de Floriano Peixoto (1891-1894), o Marechal de Ferro.
Desde então, as ingerências militares na política brasileira tornaram-se uma rotina em nossa história. Mas vamos ao tal detalhe: o ministro Sylvio Frota tinha, à época (1976), um ajudante de ordens extremamente fiel e loucamente autoritário. Seu nome: capitão Augusto Heleno. Sim, o mesmo que, no governo Jair Bolsonaro (2019-2022), já general, foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e acabou denunciado e condenado como um dos mentores da tentativa de abolição violenta do estado democrático brasileiro em 2021-2022.
Foi nesse Brasil, tão cruel e embrutecido (e cada vez menos orgulhoso de si), que prestamos o vestibular, curtimos as derradeiras férias como adolescentes e soubemos de nossa aprovação. Pais exultaram de alegria em algumas centenas de lares paulistas e brasileiros. Foi também nesse ano, 1976, que iniciamos nossa trajetória acadêmica na Faculdade de Direito da USP. Nas Arcadas.
Sem ter a mais longínqua ideia da velocidade com que os fatos, nos cinco anos seguintes, mudariam por completo os rumos do Brasil e as nossas próprias vidas. Estávamos agora na luta – e, por cinco anos, permaneceríamos nela. Sempre em nossa trincheira: o Território Livre do Largo de São Francisco.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 A reação do público aos elogios de Alcione a Moraes no meio de show
A reação do público aos elogios de Alcione a Moraes no meio de show Lote extra do abono salarial PIS/Pasep: veja se você tem direito e o valor
Lote extra do abono salarial PIS/Pasep: veja se você tem direito e o valor Morre o empresário Alexandre Carvalho, uma semana após acidente doméstico
Morre o empresário Alexandre Carvalho, uma semana após acidente doméstico Irritados com Alcolumbre, bolsonaristas rejeitam apoiar sua reeleição ao comando do Senado
Irritados com Alcolumbre, bolsonaristas rejeitam apoiar sua reeleição ao comando do Senado As reações opostas após áudio vazado de Mônica Waldvogel na GloboNews
As reações opostas após áudio vazado de Mônica Waldvogel na GloboNews