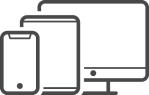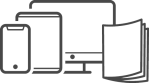José Duarte Rodríguez preferiu não ver o caixão com o corpo do filho cruzar a fronteira da Colômbia com a Venezuela pela pequena vereda de terra batida usada por contrabandistas de gasolina. Antes de o corpo deixar o necrotério de Cúcuta, na Colômbia, José seguiu para a cidade venezuelana de San António por uma das dezenas de passagens irregulares que ligam os dois países nesses tempos de fronteira fechada, as “trochas”. Optou por uma bastante movimentada, perto da Ponte Simon Bolívar.
Por ali, cerca de 45.000 venezuelanos cruzavam a divisa todos os dias antes da crise diplomática entre os dois países, desencadeada no último sábado. Naquele dia, a oposição venezuelana, com o apoio do presidente colombiano, Ivan Duque, tentou forçar a passagem de mais de 600 toneladas de comida, remédios e itens de primeira necessidade enviados pelos Estados Unidos como meio de ampliar a pressão política sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. A tentativa fracassou diante do forte esquema militar de bloqueio da fronteira.
Rodríguez, um colombiano de nascimento que imigrou para a Venezuela nos tempos duros da guerrilha, lá pelos anos 1980, estava esgotado no final da manhã da quinta-feira. Passara dois dias em tentativas frustradas de conseguir autorização dos militares venezuelanos para cruzar a ponte com o corpo do filho.
“Não vão me deixar. Um guarda me disse que Caracas mandou avisar que pela ponte não passa ninguém, nem morto, nem vivo”.
Diante do drama de Rodríguez, um homem perto dos 60 anos, baixinho e troncudo como tantos indígenas que vivem por essa parte da Colômbia, o diretor da Defesa Civil de Cúcuta, Miguel Pérez, tentou intervir. Cruzou a linha imaginária que divide os dois países, passou pelos contêineres usados pelos soldados venezuelanos para bloquear a passagem na ponte e chegou até os guardas. Tudo em vão.
“Disseram que não vão deixar passar ninguém daqui para lá e ninguém de lá para cá, mesmo que estejam doentes ou mortos”, contava Pérez na tarde de quarta-feira 27.
Dias antes, Luís Rodríguez, de 36 anos, pai de uma menina de 8 e garimpeiro de ouro como toda a família, pedira ao pai que, se não sobrevivesse, gostaria de ser enterrado onde nascera, na cidade fronteiriça de Ureña. “Carrego no meu coração o dever de fazer isso por ele”, contou José Rodriguez em frente ao necrotério onde o corpo do filho estava guardado.
Luís havia chegado do Estado de Bolívar, perto da fronteira com o Brasil, duas semanas antes. A febre alta, a dor de cabeça e uma insistente dor no abdome o faziam acreditar que estava com malária, doença endêmica na região de garimpo e que se espalhou por toda a Venezuela nesses tempos de crise. Só em 2018, estima a Sociedade Venezuelana de Saúde, mais de um milhão de casos foram registrados na Venezuela.
Assim como quase tudo em seu país, faltava remédio para aliviar os efeitos da malária. Na região conhecida como Arco Mineiro, onde dezenas de milhares de venezuelanos têm se embrenhado na mata para extrair ouro de forma quase artesanal, só se consegue remédios para o paludismo com os traficantes de medicamentos, que chegam a cobrar quatro gramas de ouro pelas 14 pílulas para o tratamento inicial.
Luís decidiu voltar para casa e, de lá, buscar assistência no país vizinho. Por três dias, viajou de Bolívar, estado na fronteira com o Brasil, para Táchira, na divisa com a Colômbia.
“Ele chegou muito debilitado, mas conseguimos trazê-lo para Cúcuta”, conta o pai.
Já no hospital, Luís e José foram surpreendidos com o diagnóstico. O rapaz não tinha malária, mas sim um câncer extremamente agressivo no pâncreas. A morte chegou rápido. Mais veloz do que José e sua família tinha planejado para conseguir pagar o tratamento do filho.
“Não vou permitir que o enterrem aqui nem que o queimem. Vou levá-lo para a Venezuela de qualquer forma”, dizia ele, ainda na manhã de quinta-feira 28, quando negociava com os contrabandistas de gasolina o preço de levarem o corpo do filho por uma “trocha”.
Os traficantes queriam 500 mil pesos colombianos, o equivalente a pouco mais de 610 reais. Com a ajuda de agentes funerários, de colegas e de parentes, Luís conseguiu arrecadar 350 mil pesos. Na conversa, conseguiu convencer os contrabandistas com sua história. Negócio fechado.
O corpo seguiu por uma trilha de terra cortada por riachos e margeada por plantações de arroz e pasto para gado. Os “colectivos”, milícias civis que defendem o regime de Maduro e que, nesses dias guardavam a fronteira, ainda surgiram como obstáculo no meio do caminho de terra batida com a ameaça de apreender o caixão.
Ao final, José conseguiu realizar o último desejo do filho, que repousa agora em um cemitério simples da venezuelana Ureña.