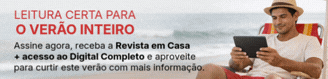Morrer para viver
De ‘The Good Place’ a ‘Boneca Russa’, um novo filão das sitcoms mostra que há humor após o fim da vida

Eleanor (Kristen Bell) abre os olhos em uma sala asséptica, com jeito de consultório de dentista, e lê na parede a frase: “Bem-vinda! Está tudo bem”. Ela é recebida por Michael (Ted Danson), um senhor de terno e gravata-borboleta, que lhe diz, sorridente: “Você morreu”. Eleanor está no “Lugar Bom”, um aparente paraíso post mortem para quem semeou boas ações na Terra. Michael explica a matemática que determina quem vai para o tal Lugar Bom e quem segue na direção oposta, o Lugar Ruim. Atitudes das mais comezinhas, como lembrar o aniversário da irmã, até as mais radicais, como lutar contra injustiças, somam pontos positivos. O mesmo vale no lado oposto. Cometeu assédio ou genocídio? Milhões de passos rumo à condenação. Eleanor então percebe o erro do sistema: egocêntrica e desonesta, ela deveria ter uma passagem sem volta para o Lugar Ruim.
The Good Place, produção do canal americano NBC que está disponível no Brasil pela Netflix, é uma das melhores séries cômicas atuais que extraem humor da vida após a morte. Rumo à quarta temporada, a boa aposta de Michael Schur, também criador de Parks and Recreation, chama atenção por sacar dos lugares-comuns da ficção transcendental para subvertê-los um a um. Mas esse não é o único ponto de contato entre The Good Place e similares como Boneca Russa, Forever e After Life. Todas exploram um expediente incomum nas sitcoms americanas: o uso do riso como motor da divagação filosófica.

Nem tão perfeito que seja imune à hipocrisia e ao cinismo dos humanos, nem tão inútil que não permita a seus habitantes a chance de rever seus atos: o paraíso segundo The Good Place não tem nada a ver com aquele ambiente imaculadamente branco (e modorrento) de um filme espírita nacional como Nosso Lar, baseado na obra do médium Chico Xavier. Seu Lugar Bom é estranhamente colorido e cheio de maluquices — frozen yogurt jorra das fontes como maná e um “software de voz” elimina os palavrões da boca das pessoas. Mas é melhor ficar ali do que no outro lado da eternidade, onde a tortura rola solta. Para se redimir e merecer sua casa no Lugar Bom, Eleanor mergulha em aulas com o professor de filosofia moral Chidi (William Jackson Harper), designado como sua “alma gêmea”. Ele aceita a missão de transformá-la em algo próximo do ser virtuoso e altruísta da visão aristotélica. Em uma das boas tiradas do roteiro, Eleanor, irritada com as aulas, questiona: “Quem deixou Aristóteles ser responsável pela ética?”. Chidi responde, em choque: “Platão!”.
As referências do roteiro passam pela crítica da razão de Immanuel Kant e pelo existencialismo de Søren Kierkegaard. Exploram-se, ainda, proposições caras ao estudo da ética, como o famigerado Dilema do Bonde. No experimento moral imaginado pela inglesa Philippa Foot, o operador de uma alavanca que vira os trilhos deve decidir se um bonde desgovernado segue na direção de um grupo de cinco trabalhadores ou se desvia a rota para atingir apenas um. Seria correto matar uma pessoa para salvar cinco? A reflexão põe em xeque a vida egoísta que os personagens tinham antes de ir para o túmulo. O Dilema do Bonde aparece de forma explícita na segunda temporada e no fim da terceira, agora metaforicamente, quando um personagem se vê em um dos trilhos e percebe que sua melhor escolha talvez seja o sacrifício pessoal.
Nadia (Natasha Lyonne), protagonista de Boneca Russa, produção original da Netflix, também é obrigada a revisar sua existência após a morte — não uma, mas repetidas vezes. Assim como Eleanor, a ruiva é egoísta, autodestrutiva e tem dificuldade em estabelecer laços. Na primeira cena, ela se olha no espelho de um banheiro com feição que pouco condiz com o que a espera do lado de fora: uma festa de aniversário modernosa, que celebra seus 36 anos. Depois de dar um trago em um cigarrinho suspeito, Nadia vai para casa com um desconhecido, e morre em seguida. Da cena banhada de sangue, ela salta de volta, incólume, ao mesmo banheiro. Nos oito episódios, Nadia vai morrer e ressuscitar das mais variadas formas. Sua intérprete, que criou a série ao lado de Amy Poehler e Leslye Headland, diz que o carma da personagem é uma metáfora de sua luta real contra as drogas. A reflexão sobre vício e morte, aliás, aparece até em um sucesso adolescente como The Umbrella Academy, igualmente da Netflix: o jovem Klaus (Robert Sheehan) se droga para amortecer o terrível dom de ver e falar com os mortos.

No debate filosófico sobre a morte, a tecnologia tem lugar peculiar. A protagonista de Boneca Russa é uma engenheira de software que se imagina presa em um videogame (se é isso ou não, fica em aberto). Ao completar 36 anos, ela encara traumas de infância que, como em um jogo, a impedem de passar para a próxima fase e evoluir. Em After Life, nova série de Ricky Gervais (de The Office), que chega à Netflix na sexta-feira 8, a vida após a morte não tem natureza espiritual, mas digital: o computador mantém mortos e vivos em contato. Quando o protagonista Tony (o próprio Gervais) fica viúvo, assiste repetidamente a um vídeo com instruções cotidianas deixado pela mulher. Imagens virtuais e perfis nas redes sociais, sugere a série, prolongam a presença de quem se foi e afetam a noção de luto.

Os laços do casamento são tratados com verve sutil em Forever, do Prime Video, da Amazon. Fred Armisen e Maya Rudolph fazem um casal preso à rotina que, por vias trágicas do destino, vai se reencontrar na eternidade. Qualquer semelhança com as novelas espíritas de Ivani Ribeiro ou os romances psicografados de Zibia Gasparetto é enganosa. Ao contrário do clichê que nutre o gênero, de que o amor é capaz de vencer o “até que a morte os separe”, Forever tem um desenlace libertário. Às vezes, ensinam as novas sitcoms transcendentais, é morrendo que se aprende a viver.
Publicado em VEJA de 6 de março de 2019, edição nº 2624

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO