No fim de janeiro de 2020, a elite do capitalismo global fez do tradicional Fórum de Davos, na Suíça, uma arena de discussão sobre o tema que então monopolizava as atenções: a emergência do aquecimento global. Em sua conferência no evento, o historiador escocês Niall Ferguson passou por um excêntrico alienígena. Enquanto todos só tinham olhos para a ativista Greta Thunberg profetizando um “Apocalipse climático”, Ferguson mencionou a possível ameaça para a economia global prenunciada pelo surto de um novo vírus na China. Não que o estudioso de Harvard fosse um profeta: àquela altura dos acontecimentos, a pandemia da Covid-19 já batia às portas da humanidade.
Voando “loucamente” de avião pelo mundo, ele mesmo dava mostras de não ter captado a extensão do risco que se abateria sobre diversos países um mês e meio após Davos. Esperar, até o ponto da fixação obsessiva, por eventos que supostamente trarão o fim do mundo, enquanto se despreza a iminência de um desastre real — é desse paradoxo tão intrínseco ao comportamento humano que o historiador trata no excepcional Catástrofe, que sai no país na segunda-feira 4. “Nosso cérebro não parece moldado para dar conta das tantas ameaças que espreitam por aí ao mesmo tempo”, disse Ferguson a VEJA, em entrevista por vídeo (leia abaixo). “Tendemos a focar em algo que desperte interesse intuitivo.”
Catástrofe foi escrito propositalmente no calor da pandemia: o autor estava menos interessado em proclamar um veredicto sobre o peso histórico do coronavírus e mais em investigar os mecanismos que levaram a erros e acertos na luta contra os maiores desastres da civilização. Sua caracterização do que vem a ser um cataclismo é ampla: nela cabem eventos que causaram grandes perdas e convulsão em todos os tempos, de terremotos, tsunamis e erupções a guerras, revoluções, quedas de impérios, colapsos financeiros — e, claro, epidemias.
Mas o que poderia unir coisas tão díspares quanto a peste negra na Idade Média e a crise dos títulos subprime na Wall Street de 2008? A imprevisibilidade é um óbvio denominador comum de todos os desastres. O desejo humano de antever o pior originou uma longa tradição cultural, das cassandras que previam as tragédias na mitologia grega ao milenarismo presente em todas as grandes religiões. Mas esse esforço de predição é inútil, e persiste assim mesmo numa época em que a ciência é capaz de mapear e ter respostas para tantos males. Como diz Ferguson, uma coisa é observar a uma distância controlada, no horizonte da história, o que ele chama de “rinoceronte cinza” — uma ameaça rara, mas esperada. Outra é ter de se virar nos trinta quando a mesma se converte em “cisne negro” — desastre óbvio, mas que pega a todos de surpresa e revela-se muito além da capacidade de reação humana. O resultado é precisamente o que testemunhamos nos anos pandêmicos de 2020 e 2021.
Civilização: Ocidente x Oriente
Diante de eventos tão disruptivos, Ferguson propõe um argumento provocador: não há distinção, a rigor, entre os desastres naturais e aqueles causados pelo homem. Intempéries não seriam tão fatais se o ser humano não insistisse em criar seus núcleos urbanos sobre as falhas tectônicas do planeta. No ano 79 d.C., a cidade romana de Pompeia pagou o preço de estar perto de um vulcão — mas, desde então, outros centros floresceram na região, e estão até hoje em paz, ironicamente, com o Vesúvio. Terremotos costumam ser mais desastrosos na Ásia não porque seu tamanho seja excepcional, mas pelo fato de as populações que vivem próximo às falhas geográficas serem maiores. Triste exemplo foi a tripla tragédia na cidade japonesa de Fukushima em 2011: primeiro, veio o tremor de terra; depois, o tsunami; por fim, o vazamento nuclear.

O efeito cascata, aliás, é uma sina que acompanha as catástrofes de maior alcance. Muita gente já tinha morrido na I Guerra quando a gripe espanhola invadiu o front europeu, em 1918, provocando muito mais baixas que o conflito — algo entre 40 milhões e 50 milhões de vítimas. O modo como o vírus influenza se alastrou nas trincheiras da I Guerra ilustra outro ponto de Ferguson: mesmo nas pandemias, o que determina em última instância o tamanho da tragédia é a dinâmica social. As redes de interação entre as pessoas são os canais por onde a doença circula — as viagens de avião, os intercâmbios de turismo e os negócios levaram o coronavírus a se espalhar com rapidez no mundo globalizado.
Em sua análise desapaixonada, o historiador chega a conclusões que desdenham do senso comum. O acaso e a sorte, sustenta ele, evitaram que o acidente nuclear na usina americana de Three Mile, em 1979, fosse tão tenebroso quanto o de Chernobyl — a tragédia dos anos 80 que virou emblema da decadência do comunismo soviético. Do ponto de vista técnico, as duas plantas de energia atômica tinham problemas periclitantes. No caso da Covid-19, o autor não é menos controverso: populistas como Trump e Bolsonaro teriam menos culpa no cartório do que se pensa pelas mortes na pandemia. A Covid-19 é um evento tão devastador que, mesmo com seu negacionismo e irresponsabilidade, líderes assim não conseguiriam mudar os rumos da infecção — só perderam mesmo é a chance de ficar calados, para seu próprio azar. “O erro dos populistas foi vender a ideia de que eles tinham tudo sob controle em suas mãos, sem reconhecer que lidavam com o imponderável”, diz.
Para quem fica de coração apertado diante de tanta dor e incerteza, um alento: catástrofes também podem deixar heranças positivas. Os sucessivos surtos de cólera provocaram uma revolução de saneamento nas cidades europeias até o século XIX. E a atual pandemia já deixou para a posteridade grandes avanços na tecnologia das vacinas, além do agora familiar home office. O fim do mundo pode não ser tão ruim quanto parece.
“Somos fascinados pelo apocalipse”
O historiador Niall Ferguson falou a VEJA sobre a pandemia e outros temas do livro Catástrofe

Sua visão sobre a Covid-19 mudou desde que a obra foi escrita, em 2020? Eu queria escrevê-la antes do fim da pandemia, pois precisamos aprender as lições a tempo de agir. Olho para trás e vejo que fui pessimista ao pensar sobre as vacinas, e otimista demais sobre o estrago da pandemia. Isso esclarece algo importante: historiadores não são profetas. Não conseguimos prever o próximo desastre, mas podemos aprender com os erros do passado.
Na sua visão, além do coronavírus, vivemos uma pandemia da desinformação. Como lidar com essa praga? Nos anos 50, quando uma doença como a gripe asiática se espalhou pelo mundo, não havia tanta desinformação: a mídia era um conjunto muito menor de TVs, jornais e rádios. Era impensável um movimento anti-vax. Hoje, a internet é um motor de notícias falsas. Metade dos americanos que recusam vacinas crê na lenda de que elas contêm um microchip. A pandemia provou que, se não corrigirmos isso, virão consequências nefastas.
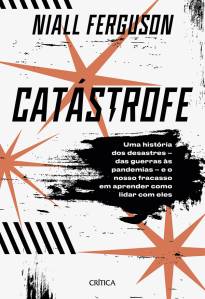
O senhor inclui a queda dos impérios entre os desastres da história. É o que testemunhamos em relação ao domínio dos Estados Unidos? As pessoas podem não gostar de impérios, mas gostarão ainda menos de sua desintegração. Ao sair do Afeganistão, os americanos demonstraram não ter mais apetite para compromissos militares de longo prazo. Mas é o fim de seu status de superpotência ou só mudança de prioridade para uma nova guerra fria com a China? A história nos diz que os impérios podem ter anos ruins e bons. Meu palpite é que os Estados Unidos serão capazes de se reerguer e vencer a China.
Por que vê o ativismo ambiental como uma nova forma de milenarismo? Há algo religioso nesse movimento. Somos fascinados pela ideia de um apocalipse, e obtemos isso não só na religião, mas na ficção científica e, agora, na pregação ambiental. Não é provável que o mundo acabe em dez anos, ainda que tenhamos de lidar com eventos mais extremos. Temos de pensar no clima sem esquecer de outros desastres reais.
A pandemia deixará alguma herança boa? Não teremos de voar tanto para reuniões se podemos usar videoconferências. Mais importante, porém, é que percebemos o potencial de colaboração global na ciência. E o avanço das vacinas com a tecnologia do RNA mensageiro é incrível.
Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2021, edição nº 2758
*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO








 Após PF ter recuperado dados apagados de equipamentos eletrônicos, Mauro Cid é convocado para novo depoimento
Após PF ter recuperado dados apagados de equipamentos eletrônicos, Mauro Cid é convocado para novo depoimento Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll
Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF
As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades
As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’
O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’








