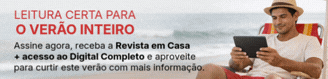Paciência com a ciência
Em tempos minguados para a pesquisa, é vital lembrar que o caminho para a descoberta traz risco, envolve criatividade e leva tempo
Para melhor compreender o desafio do financiamento da ciência, antes de mais nada é preciso entender o que é pesquisa científica, evitando simplificações perigosas. Como dizia Einstein, “tudo deve ser feito de forma tão simples quanto possível, mas não mais simples do que isso” (em inglês, “everything should be made as simple as possible, but no simpler”). A pesquisa científica é um processo lento e trabalhoso, que visa a descrever e decifrar o mundo em que vivemos. Nisso, ela se assemelha a outras atividades criativas, como a arte ou a literatura. Seu motor é a curiosidade dos cientistas, parecida com a de nossos filhos até, que nos fazem mil perguntas sobre o que nos cerca. A intensa curiosidade, aliada a uma formação científica sólida, compõe a receita da descoberta.
Frequentemente a pesquisa científica começa pela intuição, e só então é formalizada pelo método científico. E a intuição é, além de misteriosa, imprevisível — surge sem avisar e pode mudar o mundo. Um dos maiores matemáticos do século XX, Henri Poincaré (1854-1912) dizia que “é com a intuição que descobrimos e com a lógica que provamos”. O filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) admitia de bom grado que a filosofia não era capaz de explicar o acaso. É como se a intuição científica fosse um encontro entre a ideia e um cientista preparado para agarrá-la em pleno voo.
Uma vez passada a fase intuitiva, chega-se à etapa da formalização da ideia, o que implica um método para testá-la — uma língua internacional que põe à prova as hipóteses, para confirmá-las ou refutá-las. É esse sistema, desenvolvido desde a Grécia antiga e que se quer objetivo, não sujeito ao experimentador ou ao teórico que o pratica, que dá à ciência sua credibilidade. A pesquisa se alimenta, portanto, de ideias novas, de intuições, e as submete à prova do método científico para transformá-las em conhecimentos universais que nos permitem melhor entender o mundo.
Sabemos que quase tudo o que nos rodeia hoje é produto da ciência e que conhecimento se traduz em valor de mercado, ainda que o ganho financeiro não seja o objetivo da maioria. A pesquisa básica produz ideias e as valida, e a ciência aplicada se serve desses saberes para desenvolver novas tecnologias. Algumas das quimioterapias mais utilizadas no mundo nasceram do interesse de três cientistas da Universidade de Cambridge por um minúsculo nematoide. Ao contarem as células do embrião desse verme microscópico — abundante no solo, na água e presente em bichos e plantas —, os especialistas perceberam que algumas delas, sempre as mesmas, cometiam um tipo de suicídio em determinada etapa de seu desenvolvimento. E foi nesse mecanismo de suicídio celular, a apoptose, que a medicina se espelhou em sua briga para derrotar o câncer.
A pesquisa aplicada, mais tecnológica, geradora de produtos ou serviços de alto valor, é, por óbvio, mais tradicionalmente financiada pelo setor privado. Mas como financiar a base, o terreno fértil no qual eventualmente podem germinar descobertas? Quem poderia prever que a contagem de células de um embrião de nematoide resultaria em tratamento oncológico? É aí que o investimento público se torna imprescindível. Reservar verbas para pesquisa básica é pensar em um retorno de longo prazo e altamente incerto, que quase nenhuma empresa pode se permitir fazer. Mas é um excelente investimento para a sociedade, inadiável, porque afirma nossa vontade de descobrir e entender o mundo. Isso posto, cabe ao setor público assegurar esses recursos, sem se preocupar com retorno financeiro imediato, porque a ciência em sua essência não funciona dessa forma.
“O investimento privado sem fins lucrativos pode ser mais audacioso e se aventurar onde ninguém pisa. Mas esse tipo de iniciativa é raro”
Parece simples: o setor privado financiaria a pesquisa aplicada e o setor público, a pesquisa básica. Assim, o Estado deveria focar a produção de conhecimento — os embriões de nematoide —, e a iniciativa privada, os resultados dessas descobertas — o desenvolvimento de medicamentos quimioterápicos, por exemplo. Mas não é tão trivial. Para entender a equação em sua inteireza, é importante ter em mente que o investimento público pode apresentar limites de muitas naturezas. De um lado, ele é passível de admitir matizes ideológicos que levam a mudanças inesperadas de rumo. Para se defender dos ventos da incerteza, é vital para um país a solidez das instituições que controlam tais recursos: são elas que protegem a ciência de modismos e ideologias e garantem o pensamento livre. Os gestores públicos têm grande responsabilidade — precisam tomar precauções e manter o bom poder de avaliação sobre quanto e onde aplicar os recursos. Muitas vezes, isso se traduz em apoios pulverizados para o maior número de pesquisas possível.
Há um tipo de projeto científico que raramente encontra financiamento. Com enorme potencial mas temerário, não recebe o apoio de empresas porque é básico demais e de pouca aplicação de curto prazo; tampouco é patrocinado pelo poder público, por ser incipiente ou demasiado arriscado. É uma lástima. A pesquisa ainda embrionária pode fracassar, é verdade, mas, se bem-sucedida, tem uma gigantesca força transformadora. Como uma aposta arriscada na bolsa de valores, que pode render um retorno magistral ou perdas substanciais, pesquisas ousadas têm o potencial de modificar o mundo, ainda que tragam embutido o risco de não resultar em nada.
O investimento privado sem fins lucrativos pode ser mais audacioso e se aventurar por essa terra onde ninguém pisa. Um dos exemplos mais notáveis é o Institute for Advanced Study (IAS), em Princeton. Inteiramente privado e sem fins lucrativos, o instituto abrigou alguns dos grandes pesquisadores do século XX, aos quais deu total liberdade para que assumissem riscos na confirmação de suas teorias. O IAS investe no escuro — e, entre seus membros, contou com os físicos Albert Einstein e Robert Oppenheimer. A contribuição deles é inigualável, tanto em termos de descobertas fundamentais quanto em aplicações científicas.
Essas iniciativas ainda são raras no Brasil, e deveria haver mais delas por aqui. O Instituto Serrapilheira, no Rio de Janeiro, propõe-se a financiar tais pesquisas. Acaba de anunciar apoio de 12 milhões de reais a doze cientistas (peneirados pela lupa da excelência entre quase 2 000 candidatos) e seus projetos ousados. E também investiu 1,4 milhão de reais em outra área relevante, a da divulgação científica, a fim de identificar profissionais inovadores que traduzam ciência para o grande público. Hoje compreendemos que apressar a pesquisa pode cobrar um preço alto. Imagine pressionar Rodin, um dos maiores escultores de todos os tempos, a finalizar O Pensador. A lentidão é intrínseca ao processo criativo. Se não é exequível acelerar a intuição, podemos criar condições propícias para que ela floresça, combinando financiamentos públicos e privados para fomentar a pesquisa. Como na gestão de nossa poupança, é importante que a ciência diversifique seu portfólio. E não pare de avançar.
* Hugo Aguilaniu, biólogo geneticista francês, é diretor-presidente do Instituto Serrapilheira, de fomento à pesquisa, no Rio de Janeiro
Publicado em VEJA de 17 de julho de 2019, edição nº 2643