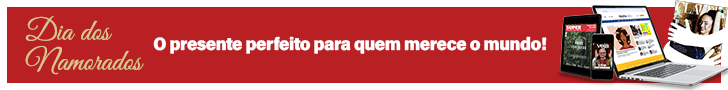“A ficha começou a cair”, diz marido da ciclista que morreu atropelada
Felipe Burato, 38 anos, fala do choque e do luto


Conheci a Marina numa segunda-feira de Carnaval, em 2018. Tinha mudado recentemente de Brasília para São Paulo e, ainda sem amigos na cidade, estava sozinho em um bloco no centro. Quando as pessoas começaram a se dispersar, avistei-a pela primeira vez em uma cena comum, olhando um folheto com a programação da festa. Achei-a linda logo de cara, fantasiada de maiô cor-de-rosa e uma boia inflável na cintura. Mandei-lhe uma cantada péssima: “E aí, gatinha, para que bloco a gente vai agora?”. Ela riu, engatamos uma conversa e partimos para outro bloco. Marina me contou que era socióloga e pesquisava questões de gênero relacionadas ao uso da bicicleta em São Paulo. Falava de arquitetura e sobre como o carro moldou a urbanização das cidades. De repente, fomos interrompidos por um amigo dela, que nos lembrou do espírito carnavalesco: “Ninguém se beija, não?”. Acabou acontecendo e nos conectamos profundamente. Fomos morar juntos quatro meses depois.
No dia em que ela morreu, a gente saiu para almoçar. Até então, tínhamos ficado em quarentena máxima, reclusos por causa da pandemia. Aquele encontro teve um sabor especial — o céu estava muito azul; a comida, gostosa; e nós, superfelizes. Decidimos sair de bicicleta para procurar umas casas. Tínhamos planos de comprar um imóvel. Quando deu 4 da tarde, Marina foi se encontrar com umas amigas que não via fazia tempo. Nunca fiquei com medo de ela sair sozinha, mas naquela noite me bateu algo estranho, uma preocupação. Nós nos falamos por volta das 11 horas, e Marina me disse que logo iria para casa. Mas o tempo foi passando e nada de ela chegar. Aí liguei para o celular dela, uma policial atendeu e me contou que Marina havia sofrido um acidente. “Venha à delegacia”, disse a policial. Corri. Quando pisei lá, o delegado deu a notícia: Marina tinha sido atropelada e o motorista havia fugido. Aos 28 anos, minha mulher estava morta. Foi como se tivesse caído uma bigorna sobre minha cabeça. Fiquei em choque. Só agora, passados uns dias, está caindo a ficha.
Acompanhei o trabalho de Marina de perto, tanto na universidade quanto nas instituições em que atuava, voltadas para a absorção das bicicletas e para a inclusão da mulher no planejamento urbano. A luta dela para que as ruas de São Paulo fossem de fato compartilhadas por carros, pedestres e outros veículos. Sempre vi a bicicleta como uma forma de lazer, mas ela me mostrou que era também um meio de transporte e de libertação. Tamanho era seu entusiasmo que eu também adotei uma bike emprestada de um amigo. Marina era muito prudente e cuidadosa ao guiar. Ela me ensinou como a gente deve pedalar no trânsito, sinalizando os movimentos e impondo a presença para não ficarmos espremidos entre a calçada e os carros. Foi justamente numa dessas avenidas por onde andávamos que ela morreu. Ali, em sua homenagem, fiz junto com amigos um mural e plantamos árvores.
O enredo da morte de minha mulher, infelizmente, não é único: o motorista tinha bebido, estava correndo ao volante e não prestou socorro. Espero que esse cara sofra as punições previstas em lei. Mas isso não vai trazer Marina de volta, e também acho improvável que faça mudar as coisas no trânsito, causa pela qual ela tanto lutou. Marina nunca acreditou em punitivismo e, sim, no caminho da educação das pessoas e na construção de um ambiente urbano onde caibam todas as velocidades. Era uma idealista e praticava seu idealismo de forma coerente. Para tornar a cidade mais solidária, como ela sempre sonhou, precisamos de boas políticas públicas, e resolvi assumir essa briga. Vai dar um sentido à minha vida. Seguirei em frente e andando de bicicleta, que é certamente o que Marina Harkot gostaria de ver.
Felipe Burato em depoimento dado a Ricardo Ferraz
Publicado em VEJA de 25 de novembro de 2020, edição nº 2714



 Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão
Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas
Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas