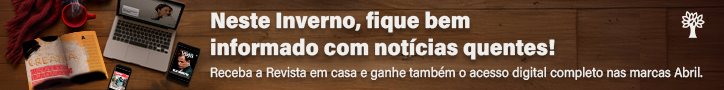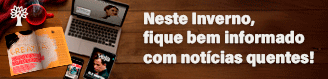Bem-vindo ao Museu das Reparações Étnicas, Sociais e de Gênero
A militância que denuncia abusos de artistas homens (já mortos) se apresenta como progressista, mas difere pouco dos reacionários que fecharam o Queermuseu

Marshall McLuhan disse que as pessoas não leem o jornal pela manhã: mergulham nele como em um banho morno. Pois para a delicada sensibilidade contemporânea, não haverá banheira mais relaxante do que The Guardian. É a imensa jacuzzi em que o progressista dodói afunda, reconfortado na certeza de que sua alma sairá higienizada, limpa de todo preconceito atávico e de qualquer impulso patriarcal que porventura ainda lhe tenham restado mesmo depois de ler até o fim a última coluna da Eliane Brum.
Pois há pouco o Guardian ofereceu a seu leitor a cálida certeza de que seus templos culturais em breve serão lavados com o poderoso alvejante da crítica feminista mais avançada. O jornal inglês entrevistou, com infalível compostura e seriedade, a artista americana Michelle Hartney. Em que consiste a arte de Michelle Hartney? Bem, ela visita museus e cola, ao lado de obras de artistas brancos heterossexuais, etiquetas que denunciam os crimes sexuais desses patriarcas impenitentes. Picasso? Misógino, disse certa vez que mulheres são “máquinas de sofrer”. Gauguin? Pedófilo, juntou-se a crianças no Taiti. Balthus? Outro abusador que erotizava crianças. Michelle não está sozinha, diz o jornal: “à luz (sic) do movimento #MeToo”, alguns museus já estão revisando as informações que oferecem aos visitantes. Nome do artista e data da obra não bastam: é preciso assinalar que o quadro na parede ao lado é um ato de abuso sexual. Ou, se não tanto, que a obra é, para usar o mais desgastado dos adjetivos, “polêmica”. A representação expressionista que Dana Schutz — uma artista branca — fez do cadáver de Emmett Till, garoto negro de 14 anos linchado por racistas em 1955, suscitou indignação. No distante século XX, causar barulho era quase um dever da arte. A reportagem do Guardian, no entanto, vê com bom olhos que o Whitney Museum of American Art tenha pacificado a celeuma com esse inscrição ao lado do quadro: “Esta pintura esteve no centro de um inflamado debate em torno das questões da apropriação cultural, da ética da representação, da eficácia política da pintura e das possibilidades e limitações da empatia”.
Em A Palavra Pintada, seu panfleto contra o establishment da arte contemporânea, Tom Wolfe imagina uma retrospectiva futura (no ano 2000!) do expressionismo abstrato na qual as paredes seriam ocupadas não pelos quadros, mas pela teoria da arte que os embasava. No lugar das pinturas de Jackson Pollock, os textos críticos de Clement Greenberg. As provocações de Wolfe carregam equívocos, distorções, talvez até algumas grosserias, mas é sempre uma diversão ler o jornalista que se foi em maio deste ano (as primeiras frases deste meu texto, incluindo a citação de McLuhan, são uma cópia adaptada do início de A Palavra Pintada). Essa sua visão de uma grande mostra de teoria da arte permite antecipar um futuro Museu das Reparações Étnicas, Sociais e de Gênero. Os quadros estariam lá, mas sempre atrás de biombos com cartazes, longos textos em que se detalham todos os crimes ideológicos da arte e do artista. Antes de contemplar Les Demoiselles d´Avignon, o visitante será esclarecido sobre o olhar machista de Picasso, que objetifica o corpo feminino, e sobre a apropriação cultural da arte africana; A Morte de Sardanapalo estará atrás de uma longa denúncia do orientalismo de Delacroix, e assim por diante.
Quem tentar contornar os biombos para ver as obras sem ler os textos será vaiado por Michelle Hartney e pelos repórteres de cultura do The Guardian.
***
O título da reportagem do Guardian é “o mundo da arte tolera abusos” — entre aspas, pois se trada da citação de um manifesto do coletivo feminista Guerrilla Girls. Esse título é uma impropriedade jornalística: afinal, não foi descoberto um Kevin Spacey entre os curadores do Louvre, nem um Harvey Weinstein na direção do Museu do Prado. Os museus exibem obras de abusadores? É provável. Mas isso não configura “tolerância” com a violência sexual. Há um moralismo estreito e raivoso nessa exigência de exposição permanente dos pecados dos artistas. Se cederem às reivindicações de gente como Michelle Hartney, os museus deixarão de ser lugares onde podemos tomar contato com a beleza dos séculos para se converterem em galerias da vergonha, nos quais os quadros estarão expostos como meros documentos dos crimes do patriarcado. Aliás, os pecados dos artistas inventariados por Michelle são um segredo de Polichinelo: é tudo matéria velha, já dissecada por biógrafos e historiadores da arte. Inscrevê-los ao lado das obras serve apenas à encenação de um auto-de-fé pós-moderno.
E não, não estou repisando o velho clichê: não se trata de “separar a arte do artista”. Picasso era um cafajeste do pior tipo — aquele cafajeste que os outros cafajestes desejam ver longe de suas próprias filhas. Por óbvio, ele não deixava de ser cafajeste quando pegava o pincel. Tome-se O Sonho, quadro reproduzido acima: a modelo é Marie-Thérèse Walter, com quem Picasso se envolveu quando ainda estava casado com Olga Khokhlova. Ao tempo em que O Sonho foi pintado, o artista teria 51 anos; sua modelo, 22. Agora veja o quadro mais de perto, leitor patriarcal: repare bem naquela forma que se projeta sobre o rosto da modelo adormecida. Viu bem o que é? Pois então: Picasso era um cafajeste e pintava como um cafajeste.
No entanto, o enlevo erótico da figura adormecida e a vibração das cores ao fundo não se deixam capturar por conceitos redutores como “misoginia” ou “objetificação”. Não, esse pintor não odeia as mulheres, ainda que as chame de “máquinas de sofrer”, e muito claramente não odeia esta mulher em particular. Ele a deseja, mas seu desejo não a transforma em mero objeto. Ela está muito livremente imersa em si mesma. Ela sonha, e sua postura corporal (sobretudo, a posição das mãos) entrega o jogo: é um sonho sexual. E isso será sempre angustiante para um homem possessivo como deve ter sido Picasso — pois um homem nunca sabe de quem é o pênis que aparece no sonho de sua amante.
***

Tive a felicidade de ver O Sonho na Tate Modern, em julho (aliás, estou há tempos escrevendo para este blog uma espécie de redação escolar sobre as minhas férias, um ensaio livre em que entram Hamlet e a seleção inglesa de futebol. Está dando trabalho, mas ainda sai. Aguardem). A mostra, extraordinária, era toda dedicada à produção de Picasso no ano de 1932. Tinha muitos outros quadros de Marie-Thérèse.
Pois ao mesmo tempo em que exibia um ano glorioso de Picasso, a Tate também abria uma de suas salas para uma mostra do material gráfico (cartazes, basicamente) do tal Guerrilla Girls. O grupo dedica-se a inventariar os quadros expostos nos museus de todo mundo para levantar dois dados: A – a porcentagem de obras feitas por mulheres, e B – a porcentagem de modelos femininos entre os quadros de nus. Previsivelmente, o número B é sempre bem maior que o A. O grupo já exibiu suas tralhas no MASP (também previsivelmente, a Ilustrada, outra banheira morna em que o progressista dodói gosta de imergir, deu capa para a mostra). Descobriu que, no museu paulista, 6% das obras foram feitas por mulheres, e 60% dos nus são femininos.
O pressuposto da pesquisa é que toda arte ocidental foi feita por homens, para o prazer de homens. A conclusão, claro, já estava dada antes que as tais garotas guerrilheiras se dedicassem à fastidiosa tarefa de contar mulheres peladas nos museus. Essa militância contra o nu é a face mais puritana do feminismo. Há mais em comum entre as Guerrilla Girls e os reaças que fecharam o Queermuseu em Porto Alegre do que qualquer dos lados estaria disposto a admitir.
Haverá razões históricas para a presença mínima das mulheres na história da arte (ou da ciência, da música, da literatura…). Mas não há como corrigir retrospectivamente a história: lamento, garotas, museus dedicados à arte do passado serão sempre dominados por homens. A Renascença foi praticamente um ministério do Temer: nada de mulheres. Não se segue daí que todos os quadros produzidos pelos pintores do passado são expressões da opressão masculina sobre suas modelos, vestidas ou nuas.
Os cartazes das Guerrilla Girls não valem grande coisa nem no mundo da propaganda ideológica: todos no mesmo amarelo monótono, com a figura de uma mulher nua com cabeça de macaco encimada pelas estatísticas machistas de cada museu avaliado. Instituições como o Tate e o Masp talvez considerem que fazem uma saudável autocrítica ao abrir suas salas para essas porcarias — mas parece antes a tentativa patética de se mostrar antenado às novas modinhas identitárias. Se a preocupação com a baixa representatividade feminina é sincera, fariam melhor buscando mostras temporárias com boas artistas. A propósito, na 33a Bienal de São Paulo — que se encerra neste domingo, 9 — o melhor que você encontrará são os quadros extraordinários da sueca Mamma Andersson, com sua serena mas incômoda representação de cenas domésticas. Nenhuma mulher-macaco à vista.
***
(Nem sempre a arte foi o Clube do Bolinha. Uma pesquisa recente conduzida pelo arqueólogo Dean Snow, da Universidade da Pensilvânia, sugere que pelo menos na pré-história a cena artística era dominada pelas mulheres. Pesquisando marcas de mãos nas paredes onde há pinturas rupestres, Snow conclui que três quartos dos artistas paleolíticos seriam do sexo feminino. Há um belo artigo a respeito na The Spectator — escrito, se interessa saber, por uma mulher.)
***

No site em que Michelle Hartney apresenta seu projeto de expor todos os artistas homens no pelourinho da vergonha, aparece uma citação de Nanette, monólogo da comediante Hannah Gadsby disponível na Netflix. Nesse stand up, Hannah conta que estudou história da arte na universidade. Ela vai bem quando ataca a romantização da doença mental que se faz em torno de figuras como Van Gogh, mas em seguida a comédia deriva para a diatribe. A hostilidade da comediante em relação à arte — toda a arte do passado — é uma nova modalidade de filistinismo militante. Diz ela que nos museus só encontramos dois tipos femininos: a virgem e a vagabunda. Se isso é uma piada, não teve graça; se pretendia ser uma crítica séria, carece de sustentação. Qualquer passeio por um bom museu desmente essa apreciação. O mais famoso dos quadros de mulher, a Mona Lisa, não cai em nenhuma das categorias. Marie-Thérèse, em O Sonho, tampouco aparece como virgem ou vagabunda — a não ser que sejamos tão pudicos a ponto de chamar de vagabunda qualquer mulher que tenha um sonho erótico.
Hannah odeia Picasso. Diz isso mais de uma vez: “eu odeio Picasso”. Ela não o perdoa por ter feito sexo com uma menor de idade — Marie-Thérèse, que tinha 17 anos quando se tornou amante do pintor (o que me dá o prazer perverso de fazer uma nova associação entre o progressismo dodói e a gritaria estridente da “nova direita” brasileira: há não muito tempo, os direitistas atacavam Caetano Veloso por ter se envolvido com Paula Lavigne quando ela contava idade ainda mais precoce). No trecho que Michelle Hartney cita em seu site, Hannah afirma que a misoginia de Picasso é uma doença mental. E eu pensava que já havíamos ultrapassado os tempos em que supostas falhas morais eram classificadas como distúrbio psiquiátrico.
O monólogo de Hannah alcança seu ápice e seu sentido último na revelação de que ela já foi vítima de violência sexual. Parecerá duro, insensível dizer isso: não, a condição de vítima não lhe dá autoridade especial para invalidar toda a arte ocidental. A arte não “legitima” a violência contra as mulheres. E não serão etiquetas acusatórias ao lado da obra de artistas supostamente misóginos que poderão reparar ou evitar esses crimes.
***
O quinto episódio da série The Romanoffs, brilhante, tem um diálogo que captura bem tudo o que eu teria a dizer sobre o propalado domínio do patriarcado sobre a arte — neste caso, a arte literária. Diane Lane vive a protagonista da história, Katherine Ford, que é professora de literatura russa em uma universidade americana. Uma aluna vai à sua sala para reclamar da nota C que recebeu em um trabalho sobre Tolstoi. A jovem estudante não entende porque não foi melhor avaliada: reproduziu tudo o que a professora dizia em aula. “Eu vou recompensar você por pensar, não por pensar como eu”, retruca a professora. Katherine critica ainda a opção da aluna em centrar sua análise sobre a primeira frase de Anna Kariênina, “que até um motorista de ônibus conhece”. “Eu tirei um C porque penso como um motorista de ônibus? Eu esperava que uma professora mulher tivesse uma perspectiva diferente”, diz a aluna. Katherine Ford faz uma concessão: sim, ela foi “esnobe” ao falar assim dos motoristas de ônibus. Não deveria ter dito isso. Mas então lança a provocação:
“Eu aceitaria de bom grado uma análise política que explicasse por que você pensa que Anna Kariênina, que ao tempo de sua publicação foi tão perturbador a ponto de se proibir sua leitura às mulheres, não tem valor nenhum porque foi escrito por um homem”.
A aluna não parece entender a ironia.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Morre Julian McMahon, ator de FBI e Quarteto Fantástico, aos 56 anos
Morre Julian McMahon, ator de FBI e Quarteto Fantástico, aos 56 anos Termina casamento de Ricardo Waddington, ex todo poderoso da Globo
Termina casamento de Ricardo Waddington, ex todo poderoso da Globo Os relatos de vizinhos sobre família morta por filho adolescente no Rio: ‘Ficamos sem chão’
Os relatos de vizinhos sobre família morta por filho adolescente no Rio: ‘Ficamos sem chão’ O posicionamento da Band sobre agressão de repórter Lucas Martins
O posicionamento da Band sobre agressão de repórter Lucas Martins Cápsula espacial cai no mar com restos mortais e sementes de cannabis a bordo
Cápsula espacial cai no mar com restos mortais e sementes de cannabis a bordo