
Calmantes para dormir. Estimulantes para melhorar a concentração. Pílulas para emagrecer. Na década de 60, a FDA, a influente e reputada agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, aprovava, em média, quinze novos remédios a cada ano. Era o início do desenvolvimento dos chamados blockbusters, remédios que pareciam representar uma bala de prata para os males mais comuns de nosso tempo. Em 1987, aprovou-se a lovastatina, antídoto contra o colesterol. No mesmo ano, a fluoxetina, antidepressivo conhecido pelo nome comercial Prozac, rapidamente se anunciou como uma arma letal contra a melancolia. Em 1998 chegou o metilfenidato, a Ritalina, considerada um calmante para as crianças e apelidada de “babá química”. E então brotou o sildenafil, o Viagra, a milagrosa pílula azul com a qual as noites de amor passaram a exigir apenas o desejo. Nos últimos dez anos, realizaram-se, em média, 32 aprovações anualmente. Em toda a sua história, desde o primeiro remédio produzido em escala industrial, a Aspirina, a FDA já aprovou 1 600 substâncias.
O impacto de cada medicamento foi fenomenal, um estrondo atrás do outro, numa espetacular corrida promovida pela medicina. No entanto, a partir do fim dos anos 1990, deu-se uma novidade ainda mais luminosa. A comunidade científica chegou à conclusão de que custaria caro demais — e sem o mesmo sucesso — olhar para as doenças sem levar em consideração aspectos individuais e intransferíveis dos pacientes. Com o Projeto Genoma, concluído em 2003, descobriu-se que os genes desempenham papel seminal na origem das doenças — descoberta nada surpreendente, mas fundamental. É como se houvesse uma doença para cada pessoa, e portanto um tratamento específico para cada caso.
Estamos a um pequeno passo de superar a lógica da cura, que dominou a ciência por séculos, para entrar na era do fim das doenças
Os blockbusters já não produziriam o efeito sonhado. Tome-se como exemplo o câncer. Sabe-se que a proliferação desordenada de células malignas causa tumores. Mas a forma como cada célula maligna se comporta depende de inúmeros fatores de cada organismo. O resultado mais extraordinário dessa nova abordagem — de uma medicina para cada um, a chamada medicina personalizada — ocorreu no fim do ano passado.
É a história da garotinha americana Emily Whitehead, 13 anos, a primeira criança no mundo a ser curada de leucemia com uma nova terapia capaz de reprogramar as células para atacar o mal de modo absolutamente único. Com o nome de Car-T, o tratamento foi aprovado pela FDA em 2017. Estima-se que, nas próximas décadas, a individualização da medicina será estendida à maior parte das doenças — e aí, sim, estaremos mais perto da tão esperada cura total.
E mais: a personificação chegará à prevenção. Testes genéticos identificarão os riscos de doenças crônicas, como diabetes e Alzheimer, e dessa forma será possível intervir antes do surgimento dos males. Diz o geneticista Salmo Raskin: “No futuro, tratar será exceção. A regra será evitar as doenças”. Estamos, portanto, a um pequeno passo de superar a lógica da cura, que dominou a medicina por séculos, para entrar na era do fim das doenças.
Publicado em VEJA de 26 de setembro de 2018, edição nº 2601


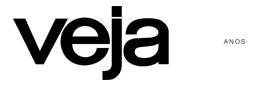
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Com quem Agnaldo Rayol foi casado por quase 50 anos
Com quem Agnaldo Rayol foi casado por quase 50 anos A difícil decisão de Fábio Assunção ao aceitar fazer ‘Garota do Momento’
A difícil decisão de Fábio Assunção ao aceitar fazer ‘Garota do Momento’ Quais foram os maiores “micos imobiliários” da história brasileira
Quais foram os maiores “micos imobiliários” da história brasileira Cade investiga 33 multinacionais por formação de cartel no país
Cade investiga 33 multinacionais por formação de cartel no país Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton
Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton








