
Entre as décadas de 60 e 70, movimentos que combatiam o preconceito contra os homossexuais irromperam nos Estados Unidos com força para se espalhar por outros países e começar — apenas começar — a pavimentar um cenário para a aceitação da diversidade. Os avanços foram acontecendo a passos lentos, mais vagarosos ainda no Brasil, até que definições convencionais — homem/mulher, heterossexual/homossexual — viram-se limitadas. A sigla LGBT, que surgiu nos anos 90 para se referir a lésbicas, gays, bissexuais e travestis, expandiu-se para LGBTTTIS (agregando transexuais, transgêneros, intersexuais e simpatizantes), ou ainda LGBTQQICAPF2K+ (o 2 é de “dois espíritos”). Quando foi criado, há seis anos, o aplicativo de encontros Tinder dava ao usuário a opção de se identificar como homem ou mulher; hoje são 37 alternativas. O Facebook oferece 56. Desde 2016, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York reconhece 31 gêneros, assimilados nas empresas e na esfera pública. Mesmo assim, neste século XXI, muita gente prefere não se definir.
A questão de gênero não se restringe à orientação sexual, mas percorre também uma delicada linha que mescla um tanto de subjetividade e por vezes um componente de ideologia, já que se trata da maneira como cada um percebe a si mesmo e quer ser percebido em sociedade. Referência nos estudos de gênero, a filósofa americana Judith Butler defende uma posição radical, segundo a qual ninguém nasce homem ou mulher — “As pessoas aprendem a desempenhar esses papéis”, diz ela. Sua visão é que a identidade deve ser algo “livre” e “flexível”, sem rótulos. Para muitos já é. Os transgêneros, para quem o sexo biológico é um e a identidade de gênero é outra, formam um grupo de 1 milhão de pessoas no Brasil e 35 milhões no mundo. Eles não brotaram do nada: sempre existiram, só que ficavam recolhidos à sombra do estranhamento e preconceito, que ainda não se dissiparam.
Mas há uma clara mudança em marcha, empurrada pelas redes sociais e capitaneada por figuras de visibilidade como a ex-atleta americana Caitlyn Jenner, 68 anos, nascida William Bruce. Depois de três casamentos com mulheres e seis filhos e filhas (duas delas irmãs de Kim Kardashian), ela passou pelo processo de transição de sexo e de identidade — agora é transgênero —, acompanhada por milhões de seguidores no Instagram. Em 2015, apareceu glamourosa na capa da revista Vanity Fair e discursou em uma premiação do mundo esportivo americano para ajudar a romper a nuvem de rejeição a casos como o dela.
“Tenho a responsabilidade de contar minha história e fazer tudo o que puder para mudar o modo como os transexuais são vistos e tratados”, disse. No Brasil, o tema chegou às novelas na trama global A Força do Querer, em 2017. O personagem transgênero vivido pela atriz Carol Duarte era Ivana e virou Ivan sob os olhos de milhões de espectadores que fizeram a audiência explodir. “Trazer essa questão à tona é de suma importância para sua aceitação”, avalia o psiquiatra Alexandre Saadeh, coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Hospital das Clínicas.
A ciência ainda procura respostas para o que define como “disforia de gênero”, esse desencontro entre corpo e mente. A explicação fisiológica mais aceita recai em alterações cerebrais e hormonais no feto, durante a gravidez. A hipótese é que haveria um descompasso na produção de hormônios masculinos que circulam no corpo da mãe entre a décima semana de gestação, quando se formam os órgãos genitais, e a vigésima, quando se desenvolve a região cerebral responsável pela identidade de gênero. É aí que se abriria uma janela para um cérebro masculino em corpo feminino, ou o contrário. Assimilar o novo caldeirão de gêneros vai levar tempo, não há dúvida, mas uma vitória recente aponta para um futuro longe da vala do preconceito: em junho, a Organização Mundial da Saúde decidiu excluir a transexualidade do rol dos transtornos mentais. Como ocorreu com a homossexualidade, é um passo para a normalização.
Publicado em VEJA de 26 de setembro de 2018, edição nº 2601


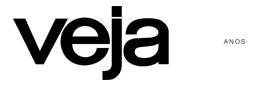


 TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci
TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci Por que muitos ainda torcem o nariz para o vinho mais vendido no Brasil
Por que muitos ainda torcem o nariz para o vinho mais vendido no Brasil Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco
Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco Podcast de Giovanna Ewbank vira alvo de disputa na Justiça
Podcast de Giovanna Ewbank vira alvo de disputa na Justiça Argentina fecha o cerco a condenados pelo 8/1, e direita brasileira se mobiliza
Argentina fecha o cerco a condenados pelo 8/1, e direita brasileira se mobiliza








