Geniais demônios da América
Sempre idiossincrático e sempre arrebatador, o crítico Harold Bloom elege uma dúzia de escritores que definiriam a grandeza literária dos Estados Unidos

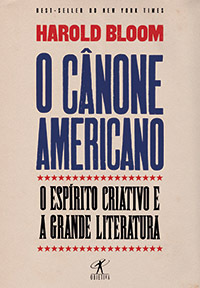
Classicista de Oxford com um pezinho no ocultismo, o irlandês E.R. Dodds (1893-1979) teve o jovem Harold Bloom, então estudante de literatura da Universidade Cornell, entre os primeiros entusiastas de seu Os Gregos e o Irracional, lançado em 1951. Estudo desbravador, o livro investigava o lado B da Grécia antiga: demonstrava que o berço da filosofia e do racionalismo ocidental também abrigara cultos místicos e xamânicos centrados nas figuras de Orfeu, o poeta mítico que desce aos infernos em busca de sua amada Eurídice, e de Dionísio, deus do vinho e da esbórnia. Foi na obra-prima de Dodds que o hoje octagenário Harold Bloom encontrou o princípio orientador de seu mais recente livro, O Cânone Americano, um estudo peculiaríssimo de doze grandes autores americanos, de Walt Whitman a William Faulkner.
Esse princípio fundamental soará um tanto extravagante ao leitor secular: trata-se do daemon, um “eu oculto” ou espírito travesso que se adonaria da pena de escritores como a reclusa Emily Dickinson e o circunspecto Henry James nos seus momentos de maior criatividade. Recém-lançado no Brasil com um título alusivo à obra anterior que fez a fama de Bloom para além dos muros acadêmicos — O Cânone Ocidental (1994) —, este novo estudo dos gigantes das letras americanas intitula-se, no original, The Daemon Knows (O Daemon Sabe). Desde sempre um crítico idiossincrático, Bloom parece possuído, nesta obra, pelo demônio da digressão: entre genealogias literárias que ligam os pobres-diabos sulistas retratados na obra de Faulkner a figuras trágicas do teatro de Shakespeare e leituras cerradas dos mais indevassáveis poemas de Wallace Stevens, Bloom intercala memórias de sua vida intelectual, como as conversas sobre Shakespeare que tinha com o amigo Anthony Burgess, autor de Laranja Mecânica e ávido bebedor de conhaque. Também evoca discussões exaltadas com críticos rivais e debates fecundos que teve com seus alunos na Universidade Yale. O Cânone Americano não tem o vigor polêmico de seu antecessor, O Cânone Ocidental, nem a originalidade teórica de A Angústia da Influência, de 1973. Mas presta testemunho de uma vida dedicada ao estudo apaixonado da literatura em seus momentos mais altos. Mesmo quando não compartilhar da visão do crítico sobre determinada obra ou autor, o leitor de Bloom não conseguirá se manter imune aos demos do autor.

“Demo”, aliás, é como a tradutora Denise Bottmann verteu daemon em português. Opção arriscada, mas justificável: em O Cânone Americano e em obras anteriores de Bloom, esse espírito de nome grego contamina-se de noções heréticas do cristianismo, de obscuras disciplinas gnósticas e da cabala judaica. Tal como o demo da tradição popular, ele é uma força possessiva, que toma conta dos autores afetados. Em entrevista a VEJA, Bloom falou dessa entidade: “É uma faísca, um princípio vital que domina os grandes escritores criativos”. Talvez pudesse ser chamado, em termos mais comezinhos, de inspiração, mas Bloom, autor propenso à exaltação hiperbólica, não é homem de palavras comezinhas.
São doze os autores possuídos pelo demo americano, e Bloom trata deles em seis capítulos, cada um deles recolhendo uma dupla. Walt Whitman (1819-1892), o bardo múltiplo de Folhas de Relva, faz par com Herman Melville (1819-1891), autor do monumento marítimo Moby Dick: são eles os demos originais, as vozes mais sublimes da “religião americana”. Essa “religião” seria sistematizada no ensaísmo de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), que exaltou a autoconfiança e a independência como virtudes supremas de um novo homem americano. Emerson, conferencista magnético que atraía séquitos de jovens admiradores, divide seu capítulo com a retraída Emily Dickinson (1830-1886), que em vida só publicou um punhado de seus poemas extraordinários e enigmáticos — e há sentido nessa junção de personalidades tão distintas: Emily Dickinson também encarna, em sua solidão, a independência propagandeada por Emerson. Dois mestres da ficção, Nathaniel Hawthorne (1804-1864), contista e romancista da vida provinciana na Nova Inglaterra, cujo renome se sustenta sobretudo em A Letra Escarlate, e Henry James (1843-1916), o estilista de Retrato de uma Senhora, que terminou a vida como cidadão britânico na Inglaterra, são examinados em conjunto. O prosador sulista Mark Twain (1835-1910), criador dos memoráveis Tom Sawyer e Huckleberry Finn, e Robert Frost (1874-1963), um poeta da vida rural do norte, são unidos por um liame meio frouxo: seriam os dois únicos da dúzia que teriam conhecido o sucesso popular. O contraste entre os poetas Wallace Stevens (1879-1955) e T.S. Eliot (1888-1965) — outro eminente americano que acabou se naturalizando britânico — é o mais conflituoso: opositor histórico dos seguidores de Eliot na universidade americana, Bloom faz uma relutante concessão ao gênio do autor de A Terra Devastada, mas reconhece que tem por ele só uma “fria admiração” — e uma franca ojeriza por seu “neocristianismo” conservador (e antissemita). A última dupla, no entanto, sofreu considerável influência de Eliot: o romancista William Faulkner (1897-1962), antes de inscrever o fictício condado de Yoknapatawpha na paisagem imaginária dos Estados Unidos, escreveu poemas ruins ao modo de Eliot, e Hart Crane (1899-1932) respondeu a A Terra Devastada com seu poema A Ponte.
Ficam de fora, entre tantos outros, Edgar Allan Poe, Flannery O’Connor, Ernest Hemingway e F. Scott Fitzgerald. Bloom, o teórico da “angústia da influência”, sempre enfronhado na luta renhida dos grandes escritores para superar seus antecessores, acredita no entanto que sua dúzia concentra as linhas de força fundamentais da grandeza literária americana. Sua compulsão para traçar linhagens — o escritor X que herda esta ou aquela figura literária de Y — é às vezes um tanto fastidiosa. Bloom, aliás, repete-se bastante ao longo do livro (em uma extensão de menos de quinze páginas, cita o mesmo poema de Emily Dickinson, para reiterar quase a mesma análise). Mas ele consegue ser convincente quando desencava os antecessores recalcados de grandes poetas: Walt Whitman, afirma Bloom, lança sua sombra demônica sobre Stevens e Eliot, ainda que os dois relutassem em reconhecer essa influência.
Na obra pregressa, sobretudo a partir de O Cânone Ocidental, Harold Bloom de certo modo inventou um personagem de si mesmo: o último grande leitor, o defensor intransigente do valor estético contra a crescente politização dos departamentos de literatura, reféns de modas ideológicas como os estudos de gênero, o desconstrucionismo, o multiculturalismo. Bloom tinha e tem boa razão em sua luta contra a politização da literatura e da crítica, mas, de tanto combater o bom combate, esteve muitas vezes perto de se converter em uma caricatura: o mestre-escola ranheta que lamenta a decadência da apreciação literária em uma era na qual só se lê Harry Potter. O Cânone Americano é um livro crepuscular, povoado de amigos mortos e fatigado pelo peso da velhice; ainda assim, consegue reavivar a chama de originalidade iconoclasta do crítico que já escreveu um livro intitulado Abaixo as Verdades Sagradas. Em sua renitente rusga com Eliot, Bloom mostra-se injusto com a qualidade do autor de Quatro Quartetos (“será apenas meu preconceito pessoal que não vê absolutamente nenhum valor estético na poesia devocional de T.S. Eliot?”, pergunta-se). Mas a querela ao menos serve para traçar distinções: Bloom é um defensor heroico do cânone literário — esse clube de antipáticos homens brancos como Dante, Shakespeare, Shelley e Whitman —, mas, ao contrário de Eliot, ele não cultiva a nostalgia de uma idealizada civilização cristã do passado.
Em certa passagem do capítulo sobre Emerson, Bloom relembra um encontro com E.R. Dodds em 1977. O autor de Os Gregos e o Irracional pegou Bloom de surpresa ao perguntar, do nada: “Quem é seu demo, Harold?”. Na entrevista que concedeu a VEJA — muito breve: aos 87 anos e cardíaco, o grande crítico não tem fôlego para conversas telefônicas —, Bloom deu a resposta que não encontrou há quarenta anos. Seu demo é Elisha ben Abuyah, rabino condenado por heresia no século I. “Ele é referido no Talmude como acher, que significa o outro ou o estranho.” O demo de Harold Bloom, portanto, é um herege. “Desde criança eu sou herético”, diz. Talvez não haja heresia maior nesses tempos brutos do que dedicar uma vida ao cultivo da grande literatura.
Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2017, edição nº 2548


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO
 Mega da Virada: de onde saíram os seis bilhetes vencedores, incluindo as apostas via internet
Mega da Virada: de onde saíram os seis bilhetes vencedores, incluindo as apostas via internet Trump desafia médicos, minimiza sinais da idade e transforma sua saúde em questão política
Trump desafia médicos, minimiza sinais da idade e transforma sua saúde em questão política Ex-mulher de Roberto Carlos defende cantor após críticas
Ex-mulher de Roberto Carlos defende cantor após críticas Estados Unidos atacam a Venezuela, e Trump afirma que Maduro foi capturado
Estados Unidos atacam a Venezuela, e Trump afirma que Maduro foi capturado Presidente da Bolívia assina decreto para governar a distância em meio a disputa com o vice
Presidente da Bolívia assina decreto para governar a distância em meio a disputa com o vice


















