Atolado no caminho
Os efeitos danosos causados ao setor por décadas de megalomania, falta de planejamento e relações espúrias entre o Estado e empreiteiras

Obras monumentais de infraestrutura foram, entre as décadas de 60 e 70, a mais vistosa vitrine de propaganda da ditadura militar. Afinal, elas soavam como autênticos modelos de vigor, determinação, poder. A Ponte Rio-Niterói, cuja construção teve início em 1969, era a segunda maior do mundo quando foi aberta ao tráfego, em 1974. A Rodovia Rio-Santos, tema de capa da edição de VEJA datada de 10 de novembro de 1972 — três anos antes de sua inauguração —, serviu igualmente aos propósitos do regime. Durante os anos 1970, sob o chamado “milagre econômico”, o Brasil aplicou cerca de 5,5% do PIB em energia, transporte e telecomunicações (hoje, o índice não chega a um terço disso). Esses investimentos atenderam às necessidades de crescimento e industrialização acelerada, mas a falta de transparência e a forte censura impossibilitaram que se soubesse ao certo o custo da megalomania da ditadura. Sem democracia, sem oposição para impor limites e sem necessidade de prestar contas a ninguém, os militares podiam tudo — até quebrar o país, que acabaria atolado em uma dívida externa, também ela monumental (cresceu trinta vezes durante o regime).
Remonta àquele período o projeto da Transamazônica, a rodovia de 8 000 quilômetros serpenteados selva adentro. A estrada foi idealizada em um delírio de grandeza do general-presidente Emílio Garrastazu Médici (1905-1985), que governou o país entre 1969 e 1974. Ela seguia o plano de integração nacional formulado pelos militares, o que certamente não era má ideia, mas ficaria inacabada. Hoje estão em operação 4 200 quilômetros. Outra peça-chave de propaganda da ditadura, a hidrelétrica de Itaipu se tornaria marco da crise profunda que o modelo irresponsável de investimentos legaria ao Brasil. De acordo com estimativas atuais, o total de recursos captados para realizar o projeto, cuja construção se prolongou de 1975 a 1982, incluindo as rolagens financeiras, alcançou 27 bilhões de dólares. Apesar de a usina gerar cerca de 20% de toda a energia consumida no país, especialistas ainda divergem sobre quando Itaipu “se pagará”.
O modelo em que todo investimento era liderado pelo Estado funcionou enquanto houve empréstimo farto e barato. No entanto, assim que os juros internacionais começaram a subir, na segunda metade da década de 70, as finanças nacionais entraram em colapso. Para piorar, ocorreram os choques no preço do petróleo. A ressaca chegaria na forma dolorosa de hiperinflação, urbanização caótica e desigualdade social.

Com a redemocratização, em 1985, o governo aumentou os gastos sociais para tentar enfrentar a herança maldita do regime militar, reduzindo a desigualdade — o que, mais tarde, acabaria resultando em um crescente déficit público. Os recursos disponíveis para aplicar na infraestrutura caíram e o sucateamento do setor só seria revertido, em parte, com as privatizações dos anos 1990. Não ajudou em nada nesse quadro a sucessão de escândalos que tomariam de assalto a infraestrutura brasileira. Nesse sentido, a concorrência fraudulenta para a construção da Ferrovia Norte-Sul, um contrato que envolvia 1 600 quilômetros de obras, é paradigmática. “A demonstração de que houve fraude numa concorrência de 2,4 bilhões de dólares abriu uma ferida no coração do governo José Sarney”, assinalou a edição de VEJA de 20 de maio de 1987. A disputa acabaria cancelada, e a ferrovia, que deveria ter ficado pronta 1 077 dias depois de iniciada, não foi finalizada. O escândalo, já no período democrático, escancararia as relações espúrias que os empreiteiros mantinham, havia tempo, com o Estado, mas que a censura à imprensa imposta pela ditadura impedira de vir a público.
Outro problema do setor foi a falta de planejamento, como ficou claro na crise energética de 2001, que levou o governo a decretar um plano de racionamento. Dois anos antes, como que lançando um alerta sobre o que estava por vir, um blecaute deixou dez estados e o Distrito Federal às escuras por quatro horas. Em 1968, o economista Roberto Campos já havia criticado a fragilidade do sistema nacional de geração de energia baseado em hidrelétricas, que tornava o Brasil dependente do volume das chuvas. O apagão de 2001 deveria ter deixado lições. Aparentemente não deixou. Em 2015, uma forte estiagem secou represas no Sudeste, disparando um novo alarme. “Em um país cuja matriz energética é essencialmente hídrica (…), faltar água é o atalho para apagar a luz”, registrou VEJA.
A fim de reviver o “milagre econômico” e de fazer com que o governo exercesse um papel mais ativo na infraestrutura, o então presidente Lula criou em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento, cuja meta era sanar as deficiências históricas do setor. No PAC, o governo propunha sociedade à iniciativa privada — e ditava as regras. As empreitadas, além de servir para azeitar a corrupção, tiveram resultado aquém das promessas. As edições I e II do PAC apresentaram obras grandiosas, como a transposição do Rio São Francisco, porém um estudo da consultoria Inter.B revelou que menos de 20% dos empreendimentos foram entregues de acordo com o previsto. Muitos não tiveram cálculo de orçamento nem de prazo. Resultado: projetos com atraso e custos na Lua, tanto em razão da incompetência como da corrupção. O setor de infraestrutura acabou virando pano de fundo para a crônica policial da Lava-Jato. Alguns protagonistas da reedição da megalomania militar estão atrás das grades. Isso, entretanto, não resolve o problema. A infraestrutura nacional continua tentando sair do atoleiro, como se poderá ver na reportagem seguinte.
Publicado em VEJA de 8 de agosto de 2018, edição nº 2594

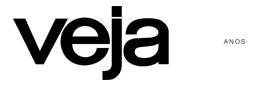
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


















