“A dor mais profunda”, diz Cacá Diegues sobre perda da filha Flora
Um dos grandes cineastas brasileiros diz que submergiu por tanto tempo para lidar com o luto e que novo filme é uma forma de expurgar os anos Bolsonaro

Um dos expoentes do cinema novo — movimento dos anos 1960 que reinventou a forma de documentar o Brasil embalado pelo clássico mote “uma câmera na mão, uma ideia na cabeça” —, o alagoano Cacá Diegues, 82, mergulhou desde novembro nas filmagens de Deus Ainda É Brasileiro, derivado de Deus É Brasileiro, de 2003, e vigésimo longa de sua extensa trajetória, que se confunde com a própria história do país. Perseguido pela ditadura militar, período em que se exilou por um tempo em Paris ao lado da então mulher, a cantora Nara Leão, ele retorna à cena depois de cinco anos, apostando em dias melhores para a cultura na paisagem pós-bolsonarista. Em emocionado relato, Cacá revela como ainda luta para superar a morte da filha Flora, em 2019, vítima de um câncer no cérebro aos 34 anos. “Todos os planos e ideias que dividia com ela foram interrompidos”, conta ele nesta entrevista concedida por videoconferência de sua casa, no Alto da Boa Vista, Zona Norte carioca.
Foi a perda de sua filha Flora, aos 34 anos, que o paralisou nestes últimos anos? Foi. Passei quase uma década afastado de tudo. Ela ficou doente em 2015 e enfrentou uma batalha de quatro anos contra a doença. Quando Flora morreu, foi um sofrimento que não dá para medir. Perdi o gosto pelas coisas, inclusive o interesse pelo cinema. Ela me ensinou muito. Era roteirista, diretora, atriz. Eu tinha escrito um roteiro de um filme em que ela atuaria. Era sobre o encontro de duas mulheres de gerações diferentes, as duas tentando fazer política. Joguei fora porque simplesmente não poderia fazê-lo com outra pessoa. Antes, não parava de pensar: “O que Flora iria dizer sobre isso?”. Hoje, não é mais assim, embora todo dia me lembre dela. Nunca vai sair da minha cabeça, do meu coração.
O que o fez emergir para a vida novamente? Durante a reclusão da pandemia, comecei a pensar em Deus Ainda É Brasileiro. Fui juntando elementos e, quando acabou a quarentena, estava com um roteiro pronto. Aí apareceu o Ricardo Barreto, meu grande amigo, e montei a produção com a ajuda dele e da minha mulher, Renata Magalhães, com quem tive a Flora. Fiz esse filme pela necessidade de expurgar os anos Bolsonaro. Ele é sobre o que o Brasil ainda pode ser.
Depois de atravessar tantos governos, como o senhor situa a gestão de Bolsonaro na área da cultura? O governo Bolsonaro foi muito além da incompreensão sobre a cultura. Na realidade, era uma situação em que o poder estava contra nós. Foram anos muito difíceis. E Bolsonaro tinha uma implicância em especial com o cinema. Mas, como se viu, felizmente não tinha o poder de extinguir o setor. Há vários cineastas por aí produzindo bons filmes, de maneira muito clara e objetiva.
O senhor chegou ao ponto de cogitar abandonar a carreira? Tive momentos de profunda decepção, de reflexão sobre o país e de pessimismo. Foram tempos duríssimos, que coincidiram com a morte da minha filha. Isso me deixou muito abalado, deprimido, me tirou do ar. Mas abandonar a carreira, não. Não sei fazer outra coisa.
“Quando Flora morreu, foi um sofrimento sem medida. Perdi o gosto pelas coisas, inclusive o interesse pelo cinema. Ela nunca vai sair da minha cabeça, do meu coração”
Bolsonaro perdeu para Lula, mas o ímpeto conservador segue firme. Essa é uma preocupação? A despeito de tudo isso, a produção cultural continua. Mas, claro, não é o suficiente para dizer que o Brasil está a salvo. A cultura depende do pensamento das pessoas que aqui vivem, e uma grande parcela dos brasileiros votou em Bolsonaro porque ele é reacionário. É difícil convencê-los de que o país pode ser muito mais. Mas não acho que o Brasil vá dar errado, pelo contrário. Meu filme Deus Ainda É Brasileiro reitera a crença de que nossa história pode ser diferente.
O senhor já disse que não adianta alçar nomes famosos à pasta da Cultura se o escolhido não for capaz de “sonhar e construir na prática”. A atual ministra, Margareth Menezes, está preparada para tanto? Não a conheço. Para falar a verdade, nem sabia direito quem era. Por isso, acho difícil dar palpite. O que posso afirmar é que não há comparação possível com a Regina Duarte.
Aliás, como avalia a gestão de Regina Duarte à frente da pasta? Ela estava comprometida com o que há de pior do Brasil. Não sei o que se passa na cabeça dela, nunca fomos próximos. Ela fazia novela e eu ficava cá, no cinema. Mas o que ela fala é muito comprometedor, duro de ouvir e aceitar.
Bolsonaro secou a fonte da Lei Rouanet, justificando ser uma “mamata” para a classe artística. A lei tal qual é concebida abre margem para desvios? Não vejo assim. A ofensiva de Bolsonaro não se respalda nos fatos. No caso do cinema, é uma ilusão achar que usamos dinheiro público. Afinal, o cinema contribui muito mais com recursos ao país do que o inverso. Nunca vivemos à custa de governos. As leis de incentivo foram feitas usando impostos arrecadados na própria exibição dos filmes. Com Bolsonaro, espalhou-se uma ideia distorcida, de que esse dinheiro era do país e que a cultura o estava usurpando. Não é verdade.
E casos como o de Chatô, um projeto de Guilherme Fontes, que levou milhões via Lei Rouanet e demorou muito para entregar o filme? Repito que o cinema brasileiro contribuiu muito mais com o país do que qualquer governo já deu ao cinema.
Por que, historicamente, o Brasil volta e meia dá as costas à cultura? Não consigo entender. Durante toda minha vida como cineasta, sempre tive uma relação difícil com o Brasil. Vira e mexe, nós, da cultura, somos excluídos porque enxergamos o país de uma forma distinta da visão oficial. Sob uma perspectiva histórica, acho que os políticos nunca entenderam a verdadeira importância da cultura nacional. Pertenço a uma geração que descobriu a cultura popular lá atrás e a transformou em um instrumento não só de luta política, mas também de criação.
E foram bem-sucedidos na missão? Não. Acreditávamos que seríamos uma espécie de terceira via naquela briga que rachava o mundo entre socialismo e capitalismo. Mas isso nunca aconteceu. Veio o golpe de 1964 e o Brasil virou algo completamente diferente. Tivemos muito pouco de democracia. Na maior parte do tempo, fomos uma nação amargurada, um país que não se ama e que não quer conhecer a si mesmo.
O senhor criou a expressão “patrulha ideológica”, de modo a iluminar os críticos que, no fim dos anos 1970, falavam mal de produtos culturais que não estariam alinhados a um certo cânone de esquerda. A patrulha ideológica ainda existe? Naquele momento, me referi a isso de forma quase brincalhona. Não sou sociólogo, portanto não usei a expressão de maneira científica. Me ocorreu por causa da violência com que meu filme Xica da Silva foi recebido, não apenas pelos brancos de direita, mas pelos negros de esquerda também. O problema do país é se enredar nesse Fla-Flu ideológico. Hoje, o patrulhamento se tornou vitorioso e está nos centros de poder. A política é uma disputa entre grupos, todos atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu não tenho vergonha de dizer que não me interesso por nada dessa natureza. Acho uma palhaçada sem sentido.
O politicamente correto faz mal para o cinema, a literatura, a música? É uma bobagem. Acho que o politicamente correto é uma espécie de vergonha que as pessoas têm por não haver uma punição definitiva para problemas concretos. Você aperta um botão e acha que assim resolve as questões. Eu não tenho nenhum compromisso com a maioria, com esse domínio que você precisa ter da correção.
Desde o fim da pandemia, os cinemas não recuperaram o público perdido e ainda têm no streaming um concorrente com cada vez mais peso. As salas de exibição vão acabar? Não sei, mas, se acabarem, é porque o público quis. Vai fazer o quê? Lutar? Seria luta inglória. Acho infantil se manifestar contra qualquer novidade.
O streaming é uma ameaça ao cinema ou uma janela de oportunidade? Em 1933, a Warner inventou o cinema falado e isso gerou uma onda de protestos. Na época, não havia um único cineasta que o defendesse. Sempre que aparece algo novo, inovador, que muda o gosto das pessoas, vê-se uma reação. Eu desconfio desses julgamentos rigorosos. Por que vou ser contra o streaming se é uma forma de assistir a filmes na TV, do jeito que quiser? É uma revolução para o cinema, que vive de se adaptar.
“O patrulhamento ideológico se tornou vitorioso, está nos centros de poder. O problema do país é se enredar nesse Fla-Flu, que só atrapalha. Acho uma palhaçada sem sentido”
Hoje, as comédias nacionais monopolizam as bilheterias. Essa predominância de um gênero é um freio ao cinema nacional? Não, e não me incomoda nem um pouco. Seria uma tolice, uma atitude fascista até você ir contra a preferência das pessoas. Se é o que o público quer ver, qual o problema? É uma dádiva ter uma indústria que consegue corresponder às expectativas da população.
O Brasil nunca levou um Oscar, a última Palma de Ouro foi na década de 60 com O Pagador de Promessas e vizinhos como a Argentina têm ido mais longe da cena internacional. O que deixamos a dever aos outros? Se eu achasse que falta qualidade, já tinha abandonado. O que ocorre é que o filme nacional não é feito para agradar argentino, colombiano nem americano. Então tem dificuldade de ser exportado. Mas já ouvi de cineastas dos Estados Unidos quanto Glauber Rocha é genial. E, no entanto, aqui até esquecem que Glauber existiu.
O senhor foi o indicado do Brasil para concorrer ao Oscar sete vezes e nunca ganhou a estatueta. Foi injusto? Sim, é uma injustiça, mas não uma frustração. Isso não me dói, não. Sou, inclusive, um dos poucos brasileiros que integram a Academia, com direito a voto no Oscar e tudo.
A quem daria seu voto: Chico Buarque, Caetano Veloso ou Gilberto Gil? Fico com os três. Não sou discípulo de um artista só. Sabe que eu até queria ser músico na juventude? Tocava violão. A música sempre foi muito importante nos meus filmes.
O casamento com Nara Leão o influenciou nesse sentido? Nara era formidável. Não era só uma cantora brilhante, mas sabia muito sobre o Brasil e surpreendia a mim e aos outros. Foi um casamento divertido, que me deu dois filhos. Ela me apresentou pessoas brilhantes, como Chico e Caetano, e me abriu novas portas.
Publicado em VEJA de 22 de março de 2023, edição nº 2833



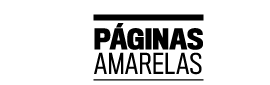


 Leão XIV, o primeiro papa agostiniano da história: o que isso quer dizer
Leão XIV, o primeiro papa agostiniano da história: o que isso quer dizer A desastrosa mudança nas falas de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’
A desastrosa mudança nas falas de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’ Vestes e lema de papa Leão XIV realçam escolhas divergentes das de Francisco
Vestes e lema de papa Leão XIV realçam escolhas divergentes das de Francisco Recuperação da Argentina surpreende e explode lucro do Mercado Livre
Recuperação da Argentina surpreende e explode lucro do Mercado Livre Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações
Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações







