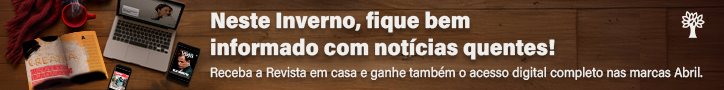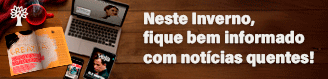Trump marca o fim do mandato com afronta à maior democracia do Ocidente
Ao incitar a invasão do Congresso, o presidente republicano deixa um legado vergonhoso

De tuíte em tuíte, de comício em comício, Donald Trump passou os últimos dois meses esticando a corda imaginária da eleição que dizia ter conseguido “de lavada” mas que lhe foi roubada por meio de fraudes e manobras espúrias. Todas as acusações e tentativas de ação legal para anular a vitória de Joe Biden ruíram diante dos fatos, mas o presidente persistiu na cruzada, instigando seus apoiadores — que são multidões — a resistir até o fim, com violência, se fosse preciso. Na quarta-feira 6, dia da confirmação do resultado eleitoral no Congresso, Trump subiu o tom: falando a manifestantes em um parque próximo à Casa Branca, bateu seguidamente na tecla do resultado fraudulento, denunciou “traidores” e estimulou a turba a marchar para o Capitólio, de modo a renegar a eleição de novembro. Uma horda virulenta disposta a tudo tomou conta dos solenes salões onde têm assento os representantes do povo na mais sólida democracia do planeta.
Em cenas chocantes, inimagináveis, simultaneamente agressivas e constrangedoras, manifestantes se aproximaram do prédio, escalaram paredes, derrubaram portas e entraram no Capitólio, enfrentando minguada reação da polícia. A insurreição com cheiro de golpe de Estado no país da Constituição exemplar, formulada pelos founding fathers em 1791, símbolo indelével das liberdades individuais e da blindagem das instituições democráticas, escancarou o risco embutido no populismo ao modo Trump, imitado por governantes autoritários mundo afora: sem controle, transborda em desprezo pela ordem estabelecida. “A tese da fraude martelada por Trump foi absorvida por grupos radicais, e as consequências, como se vê agora, são trágicas”, diz Brian Klaas, professor de política internacional da University College de Londres. Vídeos mostravam manifestantes circulando à vontade pelos corredores do Congresso. Um grupo entrou no plenário do Senado, recém-esvaziado, e um “viking” de peito de fora, com jeitão de figurante do grupo Village People, foi fotografado no pódio da presidência, de onde o detentor do cargo, o vice Mike Pence, escapulira às pressas. Foi como se — numa comparação exagerada, mas didática e necessária — Roma fosse tomada pelos bárbaros. Numa palavra: vergonhoso.
No usualmente bem guardado gabinete da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, um homem descansava com o pé na mesa e um cartaz escrito a mão anunciava: “Não vamos recuar”. Agentes de segurança tiveram tempo de levar os deputados e senadores para local seguro, mas, nas galerias, visitantes e funcionários se escondiam sob as poltronas. Houve roubos, depredações e confronto armado. Uma mulher levou um tiro quando entrava por uma janela quebrada e morreu no hospital. A prefeitura decretou toque de recolher, a Guarda Nacional e outras forças foram convocadas e, no fim do dia, um cordão de isolamento cercava o Capitólio. Por uma tarde, os Estados Unidos assumiram contornos de república bananeira. Insista-se: foi um dia sombrio para a civilização ocidental. Líderes do mundo todo condenaram a afronta à democracia. O ditador Nicolás Maduro, uma espécie de Trump da esquerda, tripudiou: “A Venezuela expressa sua preocupação com os atos de violência em Washington”.

Enquanto o atual ocupante da Casa Branca se fechava em silêncio ensurdecedor, Biden foi à TV pedir que ele “acabasse com o cerco”. Custou, mas por fim o presidente divulgou um vídeo curto em que se solidarizou com a “dor” dos invasores antes de pedir que fossem embora “em paz” (sem condenar seu ato) e afagá-los: “Vocês são especiais”. Em um tuíte mais tarde, assegurou: “Nunca esqueceremos este dia”. E mais não disse porque o Twitter bloqueou temporariamente sua conta, cortando o som do megafone presidencial.
Antes da escandalosa invasão do Legislativo instigada por Trump, ele já havia tomado outras duas providências na mesma linha do confronto e do vale-tudo para mudar o resultado da eleição. No domingo 3, o jornal The Washington Post divulgou trecho de uma conversa de mais de uma hora em que Trump buscava convencer o encarregado das apurações na Geórgia a “arranjar” mais votos para si, expondo o mandatário da nação mais poderosa do mundo em plena prática de uma artimanha ilegal. Também partiu dele a instrução para que o vice Pence, na posição de presidente do Senado, melasse a sessão de confirmação da vitória de Biden — Pence se recusou, alegando que isso estava além das suas atribuições. “Trump quer manobrar a democracia para se perpetuar no poder”, avalia a historiadora Ruth Ben-Ghiat, da Universidade de Nova York, comparando-o a autocratas como Vladimir Putin, da Rússia, e Viktor Orbán, da Hungria. “A diferença é que os Estados Unidos têm instituições sólidas, preparadas para repelir essas tentativas”, acrescenta.
De tanto martelar a tese da fraude, Trump é visto como o maior responsável por mais uma derrota eleitoral dos republicanos, com efeito de longo alcance. Na mesma Geórgia da patética conversa sobre os votinhos a mais, a eleição fora do calendário para duas vagas no Senado resultou em uma apertadíssima, mas altamente relevante, dupla vitória democrata — um deles, o primeiro senador negro do estado. Segundo especialistas, a desconfiança insuflada pelo presidente desanimou republicanos de votar. Com esse resultado, o Senado fica empatado, 50 a 50, entre os dois partidos, sendo o voto de minerva o do presidente da Casa, a vice eleita Kamala Harris. Pela primeira vez em quase uma década, os democratas têm maioria na Câmara — onde Nancy Pelosi foi reeleita presidente — e no Senado, o que facilita a aprovação dos projetos de Biden.
Nascido milionário, frequentador da alta sociedade de Nova York, Trump, o empresário, sempre gostou de aparecer. Virou celebridade internacional à frente do reality show O Aprendiz (em que imortalizou a frase “está demitido”), cultivando com zelo e gosto a imagem de sujeito arrogante, porém poderoso e meio esquisito — os predicados que esbanjou em entrevista a VEJA em fevereiro de 2014 (leia na pág. 42). Entrou para a política como republicano, em 1987, passou pelo Partido Democrata, até lançar-se candidato republicano nas eleições de 2016 e, diante da descrença geral, elegeu-se presidente dos Estados Unidos. Ao longo de quatro anos na Casa Branca, Trump virou de pernas para o ar o modo de governar o país, impondo sua vontade, atropelando a etiqueta e as instituições e pronunciando inverdades como se fosse a coisa mais natural do mundo. Conseguiu agir assim porque manipulou com habilidade os rancores e o orgulho ferido de uma parcela da população que não se sentia ouvida. Essa base fiel lhe deu quase metade dos votos no pleito do ano passado e dela saiu a ala radical que, em um absurdo atentado à democracia, resolveu chutar a porta do Congresso.

Ao perder a eleição de 2020, o homem vaidoso que sempre disse odiar as derrotas uniu-se ao reduzidíssimo grupo de cinco presidentes americanos que, no último século, não conseguiram a reeleição. Herbert Hoover foi escorraçado pela Grande Depressão, em 1933. O vice Harry Truman assumiu quando Franklin Roosevelt morreu, elegeu-se na votação seguinte e parou por aí. O atrapalhado Gerald Ford preencheu o vazio deixado pela renúncia de Richard Nixon, e só. Jimmy Carter tentou suavizar a postura dos Estados Unidos como guardião do planeta, ganhou fama de fraco e não conseguiu o segundo mandato. Impopular por causa da Guerra do Golfo, George Bush entrou na Casa Branca em 1989 e deu-lhe adeus em 1993. Agora é a vez de Trump, atropelado pelo abismo econômico em que o país se encontra, pela decepção dos eleitores menos convictos e, acima de tudo, pela péssima e incompetente gestão da pandemia.
Presidente emérito do clube dos negacionistas, Trump desancou a quarentena, não usou máscara, mentiu ao público sobre o perigo do novo coronavírus e, depois de prometer uma vacina antes de todo mundo, não tomou nenhuma providência para sua aplicação. Conclusão: a imunização caminha lentamente (leia o artigo ao lado, sobre os desafios da vacinação em massa), enquanto a pandemia atinge novo e trágico pico nos Estados Unidos. Mesmo com todos esses problemas, Trump sai do governo com invejáveis 43% de aprovação (em pesquisa anterior à invasão do Congresso), acima da média de 30% registrada pelos colegas perdedores.
Apoiado nesse número, e no fato de que, se os republicanos saíram derrotados das últimas eleições, as margens de diferença foram mínimas, seu projeto era manter vivo o trumpismo, alimentar as divisões, fortalecer o caixa de campanha e, tudo dando certo, voltar à Presidência — em pessoa ou por meio de um representante — em 2024. Na noite da invasão, cercados de policiais, deputados e senadores voltaram ao plenário para retomar a sessão de confirmação de Biden, selada às 3h45 da madrugada. À frente da iniciativa estava Pence, o vice fiel que, no calor dos acontecimentos, condenou duramente a insurreição, afastando-se do chefe. Encostado na parede pela enxurrada de recriminações, Trump — ainda sem reconhecer a derrota —, pela primeira vez, assegurou que a transição será “ordeira”. Era palpável em Washington, contudo, a preocupação com o que ele ainda virá a fazer até a posse de Biden, no dia 20. O presidente incendiário pode ter posto lenha demais na fogueira e queimado o próprio futuro.
Publicado em VEJA de 13 de janeiro de 2021, edição nº 2720



 Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA
Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet
Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet Os sinais que levantaram suspeitas de separação de Amado Batista
Os sinais que levantaram suspeitas de separação de Amado Batista O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia
Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia