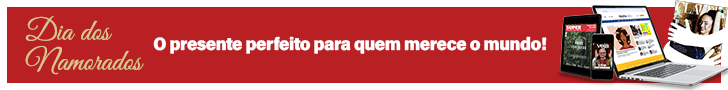O gigante não consegue controlar Hong Kong
O governo de Pequim, imprensado entre o clamor por mudanças, os maus-tratos a uma minoria e a pressão americana, busca uma saída digna
Foi um fim de semana difícil para o governo da China. Em Hong Kong, a ilha-problema onde os jovens tomaram as ruas e há meses exigem, em última instância, voz ativa sobre seu destino, a única eleição mais ou menos livre permitida à população resultou em fragorosa — e aparentemente inesperada — derrota de Pequim. Como se não bastasse, no mesmo domingo 24 um consórcio de jornais, entre eles o americano The New York Times e o britânico The Guardian, publicou um relatório devastador sobre os campos de detenção na província de Xinjiang, no noroeste do país, onde 1 milhão de chineses da minoria muçulmana uigur foram internados a pretexto de combater o extremismo religioso. O pacote de más notícias chegou em péssima hora para o presidente Xi Jinping, empenhado em burilar a imagem externa da China na trajetória para estabelecê-la como potência mundial.
A eleição em Hong Kong, em si, não tem importância alguma — estavam em jogo os 452 assentos nos Conselhos Distritais, órgãos burocráticos que cuidam dos serviços públicos e de atividades recreativas nos dezoito distritos da ilha. Mas o movimento rebelde que desafia a China desde abril aproveitou a chance, disparou candidatos a todos os postos e pediu à população que fosse às urnas em massa e votasse neles. No domingo, 71% dos habitantes de Hong Kong se apresentaram — um recorde — e entregaram aos candidatos da oposição, que fizeram campanha de roupa preta e máscara, dezessete dos dezoito distritos. O recado passado a Pequim foi: não são só os “baderneiros” que estão insatisfeitos. Hong Kong em peso quer garantias de que a ilha semiautônoma não será engolida pelo dragão continental.

Para o governo central, o resultado da eleição foi um balde de água fria. Ou porque avaliou mal, ou porque não foi bem informada, a alta cúpula chinesa acreditava que boa parcela da população estava farta dos protestos e de suas consequências. Em 2019, o PIB de Hong Kong teve queda de 2,9%. Mais de 200 restaurantes fecharam as portas e a taxa de ociosidade nos hotéis beira os 90%. As universidades, transformadas em campos de batalha, pararam — a Politécnica, palco de guerra por alguns dias, continua cercada pela polícia. Restou às autoridades a saída de sempre: atribuir o problema à “sabotagem” dos Estados Unidos — que acabam de aprovar medidas contra o desrespeito aos direitos humanos na ilha. “Hong Kong é parte integrante do território chinês. Tentativas de minar sua estabilidade não serão bem-sucedidas”, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.
Para o tabloide Global Times, pró-governo, é preciso “interpretar racionalmente” a votação de domingo. A dirigente instalada por Pequim em Hong Kong, Carrie Lam, aproveitou a deixa para reforçar que o resultado está sujeito a “análises e interpretações”. Mas admitiu: “Várias refletem insatisfação com a situação e com problemas profundos da sociedade. O governo vai ouvir a população com humildade”. A questão agora é decidir se a China seguirá reprimindo com violência uma rebelião que não acaba ou se aceitará fazer concessões. “A resposta de Pequim vai determinar se o caminho a ser seguido será o da pacificação ou o do confronto, que levará a uma piora significativa do cenário”, explica Kenneth Chan, professor de políticas públicas da Universidade Batista de Hong Kong.

Os rebeldes de Hong Kong veem na truculência em Xinjiang, que também é província autônoma, uma amostra do que pode acontecer à ilha. “Hoje Xinjiang, amanhã Hong Kong”, anuncia um de seus slogans. Segundo os China Cables, como foi chamado o calhamaço de 400 páginas vazado aos jornais, famílias inteiras estão sendo levadas à força para “campos vocacionais” dedicados a eliminar “o vírus do fanatismo”, como descreveu Xi Jinping em um discurso secreto. Os documentos descrevem a criação de uma rede de espionagem que, em uma única semana, apontou 24 112 suspeitos ao sul de Xinjiang. Manifestações ao redor do planeta têm chamado atenção para a perseguição da minoria muçulmana.
Desde que assumiu o comando da China, em 2013, Xi vem equilibrando reformas econômicas com repressão política, com base na percepção, mencionada por ele no encerrado encontro do Partido Comunista, em 31 de outubro, de que, “todas as vezes que grandes potências desabam, a causa está na ausência de autoridade central”. Advogados, defensores dos direitos humanos e até vendedores de livros são sequestrados por agentes do governo à luz do dia. “Essa postura aumenta o risco de que crises como a de Hong Kong sejam resolvidas com mão de ferro”, diz Richard Bush, diretor do Brookings Institution, de Washington. Dividido entre o gosto pelo autoritarismo e a postura de estadista confiável, Xi Jinping tenta achar saída para crises internas nas quais o mundo inteiro está de olho.
Publicado em VEJA de 4 de dezembro de 2019, edição nº 2663



 A ironia da participação do dono da Cacau Show no MasterChef nesta semana
A ironia da participação do dono da Cacau Show no MasterChef nesta semana Os estados que terão chuva nesta quinta, 5, segundo o Inmet
Os estados que terão chuva nesta quinta, 5, segundo o Inmet Restituição IR 2025: quais são os próximos grupos na ordem de prioridade?
Restituição IR 2025: quais são os próximos grupos na ordem de prioridade? Sertanejo e cristão: quem é o pastor que morreu durante pregação em culto
Sertanejo e cristão: quem é o pastor que morreu durante pregação em culto O novo tropeço de ‘Vale Tudo’: de quem foi o erro dessa vez
O novo tropeço de ‘Vale Tudo’: de quem foi o erro dessa vez