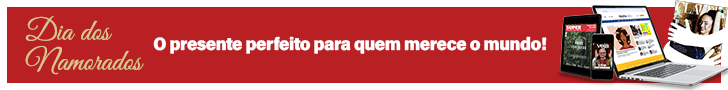Nações menos unidas: discurso de Lula na ONU reflete Guerra Fria 2.0
Na nova configuração de poder mundial, China e Estados Unidos tentam atrair parceiros relutantes

Exatas duas décadas depois de pronunciar pela primeira vez o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, honraria que cabe ao Brasil por tradição, o presidente Lula retornou ao palco com uma retórica cuja única novidade talvez tenha sido o tom nitidamente pragmático — deixando de lado (ou quase) os petardos contra os países ricos em geral e os Estados Unidos em particular, Lula optou pelo sóbrio meio de campo que é marca registrada da diplomacia do Itamaraty e costuma render bons frutos. A maior parte do pronunciamento esteve atrelada a questões que afligem a humanidade, sobretudo as mudanças climáticas e o combate à pobreza. “A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de uma ordem mais justa, solidária e fraterna”, disse o presidente, que citou a palavra desigualdade dezenove vezes e foi interrompido por aplausos em sete ocasiões.
Em paralelo, ele se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (que, por sinal, não o aplaudiu no plenário), entre outros nomes de uma intensa agenda de encontros bilaterais. Tanto ao microfone quanto em salas fechadas, Lula bateu em teclas conhecidas, mas com uma retumbante diferença em relação a 2003: o mundo ao qual dirigiu suas palavras passa por rearranjo de poderes e influências no qual coadjuvantes, como o Brasil, podem ganhar relevância.

A implosão da ordem internacional tal qual ela era conhecida, com os Estados Unidos isolados na liderança desde o desmantelamento da União Soviética, em 1991, é resultado da transformação do vínculo entre as duas maiores economias do planeta. China e Estados Unidos abandonaram suas relações complementares — chineses fornecedores de produtos baratos e americanos seus ávidos consumidores — para travar uma vertiginosa competição por hegemonia. E o comércio deixou de ser a força motriz da globalização para se tornar arma no arsenal de interesses geopolíticos. “A corrida entre Estados Unidos e China afeta a economia, a cultura e a defesa, sendo ainda mais feroz nas tecnologias que mudarão nossas vidas, como inteligência artificial e computação quântica”, afirma Calder Walton, historiador da Universidade Harvard.

A competição entre chineses e americanos é o mais decisivo movimento no xadrez deste século e se desenvolve em um clima de crescente tensão, uma espécie de Guerra Fria 2.0 — o choque entre duas superpotências que repercute por todo o globo. A animosidade ganhou tração a partir da eleição de Donald Trump, em 2016, se acelerou com a pandemia e piorou com a ampliação da crise climática e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Instalado cada rival em seu canto do ringue, a disputa por influência faz ferver o caldeirão da diplomacia, com uma distinção notável em comparação à Guerra Fria original, travada entre Estados Unidos e União Soviética: a ausência de ideologia.
Foi-se o tempo em que dirigentes rivais, como Richard Nixon e Leonid Brejnev, alinhavam atrás de si dois blocos nítidos, o da direita e o da esquerda. Agora os presidentes disfarçam, com o americano Joe Biden se colocando como defensor da democracia contra a autocracia e o chinês Xi Jinping brandindo os malefícios de uma agonizante civilização ocidental. Mas na hora do vamos ver, as linhas divisórias se diluem e cada parceiro é um trunfo, venha de onde vier. Resultado: espaço maior para o país cortejado fazer valer seus próprios interesses e até se arriscar a mesclar alianças aqui e ali. “Hoje, todos operam dentro do capitalismo, competindo por tecnologia, mercados e recursos naturais”, diz Mariano Aguirre, autor do livro Guerra Fria 2.0: Chaves para Entender a Nova Política Internacional. “Não há realmente confronto ideológico, e as linhas que dividem o mundo são muito mais borradas do que no passado.”

As evidências dessas mudanças estão por toda parte. Biden, no seu discurso na ONU, apoiou a renitente reivindicação de Lula de reforma do Conselho de Segurança (ele era, aliás, o único dos cinco mandatários-membros presente, o que comprova o esvaziamento do órgão). Mais tarde, se manifestou a favor do reforço do sindicalismo internacional — uma pauta com a qual está familiarizado, visto que os sindicatos americanos são um reduto democrata —, e certamente agradou ao colega brasileiro. No plano mais amplo, os Estados Unidos estão negociando um pacto militar com a Arábia Saudita — isso depois de Biden ter prometido fazer do país um “pária”, pelo comprovado envolvimento do príncipe mandachuva Mohammed bin Salman na morte do jornalista Jamal Khashoggi. Do lado de lá, o presidente Xi, adepto da rigorosa discrição no suporte a aliados controversos, desfilou lado a lado com o venezuelano Nicolás Maduro (outro proscrito em tentativa de reabilitação) na sua visita oficial a Pequim e se prepara para receber em outubro o russo Vladimir Putin.
A reestruturação do tabuleiro geopolítico sofreu um solavanco com a decisão de Putin de invadir a Ucrânia, ato que repôs, na marra, a Rússia no jogo de poder — não com o cacife de China e Estados Unidos, mas com cartas suficientes para embaralhar a mesa. Entra nessa conta a calorosa recepção que Putin ofereceu a Kim Jong-un, o rotundo supremo líder da Coreia do Norte, que não cabia em si de satisfação com a inusitada posição de visitante levado a sério — ele dispõe de um volumoso arsenal que a Rússia cobiça. Menos poderoso na comparação com os tempos soviéticos, o Kremlin agora utiliza vantagens como as vastas reservas de riquezas naturais para atrair aliados e aprofundar a divisão entre o Ocidente rico e o resto do planeta. Nesse propósito, aumentou o comércio com a China e nações não alinhadas, como a Índia, o que manteve a economia russa, hoje sob bloqueio de europeus e americanos, em pleno funcionamento.

Putin também faz o que pode para tirar partido da posição de muitos países, Brasil inclusive, de insistir em uma solução negociada para a guerra na Ucrânia, relutando em avalizar o apoio irrestrito de Washington a Kiev. Com a nova disposição de peças, a ONU perde cada vez mais espaço para fóruns mais reduzidos e encontros bilaterais de líderes. No início de setembro, a Cúpula do G20 em Nova Délhi expôs a ascensão da Índia, que sob o comando do ultranacionalista Narendra Modi almeja catapultar o país à potência mundial. Pouco antes, em agosto, o Brics — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — se reuniu em Johannesburgo para criticar o domínio do Ocidente sobre instituições multilaterais, entre as quais o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, assim como questionar o uso do dólar como moeda-padrão. O grupo anunciou a adesão de seis novos membros — Arábia Saudita, Emirados Árabes, Argentina, Egito, Irã e Etiópia —, uma mudança costurada por Xi Jinping para ampliar sua esfera de influência.
Semanas antes disso, o presidente Biden reunira os aliados Japão e Coreia do Sul em Camp David, nos arredores de Washington, para discutir a contenção da China, e trocou amabilidades em Hanói com Nguyen Phu Trong, líder do Partido Comunista vietnamita e autocrata de carteirinha. “A rivalidade entre os blocos deve se intensificar”, prevê Kai Enno Lehmann, professor de relações internacionais da USP. “E o mundo será muito diferente daqui a cinco anos.” Espremida entre as duas superpotências e sacudida pelos efeitos deletérios da invasão da Ucrânia, a União Europeia também tenta se readequar, tornando-se mais coesa e melhorando a capacidade de reagir a crises. Os europeus se uniram para conter a sanha expansionista de Putin, iniciando um ambicioso reforço dos sistemas próprios de defesa e segurança, e se engajaram na ressurreição da Otan, aliança militar que há pouco tempo era encarada como relíquia empoeirada da Guerra Fria. O pragmatismo das alianças internacionais contrasta com o ressurgimento do nacionalismo e com a polarização política que imperam dentro das fronteiras na Europa e em toda parte. Em quinze dos 27 membros da UE, partidos de extrema direita ganham cada vez mais popularidade empunhando bandeiras anti-imigrantes e a favor do negacionismo climático e do populismo fiscal. Partindo de nações periféricas, como Hungria e Polônia, os extremistas conquistaram espaço em países centrais, como a Itália, governada pela estridente primeira-ministra Giorgia Meloni. “Em tempos de incerteza, populistas aumentam seu apelo ao apresentar soluções simples para questões extremamente complexas”, diz Cathrine Thorleifsson, antropóloga da Universidade de Oslo.

Desafiador, o panorama atual traz para o circuito de negociações países como o Brasil, usualmente escanteados em decisões de maior envergadura. Costurando pactos militares, investimentos e empréstimos de mão beijada, China e Estados Unidos, seguidos mais de longe por Rússia e União Europeia, se engalfinham na corte aos cerca de 100 países flex — que fogem das lealdades incondicionais — da América Latina, da Ásia e até da sempre preterida África. Exemplo de oportunidade nas Américas é o nearshoring, programa dos Estados Unidos de substituição das importações da China por fornecedores na sua vizinhança e que este ano alçou o México à posição de maior exportador aos americanos. “Ao apostar no pragmatismo, potências de médio porte, como o Brasil, podem obter vantagens”, diz Michael Doyle, da American Academy Berlin e autor do livro recém-lançado Cold Peace: Avoiding the New Cold War. Trata-se de defender os interesses com movimentos certeiros e bem pensados — quem exibir essa habilidade tem tudo para ganhar pontos no intrincado tabuleiro mundial.
Com reportagem de Mario Vitor Rodrigues, de Nova York
Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2023, edição nº 2860


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo
Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo A ‘bronca’ de Daniela Beyruti, CEO do SBT, em César Filho
A ‘bronca’ de Daniela Beyruti, CEO do SBT, em César Filho Efeito Alexandre: governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros
Efeito Alexandre: governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros Agro brasileiro pode ser líder em produção, eficiência e preservação, dizem executivos
Agro brasileiro pode ser líder em produção, eficiência e preservação, dizem executivos A nova arma ‘impossível de interceptar’ utilizada na guerra na Ucrânia
A nova arma ‘impossível de interceptar’ utilizada na guerra na Ucrânia