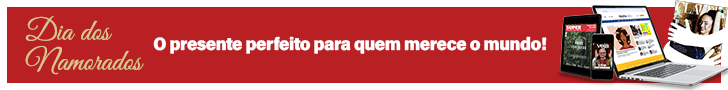Blaxit: por que crescem as ondas migratórias de negros dos EUA para África
Para fugir das ameaças constantes do racismo, eles encontram refúgio em países africanos — movimento que aos poucos cresce no Brasil

Tudo começou com uma ideia racista. Anos antes da abolição da escravatura nos Estados Unidos, em 1863, o número de libertos aumentou progressivamente, antecipando um movimento inevitável. Para evitar a miscigenação com a população branca e de modo a driblar a logística de enviar os alforriados a seus países de origem, na África, o governo criou a Sociedade Americana de Colonização e, por meio dela, comprou uma enorme área na costa oeste africana. Ali, entre Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim, seria formada, alguns anos depois, a Libéria — o país dos libertos.
Os liberianos enfrentaram muitos dissabores ao longo de sua formação. Em 1847, o país declarou a independência, como república cuja constituição foi decalcada da americana. Como herança, porém, havia uma imensa dívida com o governo dos Estados Unidos. A guerra civil não demoraria a eclodir, entre nativos e imigrantes. Apesar de tudo, apesar da dor, a história se transformou em exemplo de resgate do legado e da diáspora africana. Em interessante movimento, o fluxo volta a se repetir — agora, por obra e vontade dos descendentes afro-americanos que buscam retomar as raízes.
As ondas migratórias, de negros dos Estados Unidos a caminho da África, ganhou apelido: é o Blaxit, da união das palavras black (negro) e exit (saída), em evidente referência sonora ao Brexit britânico, de fuga da União europeia. Ao retornar para os países africanos de seus antepassados, os afro-americanos buscam uma vida livre do preconceito racial que, em seu país natal, permitiu tragédias inaceitáveis, como a de George Floyd, assassinado pela polícia, em 2020. Os destinos são variados, mas há lugares, como Gana e Serra Leoa, que têm estimulado a travessia, com programas que facilitam a obtenção da cidadania. De acordo com o Gabinete de Assuntos da Diáspora do Gana, pelo menos 1 500 afro-americanos mudaram-se para o país entre 2019 e 2023 (veja no infográfico). O principal benefício é financeiro — o dólar americano, ao ser trocado por moedas locais, autoriza vida digna, sobretudo para os chamados nômades digitais.
As mazelas herdadas do colonialismo, como o fosso social entre os que têm alguma coisa e os que nada têm, além das crescentes políticas anti-LGBTQIA+, preocupam, mas não representam empecilho. “Vivemos em um mundo no qual existem muito poucos lugares onde pessoas negras são bem-vindas”, disse a VEJA o historiador e filósofo camaronês Achille Mbembe. “Temos de garantir, nas constituições, que qualquer pessoa negra, seja africana, seja da diáspora, possa se realocar e se mover livremente dentro da África.”

Há, naturalmente, pontos de conexão entre o cenário dos Estados Unidos e o do Brasil, da perspectiva tanto histórica quanto do cotidiano, hoje. A Lei Áurea brasileira foi precedida por uma grande pressão internacional pela libertação dos cativos, cuja imagem rodava o mundo a partir dos desenhos de Jean-Baptiste Debret. Antes que a princesa Isabel fosse praticamente obrigada a assinar o decreto que aboliu a escravatura, muitos alforriados já queriam voltar para as terras de onde haviam sido sequestrados. Alguns desses relatos, aliás, inspiraram obras celebradas como Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que conta a saga de Kehinde, raptada ainda criança no Reino do Daomé, atual Benim, e levada para ser escravizada na Bahia. Agora, em cenário mais favorável, é claro, parte da comunidade afro-brasileira procura resgatar a vida de seus ancestrais.
É o caso da curitibana Layla Moura dos Santos, de 35 anos. Depois de se mudar para São Paulo, a turismóloga começou a se aproximar das pautas raciais e buscou entender sua origem. A partir de um teste de DNA, descobriu ascendência leste-africana e decidiu conhecer o continente. Passou quase dois anos na África do Sul, onde se surpreendeu ao ver taxas de desigualdade social similares à do Brasil, mas teve uma experiência com o racismo diferente da vivida no país de origem. “Lá, os negros estão em todos os lugares e em todas as posições sociais”, diz. “As microagressões que vivemos aqui todos os dias são menos frequentes.”

O apartheid, regime de segregação racial na África do Sul que durou de 1948 a 1994, foi um período cruel e injusto da história. Após o fim da discriminação, medidas protetivas foram adotadas na nova Constituição, promovendo ações verdadeiramente reparatórias — diferentemente do que aconteceu no Brasil, que deixou os ex-escravizados à deriva. Foi o que motivou a empreendedora paulista Bia Moremi, 35 anos, a também escolher o país como destino. Primeiro, como operadora de turismo à frente de uma empresa que promove viagens de experiência e intercâmbios para vários países africanos. Depois, como imigrante. Um episódio de racismo sofrido no Brasil pelos seus pais, em 2022, deu-lhe o impulso necessário para realizar uma antiga vontade de mudar de ares. “Na África do Sul, com a renda que tenho no Brasil, consigo viver uma vida confortável”, afirma. “Além disso, me aproximei de outras pessoas negras que vivem uma realidade parecida com a minha.”
Há uma carência enorme de dados confiáveis sobre os fluxos migratórios e turísticos de pessoas negras — antigos e atuais. Essa lacuna torna mais difícil medir o impacto econômico, as oportunidades e o potencial que essa população pode alcançar. As estatísticas brasileiras que existem em torno do continente africano abrangem também pessoas brancas que vão trabalhar na construção civil. Em 2023, quando o turismo voltou a tomar fôlego, após três anos de pandemia e restrições sociais, o número de brasileiros que visitaram a África do Sul passou dos 30 000, um aumento de mais de 70% em relação ao ano anterior, mas ainda aquém dos 80 000 que fizeram a viagem em 2019. O montante de brasileiros morando no continente também não é desprezível. A estimativa do Itamaraty aponta que, no ano passado, eles já somavam quase 40 000 pessoas, número que, embora não reflita necessariamente um fluxo migratório negro, é 51% maior que o estabelecido em 2018. A maior parte deles está em Angola, país que mais enviou negros para o Brasil durante o período de tráfico de escravizados e que, na década de 1980, recebeu milhares de imigrantes.

As pessoas negras que se mudam para a África não buscam necessariamente uma vida melhor. Sonham beber do passado, de algum modo voltando para casa. Foi o que fez a cantora Nina Simone (1933-2003) em 1974, que viveu quatro anos na Libéria. Foi o que fez, de maneira mais sutil, Gilberto Gil, de dreadlocks nos cabelos, ao imaginar e criar o clássico disco Refavela na Nigéria, em 1977: “A refavela, batuque puro / de samba duro de marfim / marfim da costa de uma Nigéria / miséria, roupa de cetim”.
Some-se aos sentimentos genealógicos a possibilidade de trabalhar remotamente e dá-se a decisão do exílio. “Os brasileiros sempre foram bem-vindos e continuarão sendo bem recebidos por aqui”, disse a VEJA o embaixador do Brasil em Luanda, Rafael de Mello Vidal. A onipresença negra, nas palavras dos próprios imigrantes, torna a discriminação com base em raça um conceito abstrato. É sinônimo de alguma tranquilidade para quem decide partir. Os obstáculos não desaparecem, a vida não é fácil. Mas há, nesse processo demográfico, forte nos Estados Unidos e ainda tímido entre os brasileiros, ressalve-se, uma mensagem bonita e promissora: o direito de ir e vir, sem que ninguém tenha de fugir ou ser expulso de seu território em decorrência da cor da pele.
Publicado em VEJA de 15 de março de 2024, edição nº 2884


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão
Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação: entenda a decisão Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição
Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Lenda da ginástica é presa nos EUA
Lenda da ginástica é presa nos EUA Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas
Frente fria avança nesta quarta-feira, 28: saiba quais regiões serão mais afetadas Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados
Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados