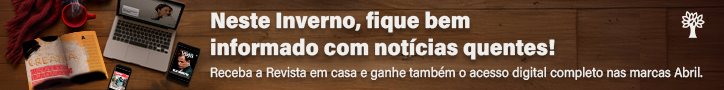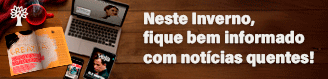Agonia da guerra aumenta temperatura dos protestos contra Netanyahu
Massacre de palestinos em busca de comida e indefinição sobre reféns ampliam o clima de tensão na região

Quando a guerra de Israel na Faixa de Gaza tomou o caminho do sul, perseguindo a liderança do Hamas, o que ficou para trás foi uma terra arrasada, sem lei e sem ordem, espalhada em torno de Gaza City, a maior cidade do território, em boa parte destruída por bombas. Lá, cerca de 300 000 pessoas vivem à míngua, sem nenhum tipo de serviço público — a ponto de as forças israelenses, as mesmas que despejaram mísseis sobre a região, terem agora que escoltar os raros comboios que levam comida à população. Na quinta-feira 29, uma fila de trinta caminhões carregados de alimentos se viu cercada pela multidão faminta, dando início a um violento tumulto que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, órgão remanescente da administração do Hamas, deixou um saldo de 117 mortos e 760 feridos. Israel atribuiu a tragédia à correria e a atropelamentos, mas em dado momento as tropas abriram fogo — vídeos transmitidos pela TV Al Jazeera, do Catar, trazem sons dos tiros e imagens de baleados.
As cenas de desespero expuseram duas realidades tão dramáticas quanto incontornáveis criadas pela caçada israelense aos terroristas: as levas de civis, entre eles mulheres e crianças, sem abrigo, sem energia, sem água e sem alimentos, inclusive nas áreas onde os combates já acabaram, e a ausência de um plano concreto do governo de Israel para o pós-guerra no território. O “massacre da farinha”, como está sendo chamado, desatou rajadas de críticas contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu gabinete de guerra. “Peço a verdade, justiça e respeito ao direito internacional”, disse o presidente da França, Emmanuel Macron, ao cobrar investigação independente. O americano Joe Biden lamentou o efeito da tragédia sobre as negociações em andamento para uma trégua de quarenta dias, em troca da libertação de parte dos cerca de 100 reféns ainda em poder dos terroristas após os bárbaros atentados cometidos em Israel em outubro — o estopim para a guerra atual. Lula seguiu falando de genocídio.

Netanyahu vetou o envio de sua delegação de negociadores ao Cairo, no Egito, onde deveriam se reunir com diplomatas e representantes do Hamas, alegando que o grupo palestino até agora não produziu a lista de nomes de reféns em seu poder (entre eles o brasileiro Michel Nisembaum), vivos e mortos, e daqueles que planeja devolver em troca da libertação de presos em Israel. Segundo Biden, o cessar-fogo está “nas mãos do Hamas”, que, por sua vez, se diz aberto a negociações, enquanto se estreita o prazo inicial de um acordo antes do feriado religioso do Ramadã, que começa em 10 de março.
A indefinição sobre o “dia seguinte” afeta a atuação do gabinete de guerra montado por Netanyahu. À revelia do primeiro-ministro, Benny Gantz, a voz da oposição no gabinete, viajou a Washington para um encontro com a vice-presidente Kamala Harris no qual ela insistiu em um plano humanitário “viável” para a Faixa de Gaza — dias antes, na mais contundente crítica da cúpula da Casa Branca a Israel, Harris havia qualificado de “desumanas” as condições no território. A pressão sobre o gabinete de Netanyahu também se faz sentir nas ruas: uma marcha de quatro dias de parentes dos sequestrados encerrou-se em frente ao Parlamento, em Jerusalém, pedindo maior empenho do governo em sua libertação, enquanto em Tel Aviv milhares se manifestavam por eleições antecipadas. Netanyahu insiste na premissa de que só é possível acabar com o Hamas e liberar os reféns por via militar. “A insatisfação da sociedade é crescente e cada dia mais evidente”, diz Reuven Hazan, professor de ciência política da Universidade Hebraica de Jerusalém.

Nos Estados Unidos, as primárias que praticamente definiram Donald Trump e Biden como postulantes à Casa Branca na eleição de novembro sentem o impacto do conflito no Oriente Médio. Em Michigan, estado com forte presença de imigrantes árabes, cerca de 100 000 eleitores democratas deixaram de votar em Biden (escolheram a opção “sem candidato”) para expressar seu descontentamento com o apoio a Israel, protesto que cooptou 19% dos votantes em Minnesota na “Superterça”. “É uma mensagem clara e contundente”, afirma Layla Elabed, uma das líderes do movimento. De acordo com o Center for Economic and Policy Research, de Washington, 52% dos americanos querem que os EUA interrompam a ajuda militar a Israel até que a guerra seja encerrada. Imprensado contra a parede, no fogo cruzado entre a pressão internacional, os inconformados parentes dos reféns e a insanidade dos ultradireitistas que sustentam sua coalizão de governo, Netanyahu empurra enquanto pode a elaboração de propostas concretas para o pós-guerra. Resta ver quanto tempo conseguirá resistir na sua estratégia belicista.
Publicado em VEJA de 8 de março de 2024, edição nº 2883



 Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA
Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA Os sinais que levantaram suspeitas de separação de Amado Batista
Os sinais que levantaram suspeitas de separação de Amado Batista Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet
Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia
Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia