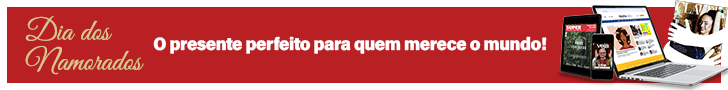Tifanny, primeira trans na Superliga feminina: ‘O amor vencerá’
Primeira transexual a atuar na elite do vôlei brasileiro, Tifanny Abreu vislumbra menos preconceito no esporte

O primeiro set se aproximava do fim quando o locutor do ginásio anunciou que Tifanny, de 33 anos, entraria em quadra. Reforço revelado dias antes com repercussão internacional, a ponteira/oposta fazia sua estreia pelo Vôlei Bauru contra o São Caetano, na tarde de domingo, 10 de dezembro. Foi ovacionada pela torcida e pontuou nas duas primeiras jogadas em que foi acionada. Naquele momento, ela se tornava a primeira transexual a atuar na elite do vôlei brasileiro — antes, a curitibana Isabelle Neris já atuara em torneios regionais. Tifanny fez sua primeira partida entre as mulheres na segunda divisão italiana, em fevereiro, após ser liberada pela Federação Internacional de Vôlei.
Foi o auge de um processo de transição de gênero iniciado em 2012, com tratamento hormonal, passando pela cirurgia de adequação sexual, em 2014, até chegar aos níveis de testosterona exigidos pela entidade. Deixou no passado o jogador apelidado de Pará (o nome de batismo — Rodrigo Pereira de Abreu — ela faz questão de omitir), que chegou a atuar na Superliga masculina e em clubes europeus. Durante o período de transição, chegou a jogar entre os homens, na Holanda e na Bélgica, mesmo já tendo assumido sua identidade feminina. Depois da breve experiência na Itália — oito partidas pelo Palmi, clube da pequena cidade homônima no sul da Itália, na Reggio Calabria, à beira-mar, a menos de 50 km da Sicília, e com menos de 20.000 habitantes —, retirou-se temporariamente para uma segunda cirurgia, corretiva, para sentir-se definitivamente mulher. Àquela altura, já estava apalavrada com o clube do Interior paulista, onde se recuperou, até ser anunciada e causar comoção nas habituais batalhas polarizadas nas redes sociais. Nesta entrevista, Tifanny mostrou-se consciente das dificuldades e desafios de sua caminhada, mas evidenciou sobretudo uma postura otimista em relação a sua aceitação, além de saber o quanto suas vitórias embalam as esperanças de muita gente.
Quando entrou pela primeira vez em quadra no Brasil, como jogadora, a torcida vibrou. Como se sentiu? Entramos em quadra com a ilusão de fazer a diferença. E com tantas pessoas enviando energia positiva, a emoção é maior. Não foi o suficiente para vencer a partida (o Vôlei Bauru perdeu para o São Caetano por 3 a 2), mas me senti muito feliz.
Houve conversas com as adversárias, como foi a receptividade? Normal. Nós nos conhecemos. É um jogo, a pegada é forte, mas há amizade, respeito. Claro que pode acontecer alguma gracinha, mas o juiz que se vire!
Quando atuou na Europa, ouviu muitas provocações, a barreira da língua ajudou nesse sentido? Quando joguei na Holanda e na Bélgica e ainda não falava holandês, podiam falar o que quisessem, eu não entendia, não adiantava nada…

Muitos esperavam ataques potentes, como foi sua adaptação ao vôlei feminino? No vôlei feminino não é força o tempo todo. Aprendi isso durante a minha transição, dosando bastante. Nosso técnico (Fernando Bonatto) pede para não cometer o erro. Se não dá para fazer o ponto, então fazemos a jogada mais técnica, “largamos” a bola. Tento seguir à risca. Mas minha adaptação está boa, as meninas me ajudam muito. Jogar na posição de oposta no feminino é bem diferente do oposto no masculino, que só ataca. No feminino, é preciso defender também e ter um jogo mais cadenciado.
Tem ideia da sua representatividade? Como trabalha essa questão? Por enquanto sou apenas uma jogadora, mas também sou uma representante. Só não posso misturar. Porém, quando não estou dentro da quadra, levo uma bandeira. De orgulho, de que nós também podemos, somos normais. De que não é por ser homossexual ou transexual que não pode fazer parte da sociedade. Mesmo quando estou na quadra, todo mundo sabe que ali existe uma pessoa especial. Não por ser diferente, mas por ser aceita como é. E agradeço muito toda a comunidade LGBT. Recebi muito carinho das meninas trans, dos gays, das lésbicas e também dos simpatizantes. Muitos héteros estão me apoiando. É sinal que o país está evoluindo, mostrando mais amor. Se eu pudesse, abraçaria cada um. Depois do jogo ou na rua, se alguém vem falar comigo, sempre atendo.
Nas redes sociais, quando foi anunciada pelo Vôlei Bauru, muitos questionaram uma suposta vantagem física. Você leu? Não. Sabe por quê? Vou perder tempo com quem tem tempo? Quando a pessoa fala mal de outra, tem de chegar em casa e se olhar no espelho: “E aí? Minhas contas estão pagas? Tive um bom dia? Trabalhei? Estou feliz?” Não me importo. Mas vou amar muito mais os que falam bem e me protegem. Os que falam mal não entendem, são tão ruins de coração que, quando a pessoa é gay, novinho e afeminado, chamam de mulherzinha. Aí cresce, realmente era uma mulher por dentro, vira trans e chamam do quê? De homem! Vão sempre atacar ao contrário. Então, se não gosta, não venha no ginásio, não ligue a televisão. Porque eu não estou fazendo nada, não matei ninguém. E não sou homem. Se eu tivesse a força de um homem, não estaria jogando no feminino, não teria a liberação. Talvez falem por preconceito ou por ciúme, por não terem chegado onde cheguei.
O seu primeiro time feminino, o italiano Palmi, fez uma homenagem recente. Foi um momento fundamental da sua nova fase? Palmi… O que falar dessa cidade? Quando cheguei disseram para ir com cuidado, porque o sul da Itália tem a cabeça fechada. Gente, se o sul da Itália tem a cabeça fechada, imagine o norte! Nunca recebi tanto amor na minha vida. As pessoas me paravam na rua, as crianças me chamavam. Depois, muitos falaram para ter cuidado ao chegar ao Brasil. E aqui recebi o mesmo carinho. Temos de esquecer o medo, porque o amor está mais forte. Quando há críticas, há mais comentários de gente criticando quem criticou… Então, eu não vou me preocupar com essas pessoas. Tenho de me preocupar se meu técnico acha que estou bem, com as meninas do meu time, com quem está me dando apoio, com o meu trabalho. Não estou aqui porque sou trans. Primeiramente sou trans, o trabalho vem depois. Tenho nível para jogar uma Superliga. Se não tivesse, não jogaria.
Depois do início da transição, ainda jogou entre os homens. Como foi jogar essa fase? Quando comecei minha transição, tinha decidido não jogar mais vôlei. Decidi parar para me tornar a mulher que sou hoje. Eu me sinto melhor agora, antes não conseguia me olhar no espelho, não me achava bonita, não conseguia ter um relacionamento. Era difícil. Mas aí, quando comecei o tratamento hormonal, na Holanda, um amigo me convidou para jogar vôlei. Fui para brincar. Mas ia jogar de “menininho”. Um colega do time chamou para uma festa e eu disse que não ia porque, quando saía, era de menina. “Então você vai de menina”, ele disse. Fui acolhida pelo meu clube, da terceira divisão holandesa. Ganhamos essa liga, eu ainda era muito forte. O hormônio feminino já fazia efeito, mas como estava no ritmo e ainda não tomava o bloqueador de testosternoa, continuava com força. No segundo ano da transição eu já era Tifanny e meus ataques passaram a tocar a fita. Tive de me readaptar, nunca mais tive aquela força.

E como foi jogar no masculino de cabelão e maquiada? Meu clube me aceitou, eu poderia ser quem eu era. Ia para o treino maquiada. No nosso ginásio, todos me conheciam, mas em jogos fora viam uma mulher na quadra e se impressionavam com meu jogo. Mas na Bélgica tive problemas. Cancelaram minha inscrição até a Federação Internacional atestar que era atleta masculino até terminar totalmente minha mudança.
A adaptação à cirurgia demora? Na primeira, em 2014, na Holanda, foram apenas dois meses de recuperação. Mas o médico não era experiente e não fez o que deveria ser feito. Fui enganada. Fiz a segunda depois de estrear na Itália, no feminino. Hoje eu me sinto melhor.
A segunda cirurgia foi no Brasil? Não, na Argentina. Em abril deste ano. Foi um sucesso e agora estou feliz. Sou completa.
E como decidiu mudar para o vôlei feminino? Tinha o sonho, mas como leiga achava que não poderia, pois no começo da transição, em 2012, ainda era muito forte. Meu empresário era técnico do feminino do meu time na Holanda. Disse que eu iria jogar no feminino. Não acreditei, mas ele me explicou todo o processo. Hoje, a lei já nem obriga a fazer a cirurgia. Mas eu fiz por mim, não pelo vôlei.
Como o vôlei entrou na sua vida? Minha família sempre gostou. Assistíamos jogos olímpicos, depois jogávamos de brincadeira. Com 17 anos, morando em Goiânia, um clube me descobriu em um campeonato escolar. Não tinha muita estrutura, mas foi quando aprendi vôlei de verdade.
Como enfrentava seus conflitos internos? Como toda criança trans, muito feminina, sofri muito preconceito. Faziam piadinhas e me chamavam de menininha, viadinho. Ao mesmo tempo que me incomodava, deixava de lado. Com o tempo percebi que estava me afetando. Amigos fizeram brincadeiras que me machucaram e precisava fazer alguma coisa para tirar esse lado feminino. Decidi que iria me tornar alguém importante e que seria no esporte.
Para se afirmar como figura masculina? Sim, para passar pela sociedade. Mas depois que cheguei ao profissional, nunca escondi o meu eu. Se alguém perguntasse, eu falava. Tanto que quando fiz um teste num clube paulista, um diretor disse que não queria homossexual no time. Fui reprovada e fiquei assustada. Um colega disse que fiquei fora por ser muito feminina. O técnico ficou de coração partido, porque não se importava, pensava no jogador.
“Parecer” mulher fazia diferença, então? Isso. Mas eu não desisti.
Como amadureceu a decisão de se declarar como mulher? Desde criança eu já sabia que iria ser menina. E quem me conhecia sabia que me vestia de menina quando estava sozinha… Aos 19 anos, quando eu saía e me questionava porque não tinha vontade de ficar com ninguém, um amigo dizia: “Porque você tem sangue de mulher, cabeça de trans, vê os homossexuais como amigos”. Eu me perguntei o que iria fazer da minha vida. Ele disse que eu só teria uma vida com homens heterossexuais quando me tornasse mulher.
Houve uma fase de insistência, de ficar com meninas? Já fiquei, mas por loucura da adolescência. Até tive uma namorada, mas logo percebi que não daria certo e larguei. Sempre fui menininha mesmo e agora sou mais ainda!
Você estava namorando na Europa. Continua com ele? Não… Nem gosto de falar dele! Terminamos por que ele não aguentaou ficar longe, estava na Bélgica e eu na Itália. Disse que estava sofrendo, mas quem acabou sofrendo fui eu. Mas já estou bem, na pista (risos). Sou muito emocional, se tenho um problema meu vôlei cai. Não quero perder meu foco no esporte. O ano de 2017 foi de altos e baixos e no final se acertou.

Como foi seu período de readaptação ao Brasil? Fiquei muito tempo parada em casa por causa da segunda cirurgia de transição e também de uma operação na mão esquerda. Fiquei magrinha, uma princesinha, mas malhei! Esse tempo foi importante para entrar em forma.
Como é a sua relação com a família? Sempre foi boa. Minha mãe é uma mulher extraordinária, batalhadora, cinco vezes mais guerreira que eu. Não teve luxo e nunca deixou um filho passar fome. Criou sete filhos sozinha, não teve apoio de nenhum dos pais.
Não conheceu o seu pai? Não. Isso me emociona… Minha mãe até tentou, mas não teve sucesso e batalhou sozinha. Amo demais essa mulher. Sempre me amou, apoiou, protegeu.
E como foi o diálogo sobre sua identidade? Deixei as coisas acontecerem aos poucos. Nunca cheguei a brigar com ninguém da minha família. Se alguém não aceitava, deixava o tempo passar. Eu dizia: “Se você não me aceita, vou continuar te amando e respeitando. Não vou exigir que faça isso por mim”. Isso fez minha família me amar mais.
Tem bom relacionamento com todos os irmãos? Sempre. Continuo amada por todos. Pensava que um irmão evangélico iria ficar triste, mas quando contei que começaria a transição, ele disse que eu sempre fui menininha, que não era novidade. “Vou te amar como irmão como sempre amei.” Não tenho contato todos os dias, estamos distantes, mas o amor está presente. Em toda a família, com sobrinhos e irmãos.
A cirurgia causou muita curiosidade entre os familiares? Só uma irmã que mora na Europa viu o resultado da primeira cirurgia. O restante da família, após a segunda. Houve a curiosidade, “deixa eu ver como é…” Eu mostrei, claro. Mas não para os irmãos e cunhados! As mulheres viram. Minha mãe disse “Gente! É igualzinha!”
Qual foi o problema da primeira cirurgia? O médico não retirou direito os testículos e eu continuava produzindo testosterona. Esteticamente, ele praticamente me deixou “hermafrodita”. Ainda bem que não me afetou muito e na segunda cirurgia ficou tudo bem.
Melhorou o prazer? Nossa! Eu sou realmente feliz. Se mexer em alguma coisa no futuro, será coisa de mulher. Mas não tenho do que reclamar.
Já teve de se defender, sair no braço? Já. Uma vez, na escola. Venho de uma família de uma genética muito boa. Tinha até medo de brigar porque tinha força e medo da minha mãe.
Já sofreu algum tipo de assédio, violência ou constrangimento? Assédio. Foi meio estranho, não compensa lembrar, deixei para lá. Mas o pior foi recentemente, quando recebi mensagens nas redes sociais de homens do Brasil mandando fotos de pênis. Achei constrangedor. Muita gente confunde transexual com prostituição ou safadeza. Sou uma mulher normal, tenho de conhecer a pessoa, me interessar e ter um relacionamento. Não estou buscando só sexo.
Chegou a processar alguém? Ainda não e espero não precisar.
O que você projeta, aos 33 anos, para sua carreira? Pretendo jogar no máximo até os 37. Ou até quando meu corpo deixar. Mas agora tenho de dar o melhor para minha equipe, mostrar para a sociedade que podemos e abrir as portas para outras meninas. Não sei como será no futuro, se haverá regras, como cotas por time. Não haverá um time só de trans, por exemplo, longe disso. Há várias jogadoras trans, mas poucas ainda com nível de Superliga.
O vôlei se tornou um esporte identificado com o universo LGBT? Depende. Homossexuais do voleibol do Brasil e da Tailândia são de alto nível. Já os da Europa, nem tanto. Aqui no Brasil, o vôlei feminino tem muitos homossexuais na torcida. Eles acham bonito o jogo com muitas defesas. O homossexual encontra muitos amigos no vôlei. No futebol, é discriminado. Mas há homossexuais em muitos esportes. O importante é curtir, estar na torcida. E ainda bem que o vôlei acolhe.
Acompanhou a repercussão do caso de homofobia contra o jogador Michael, em 2011? Sim. Eu estava na Espanha na época. Isso acontece muito, eu ouvia em todos os jogos quando atuava no masculino. Dentro da quadra também acontecia muita provocação. Muito mais do que escuto agora, no feminino. O normal agora é alguém querer me bloquear no jogo. Todo mundo quer bloquear a Tandara, a Hooker, a Fernanda Garay, as atacantes fortes. Mas não levo a mal, sou tranquila. Só fico doida se o juiz roubar.

O técnico José Roberto Guimarães afirmou que pode convocá-la. Pensa na seleção? É o sonho de toda jogadora. Não sou diferente, tenho esse sonho também. Depende de mim. Se eu jogar como na minha estreia, não vou servir nem para limpar o chão! Não vai ser de uma hora para a outra que o Zé vai me chamar.
Tem ideia do barulho que sua convocação faria? Se eu estiver jogando bem, seria bem-vinda numa olimpíada, que já abriu as portas para transexuais. Mas primeiro tenho de jogar bem e não ir por ser a primeira trans. Quero ir pelo meu trabalho. Quem estiver melhor que eu tem de ir.
Quais são seus ídolos, suas referências no vôlei? Todos admiramos os técnicos Zé Roberto e Bernardinho. Eu me interessei muito pelo vôlei feminino na época da rivalidade entre Brasil e Cuba. Tínhamos Fernanda Venturini, Márcia Fu e eu era apaixonada pela Virna. Depois veio a geração que hoje joga comigo: Paula Pequeno, Thaisa, Tandara, sempre gostei muito do voleibol da Natália, parecido com o meu. Essas meninas nos levantam. Tenho um carinho imenso por todas elas. No masculino, me identifiquei muito com o Nalbert, pelo estilo de jogo. Achava que tinha de jogar igual. Era excelente no passe, na defesa, no ataque, o jeito de levantar o short… Eu me inspirei muito nele e isso me fez evoluir.
Que versão sua é melhor, a do vôlei masculino ou do feminino? A Tifanny no masculino era muito forte, mas não tão alta — todo mundo com 2,10 metros e eu com 1,92 metro. No feminino, sou forte também e alta, o que pode ser melhor para minha carreira.
Afinal: tem 1,90m, 1,92m ou 1,94m? Já falaram até que casei com véu e grinalda. (risos)
E é Tifanny com um efe e dois enes? Isso, bem normalzinho.
Por que escolheu esse nome? Quando se entra no mundo LGBT, sempre há uma pessoa que cuida mais de você, sua madrinha — e nos dá um nome. Quando cheguei para jogar em Americana, havia um levantador que me protegia. Inventaram vários daqueles nomes esquisitos, mas ele disse que eu precisava de um nome de mulher fina. Um dia, chegamos em casa e um colega estava assistindo patinação artística. E anunciaram uma dupla americana: Fulano e Tiffany Scott. “Teu nome”, ele disse. Pegou. Desde 2003 meus amigos me conhecem como Tifanny.
Por que você pede para não mencionar seu nome anterior? É um nome bonito para homem. Nunca me senti nesse nome.
Lida bem com seu passado? Não tenho problema nenhum, mas não gosto de ver fotos antigas, nem ver meu nome.
Como surgiu o apelido Pará? Morei no Pará quando criança. Nasci em Goiás, em Paraíso do Norte, hoje Paraíso do Tocantins. Quando tinha cinco meses, minha mãe mudou para Conceição do Araguaia (PA). Voltei a Goiânia com 13 anos. Mas sempre tive o sotaque paraense, gosto dele, e também de imitar meus amigos nordestinos, um sotaque bonito. Todo mundo me chamava de Paraíba. Fui jogar vôlei em São Paulo ainda com esse apelido e acabou ficando Pará. O sul do Pará é muito lindo em julho, período chamado de veraneio, quando o rio baixa e a praia sobe. Eu ficava doida para ir, mas minha irmã dizia que só se fosse de sunga. E eu era tão magrinha… Pensava: “Um dia quero ter pernão e bundão”. Hoje eu tenho.
Somente com hormônios ou colocou silicone? Nos seios. O resto é tudo natural.
Você se surpreendeu com as transformações do seu corpo — não ter mais barba, afinar a voz — ou já estava preparada? Já sabia, mas quero sempre mais. Não deixo de tomar meus remédios nenhum dia. Tomo progesterona e um bloqueador da testosterona – mesmo que não produza, para não correr risco. Até alguém nascida mulher pode produzir em excesso.
Como lidou com a mudança de corpo e perda de força do seu jogo? Se eu não jogasse vôlei, não gostaria de ter esse corpo. Queria estar magrinha. Gostaria de ser pequenina, mas Deus me mandou grande e forte. Para jogar vôlei, malhamos muito, todas as meninas são grandes. Tenho de ser também. Para o meu trabalho, necessito desse corpo forte, sarado.
Depois que parar de jogar, pensa em atuar em que área? Ser deputada… (risos) Brincadeira… Penso em colaborar com o público LGBT, atuar no vôlei como técnica ou assistente. Estou aberta a tudo, até a trabalhar na televisão.
Acompanha a crise política brasileira? Vivemos um momento complicado, mas tudo vai se ajeitar. As pessoas estão vigilantes com quem está roubando e isso fortalece. Quando a corrupção acabar, vamos crescer, temos tudo para virar primeiro mundo.
Você foi acolhida de volta ao país num momento de crescimento do pensamento conservador. Mas anda junto mesmo. Quando um país está se desenvolvendo, o leque se abre. É bom que eu tenha chegado agora, porque daqui a dez anos o país vai estar melhor e todos vão se respeitar.
Já voltou ao Pará? Não. Minha mãe ainda mora lá, mas foi me encontrar em Goiânia.
Houve alguma conversa definitiva com a sua mãe? Quando eu ainda era menino, ela perguntou várias vezes: “Tu é gay?” Nunca respondia. Porque sabia que não era gay. Nunca iria responder o que não era. Falei quando comecei meu processo de transição. Ela ficou um pouco triste, chorou nos primeiros dias. Mas o maior medo das mães é o preconceito na rua, correr risco até de morrer. Muita gente apanha por nada. Mas eu estava na Europa, disse que iria fazer lá, que era mais tranquilo e ela se acalmou. Hoje está tudo bem.
Então não houve essa conversa olho no olho? Já voltei completa. Igual à Ramona [personangem de Claudia Raia na novela As Filhas da Mãe, exibida pela Globo há quinze anos], fui menino e voltei menina. Enquanto não estivesse certinha, não colocaria os pés no Brasil.
Como sua mãe reagiu ao ver você? Chegou devagarinho, já chorando, pegou no meu rosto e disse: “Não era esse rosto.” E me abraçou. Às vezes, ela esquece e me chama de “meu filho”. Dia desses dei bronca, porque ela se referiu a uma trans como “ele”. Se visse na rua, sem saber, iria chamar de “ela”. É preciso respeitar. Não sou de briga, mas protejo as outras meninas.



 Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo
Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo Efeito Alexandre: governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros
Efeito Alexandre: governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros Adivinhe quem vai pagar a conta da roubalheira bilionária no INSS
Adivinhe quem vai pagar a conta da roubalheira bilionária no INSS Agro brasileiro pode ser líder em produção, eficiência e preservação, dizem executivos
Agro brasileiro pode ser líder em produção, eficiência e preservação, dizem executivos Os deslizes de Thiago Oliveira na cozinha do ‘É de Casa’
Os deslizes de Thiago Oliveira na cozinha do ‘É de Casa’