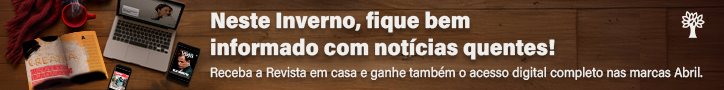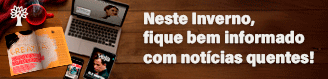O Dream Team americano de 2024 será mesmo dos sonhos?
A seleção de basquete de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e cia. pode ter a vida mais complicada do que a de 1992

E lá vai um francês, passos rápidos, ao descer na estação de trem Lille-Flandres, a caminho do estádio Pierre Mauroy, adaptado para a primeira fase do torneio de basquetebol masculino e feminino da Olimpíada de Paris. Veste tênis invocado, calção e camisa vermelhos. Tem o mítico número 23 de Michael Jordan às costas. Um menino de 10 anos bate bola ao longo da alameda que chega ao portal principal – eles também estão paramentados como o maior de todos.
Corte-se para 1992, em Barcelona, como em um flashback de cinema. E, com o perdão do tom em primeira pessoa, posso contar porque estava lá. Havia Carl Lewis, Linford Christie, Javier Sottomayor, Gwen Torrence, Serguei Bubka e Félix Savón. Um certo Pep Guardiola era elogiado meio-campista da Espanha. Mas só se falava neles, no Dream Team – amados, mas criticados por terem preferido ficar em um hotel de luxo e não na Vila dos Atletas. Talvez fosse impossível se instalarem lá, dado o assédio. Nos eventos obrigatórios, em entrevistas antes e depois das partidas, era como se o mundo parasse, congelado, de modo a dar passagem para a trupe de Jordan. Era totens inalcançáveis, ao inaugurar a era do marketing esportivo agressivo e imparável. Em um único momento, em evento oficial de um dos patrocinadores, encolheram um tantinho – foi na noite em que dividiram um mesmo salão com Muhammad Ali, e então as peças do tabuleiro tiveram de se movimentar. Ali ficou pouco tempo e ao sair devolveu o protagonismo que subtraíra de seus conterrâneos.
Aqueles doze homens mudaram tudo, com ecos para gerações que vieram depois deles – o homem da camisa 23 em Lille e o menino com o pai bebem daquele Big Bang. Esse texto vai dar uma freada, em mudança brusca de ritmo, mas é inescapável citar o nome e o time de todos os craques, cuja formação poderia ser declamada como poesia de Walt Whitman. Vamos lá: Michael Jordan (Chicago Bulls), Magic Johnson (Los Angeles Lakers), Larry Bird (Boston Celtics), Charles Barkley (Phoenix Suns), Karl Malone (Utah Jazz), Scott Pippen (Chicago Bulls), Patrick Ewing (New York Knicks), Clyde Drexler (Portland Trail Blazers), Christian Laettner (Duke University Blue Devils), Chris Mullin (Golden State Warriors), David Robinson (San Antonio Spurs) e John Stockton (Utah Jazz).
Venceram sete jogos. A menor diferença foi de 32 pontos, na partida final contra a Cróacia, em vitória por 117 a 85. O Brasil de Oscar Schmidt perdeu de 127 a 83. Praticavam um outro esporte. E bendita a hora em que Jordan, procurado por dirigentes americanos, que antes tinham consultado um a um de seus companheiros, topou embarcar para Barcelona e proferiu uma frase de antologia do esporte: “Se eles estão dentro, também estou”.
Com o tempo, contudo, e com a chegada de estrangeiros na NBA, muitos países cresceram. O sonho, embebido de arrogância, foi morrendo. Em 2004, na olimpíada de Atenas, o ouro ficou com a Argentina, a França levou a prata e os americanos, o bronze. E então, como já não dava para brincar, como se fossem os Harlem Globetrotters, em 2008 foram liderados por Kobe Bryant e um certo LeBron James. Restabeleceram o domínio dos Estados Unidos e foram em frente, com petulância incontrolável. Não por acaso, e já faz tempo, a equipe vencedora da NBA é chamada de “campeã mundial”. Mas como assim, e o resto do mundo? O velocista americano Noah Lyles, favorito dos 100 metros em Paris, provocador, deu a real no ano passado: “O que mais me dói é que eu tenho que assistir às finais da NBA e eles têm ‘campeão mundial’ na cabeça. Campeão mundial de quê? Dos Estados Unidos? ” Foi uma explosão, caiu como bomba atômica. Os Estados Unidos, aliás, na Copa do Mundo de basquete de 2023, perderam a semifinal para a Alemanha. Hora, portanto, de retomar a ideia de um timaço – por orgulho, por imposição de mercado, por todos os motivos.
Bem-vindo a 2024, a um esquadrão americano que pode ser comparado com aquele Dream Team original. Não são estrelas prontas para sugar toda a luz, mas quase. “Vou conseguir ver o Curry de perto”, diz um jovem de Xangai a bordo do trem que chegou a Lille. Stephen Curry, do Golden State Warriors, é o maior cestinha de 3 pontos da história. LeBron James é para muitos o herdeiro de Jordan. Há ainda o fenomenal Kevin Durant. Sem falar em Joel Embiid, Jrue Holiday, Jayson Tatum e Kawhi Leonard. Mas os tempos mudaram, e não se espere o passeio de Barcelona. Havia lá como aqui a dificuldade inicial de adaptar o jogo da NBA para o da Olimpíada, regido pela FIBA. A linha de 3 pontos, por exemplo, na NBA tem 7m24 – em Paris, ops, em Lille, são 6m75. Mais perto? Sim, o que faria pressupor mais facilidade, mas não. Curry teve de treinar, repetir à exaustão os arremessos. “Não somos invencíveis”, disse o armador do Golden State Warriors. “Somos talentosos, temos experiência, mas somos um grupo formado muito recentemente, mas há equipes muito bem preparadas para subir ao pódio”. Uma certeza: depois daquele conjunto de 1992 não apareceu nada mais espetacular, ao menos no papel, do que a seleção da NBA de agora. Se levarem a medalha dourada, aí sim poderão dizer que conquistaram o mundo. A ver. O jogo inaugural, contra a Sérvia, não foi fácil, apesar do placar largo, de 110 a 84.
As principais diferenças de regras entre o basquete olímpico, controlado pela FIBA, e o da NBA
BOLA: A NBA usa bolas da marca Wilson, com 75cm de diâmetro; a FIBA adota bolas da Molten, com 70cm.
TEMPO DE JOGO: Na liga americana o tempo é dividido em 12 minutos por quarto; nos Jogos Olímpicos, cada tempo tem 10 minutos.
QUADRA: A da NBA é maior do que a quadra da olimpíada. Nos Estados Unidos joga-se em piso de 28.7m por 15.2m. A FIBA adota a dimensão de 28m por 15m.
LINHA DE TRÊS PONTOS: A NBA tem 7.24m; a FIBA determina 6.75m.
LANCES LIVRES: na NBA, cada jogador tem 10 segundos para lançar a bola ao aro; para a FINA, são apenas 5 segundos



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA
Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet
Vem chuva aí: os estados que serão mais afetados nesta sexta, 27, segundo o Inmet Os sinais que levantaram suspeitas de separação de Amado Batista
Os sinais que levantaram suspeitas de separação de Amado Batista O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia
Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia