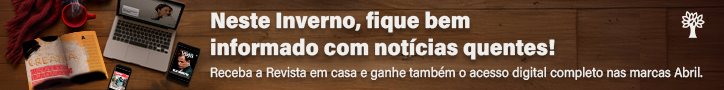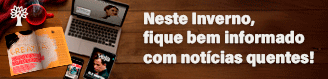O encontro libertador entre San Martín e Bolívar no Equador
A diplomacia e o poderio militar são decisivos, é claro, mas o motor do sonho da independência dos países vizinhos é o livre-comércio

O texto a seguir faz parte da edição especial de VEJA em torno dos 200 anos da independência. A ideia é tratar as notícias como seriam publicadas naquela semana de 7 de setembro de 1822 – tudo o que viria a ocorrer depois, portanto, ainda não aconteceu. É um passeio histórico ao cotidiano de dois séculos atrás.
Não há dúvida de que as notícias vindas de São Paulo no último dia 7 são animadoras para o Brasil, mas convém botar as barbas de molho. A julgar pelo que se tem visto entre os vizinhos do Brasil, a liberdade não será conquistada de forma pacífica e tranquila. O reino de Castela não apenas recusou as proclamações de independência de suas colônias nas Américas como vem usando suas tropas para tentar reverter o processo. Foi assim, por exemplo, na Venezuela e no Vice-Reino da Nova Espanha, que se declararam independentes em 1810, mas tiveram de lutar até o ano passado para conseguir, de fato, a rendição definitiva dos espanhóis — a Venezuela depois da Batalha de Carabobo, em junho; a Nova Espanha com a assinatura do Plano de Iguala, apenas no início deste setembro histórico.
Há quem diga que o sangue dos corpos caídos são as veias abertas a tingir de vermelho os campos do continente. Se o Vice-Reino de Nova Granada atualmente é conhecido como Grã-Colômbia e se Guayaquil já se considera uma Província Livre desde outubro de 1820, só agora Quito parece ter se livrado dos grilhões europeus, quase treze anos depois de declarar-se independente — o movimento iniciado em agosto de 1809 foi rapidamente reprimido pelos Exércitos reais. Depois da terrível Batalha de Pichincha, concluída no último dia 24 de maio, as forças leais à Espanha não têm mais como reagir. Sob o comando do general Antonio José de Sucre, os separatistas vinham gestando o confronto desde o início do ano.
Sucre reuniu veteranos de outras escaramuças e soldados recém-alistados em seu Batalhão Yagauchi. Boa parte do sucesso da empreitada deveu-se à chegada de tropas enviadas por Simón Bolívar, natural de Caracas, além de voluntários britânicos, franceses e irlandeses. No total, quase 3 000 homens chegaram ao sopé do vulcão Pichincha. Melchor Aymerich, que exercia o domínio colonial em Quito, tentou impedir que a montanha fosse ocupada. A região, com matas muito densas, exigiu enormes esforços de batalha. Quando parecia que o destacamento real ganharia uma vantagem definitiva, ao ocupar partes mais altas do vulcão, um grupo de soldados britânicos (o Batalhão Albión) obrigou os realistas a se refugiarem no forte de El Panecillo. Aymerich aceitou rapidamente a rendição proposta por um representante de Sucre e assinou a capitulação no dia 25 de maio — ainda assim, a Batalha de Pichincha deixou cerca de 200 mortos entre os independentistas e 400 entre os leais ao rei, além de 330 feridos.
A vitória é uma conquista decisiva para os autoproclamados “Libertadores da América”. O grupo, que luta pela emancipação do continente, inclui personagens como o chileno Bernardo O’Higgins, que conquistou a independência da Capitania Geral do Chile em 1818, com a ajuda do almirante escocês Thomas Cochrane (leia na pág. 18); o venezuelano José Antonio Anzoátegui; além, insista-se, de Sucre e Bolívar. Esse último, aliás, manteve recentemente uma reunião secreta com José San Martín (outro que sonha em pôr seu nome nas enciclopédias). Em 26 de julho, Bolívar e San Martín estiveram em Guayaquil num encontro destinado a selar uma ideia: unificar as colônias em uma só nação.
Do ponto de vista político, a maior inspiração dos libertadores é o chamado Iluminismo, movimento de mãos dadas com a Revolução Francesa, de 1789. Do lado de cá do Oceano Atlântico, seus ideais de liberdade e igualdade, contra a tirania, se traduzem, por exemplo, na luta contra as péssimas condições de trabalho de índios, escravos e mestiços. Para chegar lá, será preciso combater os muitos focos de resistência em favor do rei. Mas a tentativa de unificar esforços contra a Coroa espanhola expõe o que talvez seja o lado mais relevante do atual movimento separatista. Em Buenos Aires, onde San Martín (ex-militar espanhol que se insurgiu contra a matriz em 1812 e participou também do movimento independentista chileno) luta cotidianamente, a Primeira Junta foi nomeada em 25 de maio de 1810. A independência foi proclamada em julho de 1816, mas analistas garantem que a rendição da Espanha deve demorar ainda anos, senão décadas. Ao mesmo tempo, inúmeras mudanças já foram postas em prática — com a abertura dos portos e a liberação do comércio com os estrangeiros.
Ou seja, tão ou mais relevante do que vencer as batalhas diplomáticas e militares é atentar-se aos aspectos econômicos do momento que estamos vivendo. Em outras palavras, seguir o dinheiro. E, nesse ponto, é consenso que França e, sobretudo, Inglaterra, ocuparam o espaço que, por mais de três séculos, foi de Espanha e Portugal. Desde a ascensão de Napoleão só faz crescer a demanda dos europeus pela expansão de seus mercados consumidores. Foi justamente para evitar o chamado Bloqueio Continental que o imperador francês invadiu a Espanha, desestabilizando fortemente a autoridade do governo sobre as colônias. O fim do monopólio comercial na região também foi amplamente celebrado por ingleses e estadunidenses.
Há um bom tempo o Reino da Grã-Bretanha e Irlanda vem fazendo valer seus interesses na América com base na diplomacia econômica. O que ocorreu em Buenos Aires é elucidativo. Três dias depois da constituição da junta revolucionária, em maio de 1810, começaram a ser levantadas proibições de comércio com estrangeiros. Uma semana mais tarde, os impostos sobre as vendas de couro e sebo para o exterior caíram de 50% para 7,5%. E após mais um mês já se podia exportar ouro e prata em moedas — e, claro, elas passaram a circular em Londres sem inconvenientes. A partir de 1813, os comerciantes estrangeiros ficaram desobrigados de vender suas mercadorias por meio de negociantes nativos. Na prática, entrou em vigor o chamado livre-comércio, o que vem prejudicando fortemente a produção dos tecelões locais.
A situação do Brasil é semelhante. Até as pedras do calçamento do Rio de Janeiro sabem que a chegada da família real, em 1808, e a decisão de abrir os portos aos navios estrangeiros foram iniciativas 100% alinhadas com a Coroa britânica — isso para não dizer que os lusos eram apenas um joguete nas mãos de George III. Desde a chegada dos primeiros espanhóis e portugueses à América o que sempre se viu foi a expropriação dos recursos naturais (ouro e prata, onde quer que eles pudessem ser encontrados, cobre, pedras preciosas, madeira) e também do produto da agricultura (açúcar e café em primeiro lugar).
Mais recentemente, graças à expansão industrial inglesa, os tecidos produzidos nos arredores de Londres têm sido usados como moeda de troca — sempre com o objetivo de continuar levando para o Velho Continente as riquezas do Novo. É amplamente sabido que os ingleses já controlam, há mais de uma década, boa parte do comércio legal entre a Espanha e suas colônias (e ex-colônias), sem falar no famigerado contrabando, que caminha de mãos dadas com o tráfico de escravos. O que nos leva à grande questão que se instala para o futuro: seria a independência do Brasil e de seus vizinhos um caminho para mais liberdade e autodeterminação? Ou corremos o risco de trocar de “senhor”, presos aos interesses econômicos de ingleses, franceses ou quem mais tiver o poder e o dinheiro? Só o tempo dirá.
Publicado em VEJA de 13 de setembro de 2022, edição especial nº 2805



 A revelação de João Vicente de Castro sobre Sandy
A revelação de João Vicente de Castro sobre Sandy Familiares de general preso reclamam de abandono e pressionam cúpula do Exército
Familiares de general preso reclamam de abandono e pressionam cúpula do Exército Com três esposas, professor da UFBA desafia conceito de poliamor
Com três esposas, professor da UFBA desafia conceito de poliamor Jogos de hoje, domingo, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Jogos de hoje, domingo, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários O que dizem especialistas em montanhismo sobre o caso de Juliana Marins?
O que dizem especialistas em montanhismo sobre o caso de Juliana Marins?