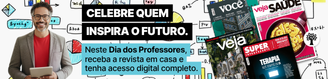Polêmica de devolução de obras saqueadas no passado atinge museu alemão
Anda tão ruidoso o clamor pelo retorno de itens conquistados pelos europeus na colonização que a controvérsia manchou um novo museu alemão antes da abertura

Nenhum projeto cultural se revelou tão audacioso na Europa contemporânea quanto o novo Humboldt Forum, em Berlim. Após duas décadas e investimentos sem precedentes na área até para padrões europeus, de 677 milhões de euros, o edifício do antigo Palácio Real prussiano passou por uma reconstrução arrojada para abrigar a mais nova joia defronte à Ilha dos Museus berlinense. Só que veio a pandemia, impondo o adiamento de sua inauguração física para sabe-se lá quando este ano — semanas atrás, houve só um lançamento virtual mixuruca. O coronavírus, porém, mostra-se o menor dos problemas perto da gritaria de ativistas que denunciam: o extraordinário acervo etnográfico do Humboldt Forum, que reúne relíquias de séculos de exploração germânica, da arte indígena brasileira a objetos pré-colombianos, passando pela Ásia e pela África, deve ser rechaçado por ser fruto de saque colonial. O Humboldt Forum nem nasceu e já está no centro de um debate a cada dia mais ruidoso: a quem pertencem, afinal, as riquezas culturais que os colonizadores europeus tomaram de outros povos no passado?

Foi graças à ação de estudiosos como os irmãos Alexander e Wilhelm von Humboldt, homenageados no novo museu de Berlim, que a civilização começou a valorizar, entre os séculos XVIII e XIX, obras hoje conservadas e acessíveis a milhões nos grandes museus do mundo. Mas isso não elimina o mal-estar da apropriação da cultura alheia. Seja por vista grossa, seja por constrangimento, a controvérsia foi sempre silenciada. Nos últimos meses, contudo, surgiram tênues sinais de mudança no ar. A propagação do ideário multicultural tornou políticos e dirigentes dos museus dos países ricos mais sensíveis às cobranças — ainda que o peso na consciência tenha limites. E um novo tipo de pressão também conta: na França e na Holanda, ativistas foram presos em 2020 por tentar roubar peças em nome da causa. Em novembro, o Senado francês determinou ao Musée du Quai Branly, em Paris, a devolução de 27 objetos africanos. A direção do local resistiu e senadores tentaram anular a própria decisão no fim de 2020. Mas prevaleceu a visão do presidente Emmanuel Macron, que desde 2017 vem prometendo restituir a herança colonial, temporária ou permanentemente, até 2022. Em breve o mundo saberá se a devolução, dessa vez, é para valer.
Para conduzir a repatriação das obras, Macron nomeou o economista senegalês Felwine Sarr e a historiadora de arte francesa Bénédicte Savoy. Talvez não por coincidência, Bénédicte acabara de se demitir justamente do Humboldt Forum, de Berlim, queixando-se da falta de “pesquisa de proveniência” das relíquias. Trata-se de uma apuração difícil não só pela falta de dados, mas pela quantidade: estima-se que 500 000 peças africanas estejam espalhadas entre museus, galerias e coleções privadas na Europa. No cerne dessa problemática está a restituição dos Bronzes de Benin, tesouros que decoravam o palácio do antigo reino na atual Nigéria, surrupiados por forças britânicas em 1897. “É emergencial refletir por que continuamos retendo tantas dessas peças se a maioria nem está exposta”, diz Dan Hicks, professor de arqueologia contemporânea da Universidade de Oxford.

Recuperar a totalidade desses itens é utopia, mas finalmente uma parte deve retornar para casa: um apanhado dos disputados bronzes foi prometido ao Edo Museum of West African Art (Emowaa), em Benin, que começa a ser construído neste ano. Essa agenda é influenciada pelo Benin Dialogue Group, consórcio de museus europeus que detêm quase todos os Bronzes de Benin existentes. Se depender do British Museum, em Londres, as obras vão, mas voltam: o argumento de permitir somente empréstimos é protegido por um Ato Parlamentar de 1963, que veta aos museus ingleses abrir mão de suas coleções. Enquanto isso, o British se comprometeu a financiar parte do projeto de escavações do Emowaa. O museu inglês, aliás, detém o mais célebre alvo de disputa entre países: os Mármores de Elgin, símbolos da arquitetura grega retirados do templo do Partenon pelo então diplomata inglês Conde Elgin, no século XIX.
Recentemente, a Holanda também designou um comitê para o tema, que orientou a restituição incondicional do que foi retirado sem consentimento de países como Indonésia e Suriname. Henrietta Lidchi, chefe-curadora do The National Museum of World Cultures (NMWC), crê na importância de reconhecer o ônus do passado, inclusive no modo de expor as obras. “Em quatro ou cinco anos será interessante ver como sinalizamos sua origem aos visitantes”, diz. António Pinto Ribeiro, especialista da Universidade de Coimbra, radicaliza a guinada na narrativa: “As exposições devem trazer uma perspectiva de história global, e não nacional”. Que esses tesouros possam, cada vez mais, contar a história com a devida transparência.
Publicado em VEJA de 20 de janeiro de 2021, edição nº 2721



 Lote extra do abono salarial PIS/Pasep: veja se você tem direito e o valor
Lote extra do abono salarial PIS/Pasep: veja se você tem direito e o valor Band responde com ironia a provocações da Globo e de William Bonner
Band responde com ironia a provocações da Globo e de William Bonner Ex-Malhação, Felipe Selau é encontrado morto aos 31 anos em SP
Ex-Malhação, Felipe Selau é encontrado morto aos 31 anos em SP Os cinco canais de TV que serão encerrados no Brasil até dezembro
Os cinco canais de TV que serão encerrados no Brasil até dezembro A homenagem ao pai de Luciano Huck na USP
A homenagem ao pai de Luciano Huck na USP