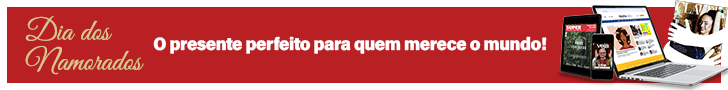A saga das mulheres que costuravam para não morrer em Auschwitz
O caso pouco conhecido é relatado no tocante livro 'As Costureiras de Auschwitz', que acaba de ser lançado no Brasil

Em fevereiro do ano passado, Bracha Kohút morreu, às vésperas de completar 100 anos. Um ano antes, a senhorinha recebera em sua casa, na Califórnia, a historiadora Lucy Adlington, a quem relatou sua história pessoal em uma catástrofe perpetrada por mãos humanas: o Holocausto. Bracha — que, quando solteira, carregava o sobrenome Berkovic — foi uma das 10 000 judias eslovacas enviadas a Auschwitz na II Guerra, e uma das poucas (cerca de 200) a sair de lá com vida. “Estive em Auschwitz por 1 000 dias. Em todos eles, eu poderia ter morrido 1 000 vezes”, relatou. Sobreviveu graças à habilidade de manejar linha e agulha, o que lhe conferiu uma “vaga” no “estúdio de alta-costura superior”, um ateliê no coração do campo, onde prisioneiras costuravam trajes luxuosos para guardas femininas da SS e esposas de oficiais da cúpula nazista. O caso é relatado por Adlington no tocante livro As Costureiras de Auschwitz, que acaba de ser lançado no Brasil pela editora Planeta.
As costureiras de Auschwitz: A verdadeira história das mulheres que costuravam para sobreviver
Fundado em 1943 por Hedwig Höss, esposa do mais longevo comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, o estúdio de alta-costura ficava em um prédio tido como o coração da burocracia do campo de concentração, próximo de um depósito de munição e de um salão de cabeleireiros para soldados. No comando, estava a prisioneira Marta Fuchs, que fez do local um refúgio para as mulheres que ali se instalaram. Irene Reichenberg, melhor amiga de Bracha, foi uma das primeiras a chegar. Ela era cunhada da irmã de Marta e estava à beira do suicídio quando foi convocada para o ateliê. Uma vez lá, convenceu Marta a recrutar Bracha — que, por sua vez, trouxe a irmã Katka. No outono de 1943, a equipe havia passado de duas para quinze costureiras, e o número cresceria para 25 nos anos seguintes.

Dizer que o ateliê era agradável seria apagar as atrocidades cometidas em Auschwitz. Mas era um paraíso perto do que as prisioneiras viveram fora dali. Com medo do tifo, a SS exigia limpeza das detentas com quem seu pessoal compartilhava o prédio, o que dava às costureiras acesso a água corrente, chuveiros e sanitário com descarga. A comida consistia na ração e sopa de sempre, mas ali havia o suficiente para todas. Também não havia problemas com estoque: os tecidos e suprimentos para atender aos caprichos alemães eram ilimitados. Da janela do ateliê, porém, era possível ver a fumaça das câmaras de gás. Qualquer sinal de doença poderia significar uma passagem só de ida para lá. As costureiras também viviam com medo de desagradar às clientes, já que costuravam para quem decidia se viveriam até o dia seguinte.
Assim transcorreu até 17 de janeiro de 1945, quando foram informadas de que aquele seria o último dia de trabalho. Na manhã seguinte, partiram com outros 30 000 judeus para fora de Auschwitz, nas “marchas da morte” (os presos eram colocados em trens de carga sem calefação e a maioria acabou perecendo no transporte para a Alemanha). Graças à ajuda mútua, muitas conseguiram sobreviver até a libertação, dez dias depois. Mas o destino de várias delas é incerto. Marta abriu um ateliê em Praga, e chamou Bracha e outras para trabalhar. Algum tempo depois, deixaram a loja para se dedicar às suas famílias. Mas a costura seguiu na memória como o ofício que salvou suas vidas.

Última parada: Auschwitz: Meu diário de sobrevivência
A história soa tão surreal que parece ficção — e chegou a Adlington, quem diria, por meio da literatura. Na primeira vez em que ouviu falar do ateliê, ela vasculhava documentos em busca de ligações entre o nazismo e a moda. Obcecada com a ideia de uma oficina em Auschwitz, se aprofundou nas pesquisas e compilou uma lista de nomes que se revelariam do time de 25 costureiras. Sem mais informações, lançou o romance The Red Ribbon (2017), ambientado numa versão fictícia do ateliê. Não demorou até que recebesse e-mails de parentes das verdadeiras costureiras. Bracha era a única ainda viva, com 96 anos. Daí nasceu seu livro documental — no qual disseca, ainda, como o regime de Hitler usou a moda para propagar a falácia da superioridade ariana. A autora cumpre com brilho o objetivo de iluminar uma faceta ainda pouco conhecida dos horrores em Auschwitz.
Publicado em VEJA de 16 de fevereiro de 2022, edição nº 2776
*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO





 Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo
Homem coloca fogo no próprio corpo em estação do metrô de São Paulo Efeito Alexandre: governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros
Efeito Alexandre: governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros Adivinhe quem vai pagar a conta da roubalheira bilionária no INSS
Adivinhe quem vai pagar a conta da roubalheira bilionária no INSS Os deslizes de Thiago Oliveira na cozinha do ‘É de Casa’
Os deslizes de Thiago Oliveira na cozinha do ‘É de Casa’ Fim da frente fria? Os estados onde o tempo começa a virar neste domingo, 1º de junho
Fim da frente fria? Os estados onde o tempo começa a virar neste domingo, 1º de junho