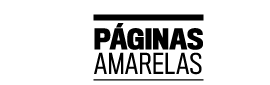A moral de cada dia
O autor da atual novela das 9 diz que público cansou de tramas pesadas, não foge a um bom debate sobre ética e se revela menos conservador do que se imagina

Recentemente, o noveleiro João Emanuel Carneiro nutria sentimentos ambíguos: estava feliz, mas deprimido com a iminência de pôr um ponto-final em Segundo Sol, que termina em 9 de novembro. “Depois de meses, você fica sozinho sem seus personagens”, diz. A atual trama das 9 da Globo acabava de atingir 39 pontos, seu recorde de ibope em São Paulo, cumprindo o desafio de manter o público plugado na principal atração da TV brasileira em um período com a forte concorrência das eleições. Aos 48 anos, ele conta por que a celebração da classe C de seu sucesso Avenida Brasil (2012) deu lugar a uma momentosa discussão sobre escolhas morais. Na entrevista a seguir, Carneiro fala ainda sobre a controvérsia da falta de negros no elenco de Segundo Sol, que se passa na Bahia, e de seu desafio, como analfabeto digital assumido, de fazer novelas na era das redes sociais.
Conduzir a atração mais vista da televisão em meio a uma eleição tão polarizada implica algum desafio extra? Essa turbulência capaz de provocar até o fim de velhas amizades por causa de discussões sobre política é muito difícil. Ao mesmo tempo, há um lado positivo: o brasileiro acordou para a política. As pessoas estão tendo de pensar, de se colocar, de sair do armário e expressar opiniões. Isso é salutar. Penso muito sobre o papel do novelista nesse processo. Se a novela fizer com que as pessoas reflitam sobre o caráter dos personagens, de certa maneira estarei fazendo-as pensar também em moral e política.
Avenida Brasil captou a ascensão da classe C. Que país Segundo Sol retrata? São novelas com propostas diferentes para tempos diferentes. Segundo Sol tece comentários sobre a realidade do país, como no caso do dinheiro apreendido com Severo (a cena com o empreiteiro corrupto vivido por Odilon Wagner remetia às malas de dinheiro encontradas em imóvel do ex-ministro Geddel Vieira Lima). Mas, apesar das brincadeiras com a realidade, Segundo Sol é uma fantasia colorida, sensual, com certa picardia. A Regra do Jogo (2015), meu trabalho anterior, era muito colada ao lado escuro da realidade. É novela que me dá orgulho, mas que se revelou pesada para quem já vivia uma realidade tão difícil. Diziam que era como ligar a TV e ver uma continuação dos escândalos de corrupção que apareciam no Jornal Nacional. Talvez uma trama como aquela viesse a despertar rejeição até maior hoje, com as dificuldades imensas na vida das pessoas.
Mas investir em uma trama escapista em uma fase tão aguda do país não é fugir da raia? De modo algum. Um narrador de novela das 9 fala todo dia com 70 milhões de pessoas e tem uma responsabilidade enorme para com elas. Uma coisa em que concordo com o Silvio de Abreu (chefe da área de teledramaturgia da Globo) é que a novela deve trazer alegria para a vida das pessoas. Sei disso por experiência própria. Como filho único, tive uma infância muito solitária. Ver televisão me salvou. O escapismo não é necessariamente uma coisa ruim.
O que mudou entre 1988, quando o Brasil parava para ver os desmandos e a corrupção da nação espelhados em Vale Tudo, e o momento atual? As novelas podem até voltar a ter aquele papel de botar o dedo na ferida. Mas não agora que as pessoas estão cheias de tanta desgraça nos telejornais, nas redes sociais. No entanto, mesmo que não fale das mazelas de forma literal, a novela não pode nem deve abdicar de seu poder de provocar reflexão nas pessoas. Não abro mão, sobretudo, de tratar da questão que julgo mais básica, a ética. No fundo, essa é a discussão que precisamos encarar em tudo na nossa vida. Até que ponto são toleráveis o erro, a mentira, a falta de ética na política ou no dia a dia?
“Depois de ver o Museu Nacional pegando fogo — aquele palácio que foi casa dos reis —, nada parece inimaginável. E olhe que eu já tinha achado a eleição do Trump quase uma distopia”
O brasileiro está mais rigoroso com os desvios éticos? As pessoas podem estar bravas com os políticos, mas, ao contrário do que muitos imaginam, o espectador tem um limite de tolerância alto com os malfeitos do dia a dia. Também nas novelas, posições radicalizadas criam torcidas. No caso da Zefa (empregada negra vivida por Claudia Di Moura), a votação está meio a meio. Quem fala a favor dela diz que foi por amor à família que Zefa deixou o filho negro que teve com o patrão ser criado como serviçal. Quem fala mal diz que ela é uma negra submissa e racista. Rosa (Leticia Colin) também divide as pessoas. Os espectadores não viram grande problema quando ela se prostituiu para superar uma vida difícil. Porém, ao esconder do namorado que o pai de seu filho era outro homem, foi hipercriticada. Isso é inaceitável para o público. Mas ela resgatou o apreço do povo. Vai se redimir.
Colegas seus como Silvio de Abreu e Aguinaldo Silva já disseram que está difícil, para os ficcionistas, competir com a realidade. Faz sentido? Realmente, está duro competir com a realidade. Depois de você ver o Museu Nacional pegando fogo — aquele palácio que foi a casa dos reis —, nada mais parece inimaginável. E olhe que eu já tinha achado a eleição do Donald Trump quase a consumação de uma distopia, um filme de ficção científica. Tem-se a sensação de que os eventos se sucedem numa velocidade muito maior do que antes. O ficcionista precisa correr atrás para não ficar obsoleto.
A cena que mostrou o personagem Remy (Vladimir Brichta) supostamente esfaqueado foi ao ar poucos dias depois do atentado contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Como surgiu a ideia? Foi pura coincidência. Mas fiquei um pouco perturbado com isso, confesso. Parece que fiz de propósito, porém a cena foi escrita bem antes do atentado. Com faca e tudo. Não teve nada a ver, mas a gente está falando de conjunções astrais aqui, não?
Como assim? É como Jung (o psiquiatra suíço Carl Jung) fala do inconsciente coletivo. Sem querer, a gente acaba captando certas coisas no ar. O novelista tem de ter uma antena ligada ao mundo lá fora. E isso só aumenta sua responsabilidade. Por mais que eu escreva guiado por minhas ideias, a novela, no fim das contas, pertence ao espectador. As pessoas me cobram sobre os rumos da história. Outro dia, uma caixa de supermercado me falou: “Ah, por que Segundo Sol já vai terminar em novembro? Podia ir até janeiro”. Dá vontade de matar a pessoa que diz isso. Tenho de terminar essa novela em algum momento. O noveleiro luta para pôr sua novela no ar, e depois para sair do ar. Você quer que aquilo acabe um dia. Eles falam assim porque sentem como se a novela fosse deles.
O que explica essa ligação? Novela é como se fosse um serviço público. As pessoas nos cobram como se reclamassem de ter acabado a água encanada em casa. Acho engraçado quando o povo diz: “Mas que porcaria, a Luzia (mocinha vivida por Giovanna Antonelli) foi enganada de novo”. Como se a pessoa não tivesse outra opção na vida a não ser ver novela. Ela poderia fazer qualquer outra coisa: cozinhar, dar um passeio, navegar na internet. Quem escreve novela, ainda mais a do horário das 9, tem de ter a humildade de reconhecer que a está fazendo para os outros. Você entra nas casas, hospitais, até em presídios. É impressionante. Se penso muito nisso, fico paralisado. É um peso enorme.
Qual sua sensação ao escrever a reta final da novela? Sinto certo ódio, uma náusea de trabalhar tanto. São doze horas por dia, de domingo a domingo. Mais do que o trabalho, há a responsabilidade imensa envolvida. A novela é um bicho incontrolável. Como é feita num frenesi maluco, o que sai lá do meu subconsciente chega à casa de milhões de pessoas sem nenhum filtro. É um chupa-cabra da sua mente: por mais que alguém tente controlar ou filtrar o conteúdo de uma novela, no fundo é impossível ter qualquer tipo de controle sobre a história. Já me arrependi de muita coisa que escrevi. Você não tem tempo de pensar. Novela é esboço, não trabalho que tem segunda demão, como pintura de parede. Mesmo assim, quando a novela acaba, fica um vazio enorme.
Luzia (Giovanna Antonelli) foi criticada nas redes sociais por sua burrice. Na era da afirmação feminina, não é arriscado investir numa heroína tão descerebrada? Se fosse assim, não poderia haver Quincas Borba, personagem do Machado de Assis que era enganado. Nem Branca de Neve, que come a maçã depois de já ter sido enganada pela rainha. A internet propiciou um patrulhamento da profissão de novelista quase insuportável. É um trabalho desumano. Você apanha carregando um piano, não descansando na praia. Os haters da internet se promovem falando mal de mim. Adoro quando levam pito dos meus fãs.
Segundo Sol trouxe um ex-ídolo do axé que passou anos vivendo sob outra identidade quando qualquer um em Salvador poderia desmascará-lo dando uma olhada no Google. Também houve um recado crucial deixado numa secretária eletrônica de telefone na era do WhatsApp. O senhor, pelo visto, continua um analfabeto digital assumido. Eu tenho fax ainda. Só faço cheque, não sei fazer transferência eletrônica. E fui provavelmente das últimas pessoas a entrar na internet no Rio de Janeiro. Mas tenho uma missão: neste mês, juro que vou conseguir finalmente entrar no Spotify. Para mim, o máximo como ser humano será botar uma música para tocar no meu celular com blue tools (sic: Carneiro quis dizer “Bluetooth”).
“Quem faz novela tem de ter a humildade de reconhecer que a escreve para os outros. Você entra nas casas, hospitais, até em presídios. Se penso nisso, fico paralisado. É um peso”
Sua novela foi acusada de não ter negros o suficiente para representar a Bahia. Depois disso, ganhou muitos personagens negros. Foi uma admissão de erro? Acho que sim. Reconheço que foi uma falha. Eu deveria ter sido mais atento à questão da representatividade racial, ainda mais se tratando de uma novela que se passa em Salvador, uma cidade de maioria negra tão evidente. Agora, escrever novela é um trabalho feito de cambulhada. É na urgência do momento. Então você comete erros. Simples assim. Ainda mais nesse caso, em que minha entrada no ar foi antecipada em vários meses e o elenco teve de ser escalado às pressas. A verdade é que praticamente não há testes para definir o grosso do elenco de uma novela. Só no ar a gente vai descobrir se os atores vão funcionar. É o talento brasileiro do improviso de escola de samba.
Segundo Sol tem um negro vítima de racismo que se revelou vilão e uma lésbica que sente atração por homem. O desafio à lógica da correção política é deliberado? Personagens negros, gays e de outras minorias não necessariamente têm de ser vestais ou exemplos de virtude. Senão, aí sim, você faz uma história preconceituosa. Se todo mundo que pertencer a uma minoria tiver de ser cordeirinho, não vai ter vida, não vai ter conflito, não será real.
A maré conservadora revelada nas eleições afeta as novelas? Não vejo mais conservadorismo. No fundo, o público de TV é como criança: se você encaminha a trama de forma palatável, ele está aberto a temas controversos. Mas no horário das 9, com toda a família diante da TV, pé na porta não dá. Tem de ter sensibilidade.
Publicado em VEJA de 31 de outubro de 2018, edição nº 2606