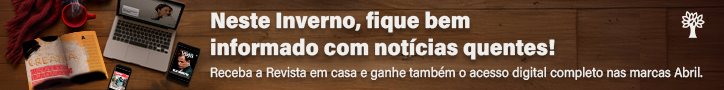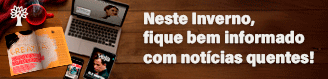A ideia de gênio da Disney
As versões atualizadas do seu catálogo clássico, como 'Aladdin', são só uma das frentes em que o estúdio alcança recordes de bilheteria

Jafar (Marwan Kenzari), o maléfico, não quer ser apenas um vizir; quer ser o sultão. Mas como, se o reino de Agrabah já tem seu sultão e se o tal Jafar, ladrão comum que se infiltrou na corte graças a muita esperteza e alguma magia, não tem linhagem que o recomende? Ora, para isso existem as lâmpadas mágicas e os gênios que nelas moram: realizar até os desejos mais extraordinários. Basta que Jafar obrigue Aladdin (Mena Massoud), um menino de rua espertalhão mas de bom coração, a buscar a lamparina no interior da caverna proibida, e então — em um piscar de olhos (ou em dois ou três fins de semana), a Disney terá juntado mais algumas centenas de milhões à sua cota da bilheteria. Aladdin (Estados Unidos, 2019), que já está em cartaz no país, é mais um veio de um filão que o estúdio vem garimpando com sucesso quase infalível: o das versões live action do seu notável catálogo de clássicos da animação.
Se o Dumbo dirigido por Tim Burton colheu um resultado modesto (renda mundial de 347 milhões de dólares, contra um custo de 170 milhões), outras vezes o dinheiro chove — como no caso de A Bela e a Fera (1,26 bilhão contra 160 milhões de investimento), Mogli — O Menino Lobo (967 milhões contra 175 milhões) e Cinderela (543 milhões contra 95 milhões). Aladdin candidata-se a integrar esse segundo grupo: é adaptado de um dos desenhos mais bem-sucedidos da Disney e tem um astro de imensa popularidade, Will Smith, colocando toda a sua considerável energia no papel do Gênio, o verdadeiro motor do enredo. Possui também uma levada alegre e colorida que se inspira nos musicais de Bollywood, além de um eixo bastante contemporâneo — o esforço da princesa Jasmine (Naomi Scott) para ser reconhecida como a sucessora mais capacitada ao reino de seu pai. Atenta às modernas sensibilidades culturais, a Disney cuidou de escolher um elenco com atores de ascendência árabe e asiática. Incumbiu a premiadíssima dupla formada por Alan Menken e Tim Rice de compor as canções e, finalmente, entregou a direção ao inglês Guy Ritchie, que adora histórias protagonizadas por malandros de rua como o simpático, safo e ágil Aladdin, tão rápido para afanar braceletes quanto para se apaixonar por Jasmine, que conhece no dia em que, incógnita, ela faz um raro passeio pelas ruas de Agrabah.

Juntem-se a essa paixonite um tapete mágico e um macaquinho enxerido — Iago, companheiro inseparável de Aladdin e um exemplo encantador do casamento de criação digital com atores reais — e pronto, a lâmpada mágica está mais perto de Jafar, e mais longe dele, do que nunca: é Aladdin quem primeiro a esfrega e faz surgir o Gênio, um furacão azul que, felicíssimo por ser liberto pela primeira vez em 1 000 anos e agradavelmente surpreso com a inocência do seu novo amo, decide orientá-lo na formulação dos seus três desejos. Poder e fortuna, fortuna e poder, é tudo que lhe pedem, diz o Gênio. Romance é uma bem-vinda variação nesse cardápio, explica o todo-poderoso enquanto fantasia Aladdin de príncipe para que ele possa, assim, cortejar a princesa que de outra forma estaria fora do seu alcance.

Lançado em 1992, o desenho Aladdin instituiu um marco criativo: em vez de apenas dar voz ao Gênio (e “apenas” é, neste caso, uma palavra terrivelmente injusta), Robin Williams serviu também de modelo para o personagem, na aparência e na personalidade exuberante. O êxito foi tão grande que, a partir daí, encampar os atributos dos atores passaria a ser regra na animação. Aladdin faz ainda parte do quarteto de desenhos — junto com A Pequena Sereia (1989), A Bela e a Fera (1991) e O Rei Leão (1994) — que virou a sorte do estúdio depois de um estirão de estagnação artística e comercial e o devolveu ao topo do segmento de animação (pelo menos até o advento de uma pequena produtora chamada Pixar, que mudaria os paradigmas com Toy Story, de 1995). O sucesso não só puxou consigo toda a empresa, como cimentou e potencializou a cultura revolucionária que Walt Disney desenhara décadas antes — um sistema de retroalimentação em que a marca impulsiona os produtos e os produtos impulsionam a marca, numa multiplicação virtualmente infinita das possibilidades de negócios. Eis o que definiu o interesse da Disney em adquirir a incômoda rival Pixar, a Lucasfilm, os Estúdios Marvel e agora a Fox: não apenas o valor intrínseco das empresas, mas a capacidade dessas marcas de contribuir para acelerar essa sinergia.

Os resultados são impressionantes. A Disney é o único estúdio a ter ultrapassado os 7 bilhões de dólares na bilheteria global: fez 7,3 bilhões no ano passado — no que perde só para si própria, com os 7,6 bilhões de 2016. Até aqui, em 2019, ela detém 34% da bilheteria americana, contra 16% da Warner, a segunda colocada — para o que os 2,6 bilhões já acumulados por Vingadores: Ultimato contribuem decisivamente. E, para a Disney, o ano mal começou. Em 18 de julho, estreia a nova versão de O Rei Leão, em computação gráfica hiper-realista — e vale lembrar que esse foi o desenho de maior bilheteria de toda a história do estúdio; em valores atualizados, sua renda somaria hoje 1,7 bilhão de dólares. Em dezembro, como grand finale, encerra-se a última trilogia de Star Wars — cujos dois primeiros filmes totalizam 3,4 bilhões de dólares. Os itens menores da agenda estão longe de ser desprezíveis: Toy Story 4 em junho; em outubro, a continuação de Malévola, a versão live action de A Bela Adormecida, com Angelina Jolie; e, em novembro, a de A Dama e o Vagabundo — dando continuidade a uma lista em que já estão programadas versões live action de Mulan, 101 Dálmatas, Pinóquio, O Corcunda de Notre Dame, Lilo & Stitch e A Pequena Sereia. Para a Disney, enfim, o tesouro está onde sempre esteve: no seu imenso patrimônio acumulado. O que pode parecer óbvio — mas é coisa de gênio.
Publicado em VEJA de 29 de maio de 2019, edição nº 2636

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br



 A revelação de João Vicente de Castro sobre Sandy
A revelação de João Vicente de Castro sobre Sandy Familiares de general preso reclamam de abandono e pressionam cúpula do Exército
Familiares de general preso reclamam de abandono e pressionam cúpula do Exército Com três esposas, professor da UFBA desafia conceito de poliamor
Com três esposas, professor da UFBA desafia conceito de poliamor Jogos de hoje, domingo, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Jogos de hoje, domingo, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários O que dizem especialistas em montanhismo sobre o caso de Juliana Marins?
O que dizem especialistas em montanhismo sobre o caso de Juliana Marins?