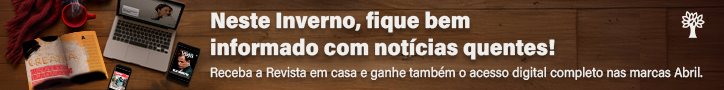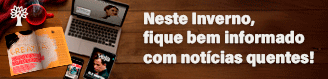Exposição em Londres faz retrospectiva das divas do universo artístico
Mostra reúne dois séculos de glamour, fama e a força inquestionável da moda como símbolo de poder

Musas de pintores e poetas. Ícones de beleza. Mulheres poderosas. Efígies temperamentais. Artistas acima do bem e do mal. Ser uma diva — termo de origem italiana que remete a “deusa” — é algo que já teve inúmeras definições. Mas a palavra fala por si e transcende os anos, os significados e as gerações. Tamanha força e atemporalidade estampam a exposição DIVA, assim mesmo, em capitulares, no Museu Victoria & Albert, em Londres. “A expressão é conhecida em todo o mundo, não precisa de tradução”, diz Kate Bailey, curadora da mostra. Não precisa mesmo.
A exposição é composta de mais de 250 itens originais, entre fotografias, cartazes, revistas e vídeos, que mostram o estilo, a atitude e as lutas de artistas que beberam do glamour e da moda para romper barreiras. Era assim no século XIX e continua a ser hoje, com as estrelas dos megaespetáculos e a explosão de autoestima multiplicada pelas redes sociais. Nada funcionaria, contudo, não fosse o vestuário. Não por acaso, o destaque londrino são sessenta trajes icônicos, feitos por grandes estilistas, como o modelo preto com franjas que Marilyn Monroe usou em Quanto Mais Quente Melhor (1959) ou o vestido carmesim com espartilho desenhado por Christian Dior para Vivien Leigh na peça Duel of Angels (1958).

São exemplos de roupas que reforçam a enorme habilidade das divas em encantar e inspirar o público. Em dois séculos de aventura humana, demasiadamente humana, a regra sempre foi fazer do armário um manifesto público. A trajetória começa com grandes cantoras de ópera, como Adelina Patti e Maria Callas, passa por estrelas de Hollywood nas figuras de Greta Garbo, Marlene Dietrich, Josephine Baker e Mae West — que batalharam por igualdade em um universo dominado por homens — e chega a pop stars contemporâneas do quilate de Rihanna e Beyoncé, que se juntaram ao coro contra o machismo e o racismo, resgatando a atuação no passado nem tão recente assim de musas do jazz como Nina Simone, Ella Fitzgerald e Diana Ross. Sim, tudo vai muito além de rostinhos e vestidos bonitos.

É um equívoco, contudo, imaginar que as divas tenham já nascido divas. É transformação que dá trabalho. Muitas delas foram malvistas ao darem as caras, foram criticadas, achincalhadas, mas venceram. Travaram batalhas contra tudo e contra todos até conseguirem unanimidade, ou quase. “São figuras admiradas também pela forma como brigaram pelo poder”, diz Kirsty Fairclough, autora do livro Diva: Feminism and Fierceness from Pop to Hip-Hop (sem edição em português). Ganham destaque na exposição, portanto, personalidades marcantes como Tina Turner e Cher, ícones da contracultura como Siouxsie Sioux e as camaleônicas e contestadoras Madonna, Lady Gaga e Björk. Ressalte-se, sem um pingo de surpresa, é verdade, que nem toda diva é do gênero feminino, simples assim. A DIVA do museu valoriza a diversidade andrógina da cantora e compositora britânica Annie Lennox e também o estardalhaço visual de astros gays como Freddie Mercury, Prince e Elton John. Por meio do visual chamativo, repleto de plumas e saltos altos, eles foram fundamentais nas lutas pelos direitos LGBTQIA+. Fizeram, portanto, o conceito de diva sair do quadradinho antes estabelecido.

Há, porém, um aspecto que parece não mudar, e que faz as divas ainda mais interessantes: a contradição permanente entre a fama e a busca impossível pela discrição doméstica; o aparente controle do que ostentam diante da pressão da indústria; o privilégio do ponto de vista monetário e a busca incessante por algum tipo de trabalho social. As divas não podem ser vistas de um único prisma — e hoje, no império do Instagram, do TikTok, universo controlado pelas redes sociais, parece ainda mais complicado proteger-se, na defesa de uma aura mítica, intocável. Ser diva é duro.

E, contudo, diva que é diva segue tendo luz própria, o magnetismo inquebrantável. Sabe usar a chama para seduzir e enfeitiçar fãs e seguidores, mantendo ou quebrando paradigmas estabelecidos na arte e na moda. Administram as próprias fragilidades, fingem ser a fortaleza que podem não ser. A altivez é a norma, até porque sem ela o edifício ruiria. Como diria Marilyn Monroe, amada por plebeus e gente de sangue azul, o totem dos totens, afeita a desfilar em quartos e corredores presidenciais: “Mulheres comportadas raramente fazem história”. É isso.
Publicado em VEJA de 11 de agosto de 2023, edição nº 2854


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Copa do Mundo de Clubes: o time brasileiro que pode ser campeão, segundo sites de apostas e a IA
Copa do Mundo de Clubes: o time brasileiro que pode ser campeão, segundo sites de apostas e a IA Brasileira Juliana Marins é encontrada morta em vulcão na Indonésia
Brasileira Juliana Marins é encontrada morta em vulcão na Indonésia Onda de frio ganha força: os estados que mais serão afetados nesta terça, 24, segundo o Inmet
Onda de frio ganha força: os estados que mais serão afetados nesta terça, 24, segundo o Inmet Pai de jovem que aguarda resgate na Indonésia fica preso em Lisboa após fechamento do espaço aéreo
Pai de jovem que aguarda resgate na Indonésia fica preso em Lisboa após fechamento do espaço aéreo PGFN abre renegociação para quem está na dívida ativa da União
PGFN abre renegociação para quem está na dívida ativa da União