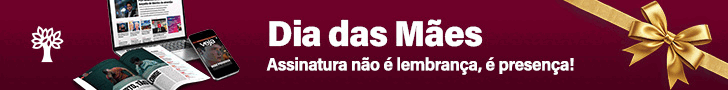Otimistas, pessimistas e a caixa-preta do futuro
Num momento em que o país define seu rumo político pelos próximos quatro anos, após uma campanha em clima de guerra que deixa a população compreensivelmente dividida entre quem espera grandes realizações e quem prevê tempos sombrios, vale a pena invocar a história das palavras e lembrar que o termo otimismo, hoje popular e até […]
Num momento em que o país define seu rumo político pelos próximos quatro anos, após uma campanha em clima de guerra que deixa a população compreensivelmente dividida entre quem espera grandes realizações e quem prevê tempos sombrios, vale a pena invocar a história das palavras e lembrar que o termo otimismo, hoje popular e até banalizado (“vamos pensar positivo, gente!”), tem em sua origem dois dados surpreendentes: um berço intelectualmente chique e uma infância atormentada pelo bullying de um cara cruel chamado Voltaire.
Filho do latim optimus, superlativo de bom, o termo nasceu no caldeirão dos ricos embates filosóficos do século 18. Cunhado em 1737 em francês (optimisme), era inicialmente um rótulo para o pensamento de Leibniz, que na época andava na moda. Leibniz explicava a existência do mal dizendo que Deus, sendo, mais do que bom, ótimo, só poderia ter criado o melhor dos mundos possíveis. Quer dizer, o mundo não é melhor do que isso porque, paciência, náo tem jeito. Nem para Deus.
O otimismo leibniziano gozava de boa reputação quando foi satirizado e avacalhado para sempre por Voltaire no romance “Cândido”, a história de um cara incuravelmente otimista sobre o qual se abate toda a desgraceira do mundo.
O negócio é prever o pior, então? Nada disso. Em defesa do otimismo pode-se lembrar que até Voltaire, seu grande inimigo, deu mostras daquilo que chamamos por esse nome – a crença num futuro melhor – em seu “Poema sobre o desastre de Lisboa”, de 1756, escrito um ano após o terremoto que arrasou a capital portuguesa e lançou a Europa num buraco de pessimismo.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Como irmão de Lula ascendeu em sindicato investigado por fraudes no INSS
Como irmão de Lula ascendeu em sindicato investigado por fraudes no INSS Lula caiu na própria armadilha no caso da roubalheira no INSS
Lula caiu na própria armadilha no caso da roubalheira no INSS Morre Madruguinha do Brasil, humorista do SBT, aos 62 anos
Morre Madruguinha do Brasil, humorista do SBT, aos 62 anos Mansão da apresentadora Hebe Camargo vai a leilão em São Paulo
Mansão da apresentadora Hebe Camargo vai a leilão em São Paulo A atriz brasileira que chamou atenção de Justin Bieber nas redes sociais
A atriz brasileira que chamou atenção de Justin Bieber nas redes sociais