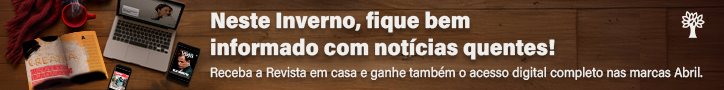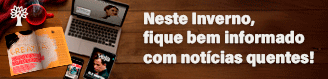Orgulho de pai
“Quando eu tinha dez anos, meu pai me obrigou a treinar no infantil do América”, disse o homem, depois de virar mais um copo de cerveja. “Foi na primeira metade dos anos setenta”, acrescentou, explicando que naquele tempo a curva de realizações do clube carioca já tinha embicado rumo ao piso, mas a decadência estava […]
“Quando eu tinha dez anos, meu pai me obrigou a treinar no infantil do América”, disse o homem, depois de virar mais um copo de cerveja. “Foi na primeira metade dos anos setenta”, acrescentou, explicando que naquele tempo a curva de realizações do clube carioca já tinha embicado rumo ao piso, mas a decadência estava no início e o time infantil tinha bom nível. “Uns meninos parrudos, habilidosos, eu lá no meio fazia um papel ridículo de matadas na canela, bolas debaixo das pernas, tombaços ao menor tranco. Como sempre nesses casos, por alguma razão que eu nunca entendi direito, fui parar na lateral esquerda. Lugar de pereba é na lateral esquerda.”
A mesa do bar era composta por outros três homens adultos – mais que adultos, maduros. Todos, quem sabe, embicados também rumo ao piso em suas curvas de realizações. Ouviam em silêncio, ninguém ali tinha pai vivo mais.
“Era evidente que jogar futebol naquele nível não estava ao meu alcance”, prosseguiu o homem, “mas meu pai parecia não perceber isso. Conselheiro importante do clube, impunha a minha presença e o técnico, fraco, cedia. Eu e o time sofremos com a teimosia do meu pai por seis meses, período em que não perdi um treino, levado pessoalmente por ele em seu Opala vermelho.”
Suspirou. Com os dois cotovelos fincados na mesa, deixou a testa, que vinha tombando, parecendo pesada, encontrar apoio nas pontas dos dedos. O olhar mergulhou no copo de cerveja. “Foram seis meses de inferno: vexames em coletivos, insultos dos companheiros, todo mundo rindo de mim, aquele clima de hostilidade aberta. Nos jogos, claro, eu ficava no banco. Só entrei em campo uma vez, faltando seis minutos para o fim de um jogo contra o São Cristóvão que vencíamos por 5 a 0. Não fui tão mal quanto esperava. Toquei na bola duas ou três vezes, fiz o mais simples, o placar se manteve, saí com a dignidade intacta.”
“Parabéns”, arriscou um dos outros homens, irônico. Todos o ignoraram. Por alguma razão, sabiam que o momento não combinava com gracinhas.
“Quando entramos no carro, depois daquele jogo, meu pai me deu um abraço e disse que a minha estreia tinha sido ótima. Parecia emocionado de verdade, e é difícil admitir isso, mas aquele nada, aquele sucesso ridículo me subiu tanto à cabeça que eu perdi completamente a lucidez. No embalo de deixar meu pai orgulhoso, comecei a achar que podia jogar futebol mesmo. Quer dizer: aos dez anos, eu não só me submetia à humilhação de fingir ser o que não era, e sem nem cogitar de rebelião, mas no fim ainda queria mais. Tudo para deixar meu pai orgulhoso.”
Os quatro amigos fizeram silêncio. O silêncio se prolongou, ficou enorme, engoliu a tarde de domingo – o segundo domingo de agosto. Todos pensavam nos próprios pais, em como ainda queriam deixá-los orgulhosos e na força impressionante dessa vontade, que vencia até a morte.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 A oferta de Alexandre Pato à família de Juliana Marins
A oferta de Alexandre Pato à família de Juliana Marins O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes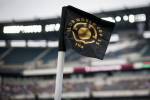 Quanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense já arrecadaram na Copa do Mundo de Clubes
Quanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense já arrecadaram na Copa do Mundo de Clubes Copa do Mundo de Clubes: o time brasileiro que pode ser campeão, segundo sites de apostas e a IA
Copa do Mundo de Clubes: o time brasileiro que pode ser campeão, segundo sites de apostas e a IA Pai de jovem que aguarda resgate na Indonésia fica preso em Lisboa após fechamento do espaço aéreo
Pai de jovem que aguarda resgate na Indonésia fica preso em Lisboa após fechamento do espaço aéreo