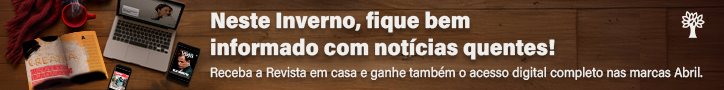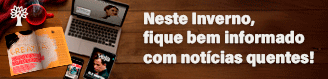No futuro, o mundo inteiro vai falar inglês? No way!
Pode parecer que o mundo caminha para o sonho antigo do idioma universal. A língua franca da vez é o inglês, que hoje está estabelecido solidamente como o segundo idioma de eleição dos terráqueos, além de ser falado pelo império americano. Praticamente obrigatório no universo dos negócios, das ciências e da internet, trata-se sem dúvida […]

 Pode parecer que o mundo caminha para o sonho antigo do idioma universal. A língua franca da vez é o inglês, que hoje está estabelecido solidamente como o segundo idioma de eleição dos terráqueos, além de ser falado pelo império americano. Praticamente obrigatório no universo dos negócios, das ciências e da internet, trata-se sem dúvida de uma língua que, se você não fala, devia falar. Ou pelo menos obrigar seu filho a estudar. Sério.
Pode parecer que o mundo caminha para o sonho antigo do idioma universal. A língua franca da vez é o inglês, que hoje está estabelecido solidamente como o segundo idioma de eleição dos terráqueos, além de ser falado pelo império americano. Praticamente obrigatório no universo dos negócios, das ciências e da internet, trata-se sem dúvida de uma língua que, se você não fala, devia falar. Ou pelo menos obrigar seu filho a estudar. Sério.
Mas será que isso quer dizer que quem fala inglês não precisa falar mais nada? Parece ser essa a crença entre os timoneiros das universidades dos EUA, que vêm fechando um departamento de língua estrangeira após o outro. Curiosamente, o ápice da arrogância linguística ocorre justamente – pela lógica da compensação? – num momento em que os sinais de decadência econômica e política do império americano se avolumam.
Num artigo publicado este ano no “New York Times”, o economista Lawrence Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA e ex-presidente de Harvard, afirmou que estudar línguas estrangeiras é, no mundo contemporâneo, uma completa perda de tempo. Talvez fosse o verniz intelectual que faltava para que seu país maciçamente monoglota afundasse sem culpa no próprio umbigo.
Só que não é nada disso, argumenta brilhantemente um artigo de fôlego (em inglês e com a ilustração acima) que acaba de ser publicado pela revista Dissent. Se por um lado seu autor, Paul Cohen, professor da Universidade de Toronto, é misericordioso a ponto de não trazer para a conversa a mais famosa batatada da carreira de Summers – a afirmação de que as mulheres se destacam menos em disciplinas científicas devido às suas aptidões genéticas mais modestas nesse campo –, não deixa pedra sobre pedra na construção ilusória de que falar uma língua basta.
Além de fazer uma defesa convincente do estudo de idiomas estrangeiros como valor humanista em si – argumento que um economista como Summers talvez não compreenda –, Cohen vai fundo na história da humanidade. Cita outras línguas que foram acometidas do mesmo delírio de domínio universal, como o latim e o francês – um morto e o outro, em pleno refluxo internacional. E lembra que o mandarim, além de ser falado por muito mais gente do que o inglês, é de longe o recordista de expansão na internet.
Segundo o autor, a atual primazia do idioma de Barack Obama é especialmente frágil por duas razões. A primeira é o fato de que a maioria de seus falantes o tem como segunda língua, o que facilita movimentos bruscos em apenas uma ou duas gerações, ao sabor de flutuações políticas, econômicas e culturais. “Pouca gente recorda hoje que a classe média de Istambul falava francês até os anos 1950”, exemplifica.
A segunda razão é que o apelo do inglês sobre os estrangeiros parece ter fundamento tão pragmático e voltado para os negócios quanto a tirada infeliz de Summers – bem distante da aura de prestígio cultural, esta mais resistente, que acompanhou e em parte ainda acompanha o latim e o francês.
Cohen manda bala: “Se, como diz o anúncio de uma escola de inglês em Paris, o único motivo de estudar a língua dos EUA é dominar ‘o inglês de Wall Street’, o que impedirá a nova geração de parisienses orientados para o mercado de preferir falar ‘o mandarim do distrito financeiro de Pequim’?” Conclusão: o melhor mesmo, no mundo globalizado, é não ser monoglota. Onde quer que o acaso o tenha levado a nascer.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 A oferta de Alexandre Pato à família de Juliana Marins
A oferta de Alexandre Pato à família de Juliana Marins Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA
Copa do Mundo de Clubes: os times brasileiros que serão eliminados nas oitavas, segundo sites de apostas e IA Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia
Como era a vida de brasileira antes de viagem à Indonésia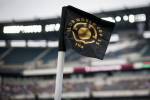 Quanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense já arrecadaram na Copa do Mundo de Clubes
Quanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense já arrecadaram na Copa do Mundo de Clubes O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes
O climão entre jornalista brasileiro e deputado dos EUA sobre ‘ditadura’ de Moraes