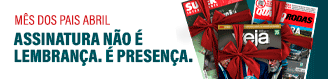Fanatismo religioso já foi uma redundância
Falar em fanatismo religioso é cometer uma redundância? Etimologicamente, sim: o termo fanático, que data de 1796 em português, é uma adaptação do adjetivo latino fanaticus, ligado ao substantivo fanum, “lugar sagrado, templo”. Na origem, todo fanático era religioso. No entanto, faz tempo que a expansão semântica da palavra tirou-a do templo para o mundo. […]

 Falar em fanatismo religioso é cometer uma redundância? Etimologicamente, sim: o termo fanático, que data de 1796 em português, é uma adaptação do adjetivo latino fanaticus, ligado ao substantivo fanum, “lugar sagrado, templo”. Na origem, todo fanático era religioso.
Falar em fanatismo religioso é cometer uma redundância? Etimologicamente, sim: o termo fanático, que data de 1796 em português, é uma adaptação do adjetivo latino fanaticus, ligado ao substantivo fanum, “lugar sagrado, templo”. Na origem, todo fanático era religioso.
No entanto, faz tempo que a expansão semântica da palavra tirou-a do templo para o mundo. Hoje, falar em fanatismo religioso é muito diferente de falar em “subir para cima”: a expressão não tem contraindicações e é funcional ao distinguir os devotos irracionais de uma religião dos extremistas políticos, dos torcedores esportivos mais entusiasmados etc.
Já no latim clássico, a ideia original – e a princípio positiva – do fanaticus como inspirado (pela chama divina) não demorou a abrir caminho para sentidos negativos que prenunciavam o futuro da palavra: como se sabe, é tênue a fronteira entre o inspirado e o possuído. Assim, ao lado de “inspirado, entusiasmado”, o dicionário Saraiva registra as acepções de “furioso, louco, delirante, extravagante”.
A palavra fanático é hoje maciçamente carregada de conotações negativas, associada a intolerância, preconceito, irracionalidade e beligerância. No entanto, tem um filhote moderno que conserva certa aura inocente: o substantivo fã, “admirador”, é provavelmente uma redução de fanático – no caso, do inglês fanatic, que tem a mesma origem latina – ocorrida em fins do século 19. Segundo o Houaiss, o termo estreou oficialmente entre nós, como “fans”, numa edição de 1934 da revista “Fon-Fon”.



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 O reencontro de elenco de ‘Curtindo a Vida Adoidado’ quase 40 anos depois
O reencontro de elenco de ‘Curtindo a Vida Adoidado’ quase 40 anos depois Carlinhos de Jesus, sobre a batalha para andar de novo: ‘Não vou largar o palco por nada’
Carlinhos de Jesus, sobre a batalha para andar de novo: ‘Não vou largar o palco por nada’ Anvisa interdita fábrica clandestina de suplementos alimentares
Anvisa interdita fábrica clandestina de suplementos alimentares A resposta da Crefisa sobre a suspensão do INSS
A resposta da Crefisa sobre a suspensão do INSS Após flagra com filho de Gugu, Cariúcha é alvo de racismo nas redes
Após flagra com filho de Gugu, Cariúcha é alvo de racismo nas redes