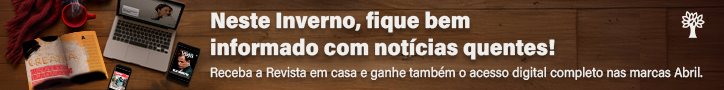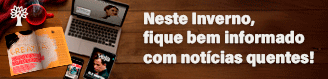Onde está a oposição que vai dizer: “isso não”? Para dizer “isso sim” já existe a situação!
Duas palavras servem para definir a democracia: “Isso não!”. Alguém poderia, “caetaneando o que há de bom”, como naquela música, indagar: “Ora, Reinaldo, coragem grande é poder dizer ‘sim’ mesmo quando se é oposição.” Pode ser. O “isso sim” só não define a democracia porque, nas ditaduras, também é permitido concordar, entenderam? O regime democrático […]
Duas palavras servem para definir a democracia: “Isso não!”. Alguém poderia, “caetaneando o que há de bom”, como naquela música, indagar: “Ora, Reinaldo, coragem grande é poder dizer ‘sim’ mesmo quando se é oposição.” Pode ser. O “isso sim” só não define a democracia porque, nas ditaduras, também é permitido concordar, entenderam? O regime democrático só é mesmo testado e aprovado quando se pode dizer “não” sem que, por isso, aquele que resiste seja privado de direitos, de opinião, de voz. Refiro-me, é óbvio, ao direito de discordar sobre o andamento das questões de natureza pública, não à transgressão das leis democraticamente pactuadas.
Volto ao tema de que tratei aqui anteontem: se, no limite, não temos uma oposição para dizer “isso não”, então temos oposição para quê? Para dizer “isso sim” já existem as forças do oficialismo. E noto: no que concerne à independência entre os Poderes da República e ao brio das instituições, mesmo legendas governistas — ou parte de seus membros — podem resistir à orientação do Executivo. Volto ao caso dos EUA: não é verdade que só os republicanos deram combate ao programa original de Barack Obama para o sistema de saúde. Uma boa parcela de democratas também se opôs.
É preciso, este é o meu ponto, entender quando se está diante de uma situação-limite. Ora, é tal a penúria das oposições na esfera federal — e não porque tenham apostado no “quanto pior, melhor” e sido derrotadas; isso não aconteceu — que lhes caberia, insisto, na eleição das respectivas Mesas do Senado e da Câmara, enviar uma mensagem clara e firme à sociedade: “Isso não!”. Ou, para aplicar o conceito à espécie: “Esses não!”.
Não é aceitável que as duas Casas do Congresso Nacional sejam presididas por lideranças que são, quando menos, controversas. Não, senhores! Não quero prejulgar ninguém e defendo o fundamento de que ninguém pode ser considerado culpado a menos que seja essa a decisão irrecorrível da Justiça. Não estava, ou não estou, querendo cassar de Renan ou de Alves um direito em exercício: presidir o Senado e a Câmara, respectivamente. Sendo quem são, tal função era apenas uma possibilidade. O que eu estava e estou a dizer é que eles não reúnem condições políticas para tanto. Não quando um é investigado por enriquecimento ilícito, e o outro pode ser réu a qualquer momento.
O exercício da política, isto é sabido, é mais amplo do que o terreno da legalidade — o que não quer dizer que eu aprove ações políticas que transgridam as leis. O que estou a afirmar é que a política lida com valores, com conceitos, com sentimentos, com aspirações que vão além do que podem prever os códigos legais. Ora, fiquemos num exemplo de apelo quase circense, embora a coisa não tenha graça nenhuma: não há lei brasileira que impeça hoje Paulo Maluf de ser deputado — e isso indica que devemos, é evidente, rever os nossos códigos, e há leis que disciplinam essa revisão. Esse mesmo Maluf, no entanto, não pode pisar em vários países porque a Interpol o trancafiaria. O fato de a legalidade permitir que seja deputado não altera a sua biografia. Continuará a ser quem é.
E é, então, de valores que estou a falar aqui. Em que terreno vai operar a oposição? “Vale a pena, Reinaldo, correr o risco de ficar fora da Mesa da Câmara só para expressar um protesto?” O Congresso tem segredos arcanos para a esmagadora maioria dos brasileiros. Ainda que milhões votem em deputados e senadores a cada quatro anos, a atividade, infelizmente, não é bem-vista. O escândalo do mensalão, por exemplo, embora tivesse como chefe da quadrilha um ministro do Estado e tenha sido operado, agora já se sabe, de dentro do Palácio do Planalto, recaiu sobre as costas do Parlamento. A imagem de Lula quase não sofreu arranhões.
Ocupar esse lugar na Mesa (ainda que ocorresse a retaliação) é mais importante do que dizer com clareza “esses não”??? Bem, não sou político. Não me obrigo, assim, a fazer escolhas que eventualmente não sejam do meu gosto em nome do realismo; não preciso fazer isso. Em muitos aspectos, reconheço, sou mais livre do que um deputado ou senador, governistas ou oposicionistas. É necessário, no entanto, que se reconheça que esse realismo bem pouco criativo das oposições não tem rendido nada de grandioso ou de útil.
Querem ver? Eu estou entre aqueles que não acreditam — e tomara que esteja errado! — que o governador Eduardo Campos (PSB), de Pernambuco, se aventure a disputar a Presidência em 2014. Ainda que não dispute, o fato é que ele está, quando menos, testando o terreno. O fato de haver um candidato do PSB à Presidência da Câmara — Júlio Delgado, de Minas — acena com algum inconformismo.
As oposições, o PSDB em particular, não poderiam, sob nenhuma hipótese, estar a reboque nesse processo. Menos, insisto neste aspecto, pelo fato de Henrique Eduardo Alves ser o candidato de Dilma do que por ser… Henrique Eduardo Alves. Tomo essa incapacidade de exercitar uma voz reconhecível como, lamento dizer, uma incapacidade de ler as aspirações de milhões de brasileiros. Esse é um dos momentos que deveriam servir para que se começasse a plasmar uma identidade não só reativa, mas também afirmativa.
É preciso dar ao eleitorado motivos para desembarcar do governismo, ora! Esses “motivos”, nas democracias, não são oferecidos apenas pela árvore dos acontecimentos. A mediocridade militante tende a reduzir tudo aos resultados disso ou daquilo: “Se a economia estiver bem, se os programas sociais funcionarem…”. Fosse assim, governos bem-sucedidos ou que exibissem bons resultados jamais perderiam eleições. A história é rica em exemplos contrários.
Ao longo desses dez anos de governo petista, as oposições, os tucanos em particular, não têm conseguido criar uma pauta que mobilize minimamente a sociedade. É difícil, dadas as circunstâncias? É, sim! Mas também se verifica que, mesmo quando há a oportunidade, o que se tem é silêncio.
Na última edição da VEJA de 2010, escrevi um longo artigo sobre o que eu entendia serem os erros da oposição e tratava de uma agenda que me parecia pertinente. Assinaria aquele texto ainda hoje. Não é um programa porque esse não é meu papel nem tenho competência pra isso. Espantava-me então, e me espanta ainda hoje, reitero, a dificuldade que têm as oposições, os tucanos em particular, de ouvir os anseios de milhões de brasileiros — anseios que, e isto é espantoso, não coincidem com os do petismo em muitos quesitos.
Se o que eu escrevo agora tiver algum sotaque populista, será por incompetência do redator, que não terá sabido se expressar. Mas lá vou eu: os tucanos precisam ser menos burocráticos, menos congressuais, menos palacianos e ouvir mais as ruas. Não! Não se trata de aderir ao palanquismo desenfreado e à retórica tola das soluções fáceis e erradas para problemas difíceis. Trata-se de entender — e se deixar mover um pouco por eles — certos anseios que estão na praça. E um deles é, sim, por mais ética na política — bandeira que o petismo, quem diria?, já empunhou.
Não será silenciando diante da ascensão de Renan e Alves ao comando do Congresso que se vai chegar a algum lugar. Um tucano mais cético, que pode me achar meio bobo por escrever essas coisas, até poderia dizer: “Ah, quem liga para isso? A maioria do povão nem sabe o que está acontecendo…”. Digamos que assim seja: ocorre que há, então, uma minoria importante que sabe. E essa minoria está levando uma banana das oposições, sem que, em razão disso, elas tenham descoberto um modo de chegar àquele tal povão…



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Primeira denúncia de fraude em emendas, acusação contra deputados do PL avança no STF
Primeira denúncia de fraude em emendas, acusação contra deputados do PL avança no STF Quem é o professor da UFRJ que atacou a família de Roberto Justus
Quem é o professor da UFRJ que atacou a família de Roberto Justus Ex-assessor que expôs Alexandre de Moraes será testemunha de defesa de bolsonarista
Ex-assessor que expôs Alexandre de Moraes será testemunha de defesa de bolsonarista Morre Julian McMahon, ator de FBI e Quarteto Fantástico, aos 56 anos
Morre Julian McMahon, ator de FBI e Quarteto Fantástico, aos 56 anos Bens de construtora falida vão a leilão judicial por R$ 120 milhões
Bens de construtora falida vão a leilão judicial por R$ 120 milhões