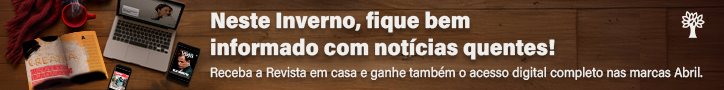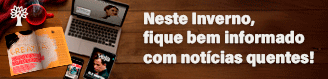“Existe algo supremamente ridículo na composição das monarquias. Uma das provas naturais mais fortes da loucura do direito hereditário dos reis é que a natureza o desmente. Caso contrário, ela não o ridicularizaria com tanta frequência, dando à humanidade asnos no lugar de leões.” Quem escreveu isso foi Thomas Payne, revolucionário e encrenqueiro em doses tão formidáveis que conseguiu se indispor com George Washington, a quem seus panfletos incendiários haviam municiado no movimento pela independência americana, e ser preso durante a Revolução Francesa. Payne tinha em mente George III, o “rei louco” que acabou perdendo a América para o improvisado exército de Washington e viveu longos períodos de pura insanidade, produto de uma rara doença sanguínea chamada porfiria.
Que a monarquia tenha sobrevivido a reis ruins é mais miraculoso que a aclamação universal conseguida em vida e turbinada na morte pela rainha Elizabeth II. O festival quase interminável de castelos majestosos, coroas suntuosas, desfiles solenes, uniformes vermelhos, dragonas douradas e corneteiros de todo tipo, em lugar das críticas previsíveis — “ostentação”, “esbanjamento”, “arcaísmo” —, aumentou um sentimento público de luto e gratidão pela rainha morta.
“As sociedades valorizam o sentimento de continuidade histórica de rainhas e reis”
Defensores da monarquia costumam dizer que países com reis ou rainhas são todos ricos, bem-sucedidos e democráticos. Dificilmente o sistema monárquico pode ser identificado como o responsável por esse sucesso, embora proporcione um sentimento de continuidade histórica que muitas sociedades valorizam. As monarquias atuais são produto de processos políticos diferentes. A da Espanha foi aprovada no plebiscito de 1976 para consolidar o fim do regime franquista. A da Suécia tem origem em um general de Napoleão. A da Holanda foi eleita pela poderosa burguesia mercantil. E a do Japão deve a sobrevivência ao general Douglas MacArthur, que, sabiamente, usou a figura do imperador Hirohito para facilitar a ocupação americana. Em vez do banco dos réus por crimes de guerra, ele ganhou o papel de monarca constitucional na carta escrita em uma semana por assessores de MacArthur. Só no Reino Unido, que não tem uma Constituição unificada, o papel do monarca é difusamente definido e influenciado por fatores subjetivos. Foi um jornalista, Walter Bagehot, fundador da revista The Economist, quem sintetizou melhor os parcos direitos reais: “O direito de ser consultado, o direito de encorajar, o direito de advertir”.
A formidável Helen Mirren encarnou no cinema uma rainha quase mais real do que Elizabeth II, surpreendida pela reação popular à morte de Diana. Nove dias antes da rainha, morreu Mikhail Gorbachev, um homem que realmente mudou a história. Um único líder estrangeiro foi a seu enterro, o húngaro Viktor Orbán, que era um jovem agitador democrata quando o comunismo ruiu. Não ter de lidar com a crua realidade da política ajudou Elizabeth a pairar acima do bem e do mal e fortalecer a popularidade de um regime que o sem graça e sem carisma Charles III agora tem de tocar para a frente. “O longo hábito de pensar que uma coisa não é errada lhe confere a aparência superficial de ser certa”, avisou Tom Payne.
Publicado em VEJA de 21 de setembro de 2022, edição nº 2807



 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 A revelação de João Vicente de Castro sobre Sandy
A revelação de João Vicente de Castro sobre Sandy Familiares de general preso reclamam de abandono e pressionam cúpula do Exército
Familiares de general preso reclamam de abandono e pressionam cúpula do Exército Com três esposas, professor da UFBA desafia conceito de poliamor
Com três esposas, professor da UFBA desafia conceito de poliamor Jogos de hoje, domingo, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Jogos de hoje, domingo, 29 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários O que dizem especialistas em montanhismo sobre o caso de Juliana Marins?
O que dizem especialistas em montanhismo sobre o caso de Juliana Marins?